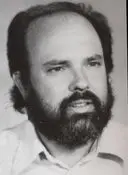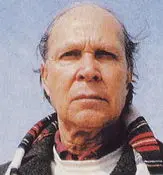António Ramos Rosa
António Victor Ramos Rosa, foi um poeta, português, tradutor e desenhador. Ramos Rosa estudou em Faro, não tendo acabado o ensino secundário por questões de saúde.
1924-10-17 Faro
2013-09-23 Lisboa
1151710
5
293
A Transparência
a Maria da Glória Padrão
Desejava o fogo alto da manhã verde. Mas a terra estava rígida e negra como um cadáver. A minha ficção tinha de ser breve, entrecortada, mas de tal maneira sensível que pudesse despertar alguém ou alguma presença — eu ou a figura do Livro eternamente inacessível? O céu vazio e ilimitado não prometia nada. As casas teriam talvez habitantes mas apresentavam-se-me desertas, baixas e como devastadas pelo tempo e pela vacuidade do céu. Olhava as ruas e as encruzilhadas e era muito viva a sensação de uma funda frescura vinda da folhagem do arvoredo próximo. A memória de uma límpida manhã de inverno de algum modo avivava esta sensação a um tempo pungente e revivificante. Chegar a casa, poder ainda escrever a ficção impossível (impossível devido ao próprio vazio que a exigia), iniciar o texto enfim. A minha casa está só, e já os amigos raramente me visitam, observando cada vez mais o meu gosto pela solidão. Esta solidão é o meu estigma, a marca da vida no limiar da morte. Mas também a marca da morte. Sinto que esta vida é recente, uma vida de renascimento em que cada dia conta, inevitável, breve e lúcido como se a morte me rechaçasse todas as manhãs para a soberania de uma ilimitada transparência. E assim vivo pela morte e pela vida. Esta transparência é de uma evidência de assombro mas à luz do quotidiano é invisível e impenetrável. Assim, tudo passa por mim com a igualdade de ser tal qual é. Arranquei ou arrancaram-me todas ou quase todas as armaduras e resguardos. É como não ter ombros nem omoplatas. Mal sinto o corpo e no entanto sinto-me solidário, obliquamente unido a todo o ser vivente, quer ele me pareça imune e alheio, quer indefeso e ameaçado. O imperativo já não é viver mas escrever para viver e viver para escrever. Vivo como se não tivesse dito jamais uma palavra ou como se as que escrevi para sempre se tivessem desvanecido. Como inaugurar esta manhã verde que é já o princípio de uma promessa no princípio do texto? A terra está cada vez mais negra como um cadáver. Todos os dias os mortos vêm tornar mais negro o húmus da terra. Mas são os mortos que aligeiram a terra também. Esta brisa fina, subtil que mal perpassa, este esvoaçar imperceptível de algo que já não lembra nada e é a memória esparsa de tudo, é o espaço neutro que a morte filtrou sem deixar a sua marca negativa. Por isso pode-se viajar pela cidade vendo os namorados dançar e beijarem-se livremente nas avenidas. Também eu me esqueço quase desta devoração íntima, pois a minha transparência irisa-se com a dança dos jovens e os ruídos alegres da cidade. Sinto que os contrários se reúnem e algo vem à tona, que não é morte nem vida, mas a invisível flor do vazio. A nenhuma outra exigência me submeto, não escrevo senão para viver esses momentos em que respiro como se nunca tivesse nascido ou começasse de novo a viver noutra dimensão — diáfana mas compacta e tão estranhamente imponderável que o esplendor de súbito apaga ou dilui as fugidias sombras do tempo.
Desejava o fogo alto da manhã verde. Mas a terra estava rígida e negra como um cadáver. A minha ficção tinha de ser breve, entrecortada, mas de tal maneira sensível que pudesse despertar alguém ou alguma presença — eu ou a figura do Livro eternamente inacessível? O céu vazio e ilimitado não prometia nada. As casas teriam talvez habitantes mas apresentavam-se-me desertas, baixas e como devastadas pelo tempo e pela vacuidade do céu. Olhava as ruas e as encruzilhadas e era muito viva a sensação de uma funda frescura vinda da folhagem do arvoredo próximo. A memória de uma límpida manhã de inverno de algum modo avivava esta sensação a um tempo pungente e revivificante. Chegar a casa, poder ainda escrever a ficção impossível (impossível devido ao próprio vazio que a exigia), iniciar o texto enfim. A minha casa está só, e já os amigos raramente me visitam, observando cada vez mais o meu gosto pela solidão. Esta solidão é o meu estigma, a marca da vida no limiar da morte. Mas também a marca da morte. Sinto que esta vida é recente, uma vida de renascimento em que cada dia conta, inevitável, breve e lúcido como se a morte me rechaçasse todas as manhãs para a soberania de uma ilimitada transparência. E assim vivo pela morte e pela vida. Esta transparência é de uma evidência de assombro mas à luz do quotidiano é invisível e impenetrável. Assim, tudo passa por mim com a igualdade de ser tal qual é. Arranquei ou arrancaram-me todas ou quase todas as armaduras e resguardos. É como não ter ombros nem omoplatas. Mal sinto o corpo e no entanto sinto-me solidário, obliquamente unido a todo o ser vivente, quer ele me pareça imune e alheio, quer indefeso e ameaçado. O imperativo já não é viver mas escrever para viver e viver para escrever. Vivo como se não tivesse dito jamais uma palavra ou como se as que escrevi para sempre se tivessem desvanecido. Como inaugurar esta manhã verde que é já o princípio de uma promessa no princípio do texto? A terra está cada vez mais negra como um cadáver. Todos os dias os mortos vêm tornar mais negro o húmus da terra. Mas são os mortos que aligeiram a terra também. Esta brisa fina, subtil que mal perpassa, este esvoaçar imperceptível de algo que já não lembra nada e é a memória esparsa de tudo, é o espaço neutro que a morte filtrou sem deixar a sua marca negativa. Por isso pode-se viajar pela cidade vendo os namorados dançar e beijarem-se livremente nas avenidas. Também eu me esqueço quase desta devoração íntima, pois a minha transparência irisa-se com a dança dos jovens e os ruídos alegres da cidade. Sinto que os contrários se reúnem e algo vem à tona, que não é morte nem vida, mas a invisível flor do vazio. A nenhuma outra exigência me submeto, não escrevo senão para viver esses momentos em que respiro como se nunca tivesse nascido ou começasse de novo a viver noutra dimensão — diáfana mas compacta e tão estranhamente imponderável que o esplendor de súbito apaga ou dilui as fugidias sombras do tempo.
1078
0
Mais como isto
Ver também
 Escritas.org
Escritas.org