Procurar Fala como homem letra
86 resultados
nas paredes dos bares á; porta dos edifícios públicos nas janelas dos autocarros
mesmo naquele muro arruinado por entre anúncios de aparelhos de rádio e detergentes
na vitrine da pequena loja onde não entra ninguém
no átrio da estação de caminhos de ferro que foi o lar da nossa esperança de fuga
um cartaz denuncia o nosso amor
Em letras enormes do tamanho
do medo da solidão da angústia
um cartaz denuncia que um homem e uma mulher
se encontraram num bar de hotel
numa tarde de chuva
entre zunidos de conversa
e inventaram o amor com carácter de urgência
deixando cair dos ombros o fardo incómodo da monotonia quotidiana
Um homem e uma mulher que tinham olhos e coração e fome de ternura
e souberam entender-se sem palavras inúteis
Apenas o silêncio A descoberta A estranheza
de um sorriso natural e inesperado
Não saíram de mãos dadas para a humidade diurna
Despediram-se e cada um tomou um rumo diferente
embora subterraneamente unidos pela invenção conjunta
de um amor subitamente imperativo
Um homem e uma mulher um cartaz de denúncia
colado em todas as esquinas da cidade
A rádio já falou A TV anuncia
iminente a captura A policia de costumes avisada
procura os dois amantes nos becos e nas avenidas
Onde houver uma flor rubra e essencial
é possível que se escondam tremendo a cada batida na porta fechada para o mundo
É preciso encontrá-los antes que seja tarde
Antes que o exemplo frutifique
Antes que a invenção do amor se processe em cadeia
Há pesadas sanções para os que auxiliarem os fugitivos
Chamem as tropas aquarteladas na província
Convoquem os reservistas os bombeiros os elementos da defesa passiva
Todos
Decrete-se a lei marcial com todas as consequências
O perigo justifica-o
Um homem e uma mulher
conheceram-se amaram-se perderam-se no labirinto da cidade
É indispensável encontrá-los dominá-los convencê-los
antes que seja demasiado tarde
e a memória da infância nos jardins escondidos
acorde a tolerância no coração das pessoas
Fechem as escolas
Sobretudo protejam as crianças da contaminação
uma agência comunica que algures ao sul do rio
um menino pediu uma rosa vermelha
e chorou nervosamente porque lha recusaram
Segundo o director da sua escola é um pequeno triste
Inexplicavelmente dado aos longos silêncios e aos choros sem razão
Aplicado no entanto Respeitador da disciplina
Um caso típico de inadaptação congénita disseram os psicólogos
Ainda bem que se revelou a tempo
Vai ser internado
e submetido a um tratamento especial de recuperação
Mas é possível que haja outros. É absolutamente vital
que o diagnóstico se faça no período primário da doença
E também que se evite o contágio com o homem e a mulher
de que fala no cartaz colado em todas as esquinas da cidade
Está em jogo o destino da civilização que construímos
o destino das máquinas das bombas de hidrogénio
das normas de discriminação racial
o futuro da estrutura industrial de que nos orgulhamos
a verdade incontroversa das declarações políticas
Procurem os guardas dos antigos universos concentracionários
precisamos da sua experiência onde quer que se escondam
ao temor do castigo
Que todos estejam a postos
Vigilância é a palavra de ordem
Atenção ao homem e á; mulher de que se fala nos cartazes
À mais ligeira dúvida não hesitem denunciem
Telefonem á; polícia ao comissariado ao Governo Civil
não precisam de dar o nome e a morada
e garante-se que nenhuma perseguição será movida
nos casos em que a denúncia venha a verificar-se falsa
Organizem em cada bairro em cada rua em cada prédio
comissões de vigilância. Está em jogo a cidade
o país a civilização do ocidente
esse homem e essa mulher têm de ser presos
mesmo que para isso tenhamos de recorrer á;s medidas mais drásticas
Por decisão governamental estão suspensas as liberdades individuais
a inviolabilidade do domicílio o habeas corpus o sigilo da correspondência
Em qualquer parte da cidade um homem e uma mulher amam-se ilegalmente
espreitam a rua pelo intervalo das persianas
beijam-se soluçam baixo e enfrentam a hostilidade nocturna
É preciso encontrá-los
É indispensável descobri-los
Escutem cuidadosamente a todas as portas antes de bater
É possível que cantem
mas defendam-se de entender a sua voz
Alguém que os escutou
deixou cair as armas e mergulhou nas mãos o rosto banhado de lágrimas
E quando foi interrogado em Tribunal de Guerra
respondeu que a voz e as palavras o faziam feliz
lhe lembravam a infância
Campos verdes floridoságua simples correndo A brisa das montanhas
Foi condenado á; morte é evidente
É preciso evitar um mal maior
Mas caminhou cantando para o muro da execução
foi necessário amordaçá-lo e mesmo assim desprendia-se dele
um misterioso halo de uma felicidade incorrupta
Impõe-se sistematizar as buscas Não vale a pena procurá-los
nos campos de futebol no silêncio das igrejas nas boîtes com orquestra privativa
Não estarão nunca aí
Procurem-nos nas ruas suburbanas onde nada acontece
A identificação é fácil
Onde estiverem estará também pousado sobre a porta
um pássaro desconhecido e admirável
ou florirá na soleira a mancha vegetal de uma flor luminosa
Será então aí
Engatilhem as armas invadam a casa disparem á; queima roupa
Um tiro no coração de cada um
Vê-los-ão possivelmente dissolver-se no ar Mas estará completo o esconjuro
e podereis voltar alegremente para junto dos filhos da mulher
Mais ai de vós se sentirdes de súbito o desejo de deixar correr o pranto
Quer dizer que fostes contagiados Que estais também perdidos para nós
É preciso nesse caso ter coragem para desfechar na fronte
o tiro indispensável
Não há outra saída A cidade o exige
Se um homem de repente interromper as pesquisas
e perguntar quem é e o que faz ali de armas na mão
já sabeis o que tendes a fazer Matai-o Amigo irmão que seja
matai-o Mesmo que tenha comido á; vossa mesa e crescido a vosso lado
matai-o Talvez que ao enquadrá-lo na mira da espingarda
os seus olhos vos fitem com sobre-humana náusea
e deslizem depois numa tristeza líquida
até ao fim da noite Evitai o apelo a prece derradeira
um só golpe mortal misericordioso basta
para impor o silêncio secreto e inviolável
Procurem a mulher o homem que num bar
de hotel se encontraram numa tarde de chuva
Se tanto for preciso estabeleçam barricadas
senhas salvo-condutos horas de recolher
censura prévia á; Imprensa tribunais de excepção
Para bem da cidade do país da cultura
é preciso encontrar o casal fugitivo
que inventou o amor com carácter de urgência
Os jornais da manhã publicam a notícia
de que os viram passar de mãos dadas sorrindo
numa rua serena debruada de acácias
Um velho sem família a testemunha diz
ter sentido de súbito uma estranha paz interior
uma voz desprendendo um cheiro a primavera
o doce bafo quente da adolescência longínqua
No inquérito oficial atónito afirmou
que o homem e a mulher tinham estrelas na fronte
e caminhavam envoltos numa cortina de música
com gestos naturais alheios Crê-se
que a situação vai atingir o climax
e a polícia poderá cumprir o seu dever

Olho pedra, vejo pedra mesmo.
O mundo, cheio de departamentos,
não é a bola bonita caminhando solta no espaço.
Eu fico feia, olhando espelhos com provocação,
batendo a escova com força nos cabelos,
sujeita à crença em presságios.
Viro péssima cristã.
Todo dia a essa hora alguém soca um pilão:
em vem o Manquitola, eu penso e entristeço de medo.
‘Que dia é hoje?’, a mãe fala,
‘sexta-feira é mistérios dolorosos.’
A lamparina bruxuleia sua luz já humílima,
estreita de vez o pretume da noite.
Comparece, no acalmado da hora,
o zoado da fábrica em destacado contínuo.
E meu cio que não cessa,
continuo indo ao jardim atrair borboletas
e a lembrança dos mortos.
Me apaixono todo dia,
escrevo cartas horríveis, cheias de espasmos,
como se tivesse um piano e olheiras,
como se me chamasse Ana da Cruz.
Fora os olhos dos retratos,
ninguém sabe o que é a morte.
Sem os trevos no jardim,
não sei se escreveria esta escritura,
ninguém sabe o que é um dom.
Permaneço no alpendre olhando a rua,
vigiando o céu entristecer de crepúsculo.
Quando eu crescer vou escrever um livro:
‘Pirilampos é vaga-lume?’, me perguntavam admirados.
Sobre um resto de brasas,
o feijão incha na panela preta.
Um pequeno susto, ia longe a cauda da reza.
Os pintos franguinhos
não cabiam todos debaixo da galinha,
ela repiava em cuidados.
Este conto ameaça parar, represado de pedras.
Só quaresmal ninguém suporta ser.
Uma dor tão roxa desmaia,
uma dor tão triste não há.
A cantina das escolas
e a ginástica musicada transmitida no rádio
sustêm a ordem do mundo, à revelia de mim.
Mesmo os grossos nódulos extraídos do seio,
o cobalto e seu raio sobre a carne em dores,
mesmo esses sobre os quais eu lançara a maldição:
não lhes farei um verso; mesmo esses
acomodam-se entre as achas de lenha,
querem um lugar na crucificação.
Foi cheia de soberba que comecei esta carta,
sobrestimando meu poder de gritar por socorro,
tentada a acreditar que algumas coisas,
de fato, não têm páscoa.
Mas o sono venceu-me e esta história dormiu,
uma letra depois da outra. Até que o sol nasceu
e as moscas acordaram.
A vizinha passou mal dos nervos
e me chamaram do muro, com urgência.
A morte deixa retratos, peças de roupa,
remédios pela metade, insetos desorientados
no mar de flores que recobre o corpo.
Este poema visgou-se. Não se despega de mim.
Enfaro dele, de sua cabeça grande;
pego a sacola de compras,
vou passear no mercado.
Mas lá está ele, os cuspos grossos de pinga,
os calcanhares rachados das mulheres,
tostões na palma da mão.
Não é uma vida exemplar esta que tira de um velho
o doce modo de ser um homem com netos.
Minha tristeza nunca foi mortal,
renasce a cada manhã.
O óbito não obsta o repinicado da chuva na sombrinha,
as gotículas,
incontáveis como constelações.
Vou atrás do pio cortejo,
misturo-me às santas mulheres,
enxugo a Sagrada Face.
“Vós todos que passais, olhai e vede,
se há dor tão grande como a minha dor.”
‘Que dia é hoje?’, a mãe fala,
‘domingo é mistérios gloriosos.’
O que tem corpo é a alegria.
Só ela fica pendida,
de olhos turvos e boca.
Peito e membros magoados.

que não é meu de batismo ou de cartório,
um nome... estranho.
Meu blusão traz lembrete de bebida
que jamais pus na boca, nesta vida.
Em minha camiseta, a marca de cigarro
que não fumo, até hoje não fumei.
Minhas meias falam de produto
que nunca experimentei,
mas são comunicados a meus pés.
Meu tênis é proclama colorido
de alguma coisa não provada
por este provador de longa idade.
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro,
minha gravata e cinto e escova e pente,
meu copo, minha xícara,
minha toalha de banho e sabonete,
meu isso, meu aquilo,
desde a cabeça ao bico dos sapatos,
são mensagens,
letras falantes,
gritos visuais,
ordens de uso, abuso, reincidência,
costume, hábito, premência,
indispensabilidade,
e fazem de mim homem-anúncio itinerante,
escravo da matéria anunciada.
Estou, estou na moda.
É doce estar na moda,
ainda que a moda
seja negar minha identidade,
trocá-la por mil, açambarcando
todas as marcas registradas,
todos os logotipos do mercado.
Com que inocência demito-me de ser
eu que antes era e me sabia
tão diverso de outros, tão mim mesmo,
ser pensante, sentinte e solidário
com outros seres diversos e conscientes
de sua humana, invencível condição.
Agora sou anúncio,
ora vulgar ora bizarro,
em língua nacional ou em qualquer língua
(qualquer, principalmente).
E nisto me comprazo, tiro glória
de minha anulação.
Não sou — vê lá — anúncio contratado.
Eu é que mimosamente pago
para anunciar, para vender
em bares festas praias pérgulas piscinas,
e bem à vista exibo esta etiqueta
global no corpo que desiste
de ser veste e sandália de uma essência
tão viva, independente,
que moda ou suborno algum a compromete.
Onde terei jogado fora
meu gosto e capacidade de escolher,
minhas idiossincrasias tão pessoais,
tão minhas que no rosto se espelhavam,
e cada gesto, cada olhar,
cada vinco da roupa
resumia uma estética?
Hoje sou costurado, sou tecido,
sou gravado de forma universal,
saio da estamparia, não de casa,
da vitrina me tiram, recolocam,
objeto pulsante mas objeto
que se oferece como signo de outros
objetos estáticos, tarifados.
Por me ostentar assim, tão orgulhoso
de ser não eu, mas artigo industrial,
peço que meu nome retifiquem.
Já não me convém o título de homem.
Meu nome novo é coisa.
Eu sou a coisa, coisamente.

a macaca parece mulher
algumas pessoas se parecem
outras pessoas se parecem com outras
as macacas de auditório são meninas
as crianças parecem micos
os papagaios falam o que pessoas falam
mas não parecem pessoas
para os cegos os papagaios se parecem pessoas
o homem veio do macaco
mas antes o macaco veio do cavalo
e o cavalo veio do gato
então o homem veio do gato
o gato veio do coelho
que veio do sapo que veio do lagarto
então o homem veio do lagarto
o lagarto veio da borboleta
que veio do pássaro que veio do peixe
pessoas se parecem com peixes
quando nadam
pessoas se parecem com peixes
quando olham o vazio
pessoas se parecem com peixes
quando ainda não nasceram
pessoas se parecem com peixes
quando fazem bolas de chiclete
macacos desaparecem
peixes parecem peixes
micróbios não aparecem
todos se parecem
pois se diferem
In: ANTUNES, Arnaldo. Nome. São Paulo: s.n., 1993
NOTA: Letra e música de Arnaldo Antune

de coração em África
Saudades longas de palmeiras vermelhas verdes amarelas
tons fortes da paleta cubista
que o Sl sensual pintou na paisagem;
saudade sentida de coração em África
ao atravessar estes campos de trigo sem bocas
das ruas sem alegrias com casas cariadas
pela metralha míope da Europa e da América
da Europa trilhada por mim Negro de coração em Á'frica.
De coração em África na simples leitura dominical
dos periódicos cantando na voz ainda escaldante da tinta
e com as dedadas de miséria dos ardinas das cities boulevards e baixas da Europa
trilhada por mim Negro e por ti ardina
cantando dizia eu em sua voz de letras as melancolias do orçamento que não equilibra
do Benfica venceu o Sporting ou não.
Ou antes ou talvez seja que desta vez vai haver guerra
para que nasçam flores roxas de paz
com fitas de veludo e caixões de pinho:
Oh as longas páginas do jornal do mundo
são folhas enegrecidas de macabro blue
com mourarias de facas e guernicas de toureiros.
Em três linhas (sentidas saudades de África) -
Mac Gee cidadão da América e da democracia
Mac Gee cidadão negro e da negritude
Mac Gee cidadão Negro da América e do Mundo Negro
Mac Gee fulminado pelo coração endurecido feito cadeira eléctrica
(do cadáver queimado de Mac Gee do seu coração em África e sempre vivo
floriram flores vermelhas flores vermelhas flores vermelhas
e também azuis e também verdes e também amarelas
na gama policroma da verdade do Negro
da inocência de Mac Gee) -
três linhas no jornal como um falso cartão de pêsames.
Caminhos trilhados na Europa
de coração em África.
De coração em África com o grito seiva bruta dos poemas de Guillen
de coração em África com a impetuosidade viril de I too am America
de coração em África com as árvores renascidas em todas estações nos belos
poemas de Diop
de coração em África nos rios antigos que o Negro conheceu e no mistério do
Chaka-Senghor
de coração em África contigo amigo Joaquim quando em versos incendiários
cantaste a África distante do Congo da minha saudade do Congo de coração em
África,
de coração em África ao meio dia do dia de coração em África
com o Sol sentado nas delicias do zénite
reduzindo a pontos as sombras dos Negros
amodorrando no próprio calor da reverberação os mosquitos da nocturna
picadela.
De coração em África em noites de vigília escutando o olho mágico do rádio
e a rouquidão sentimento das inarmonias de Armstrong.
De coração em África em todas as poesias gregárias ou escolares que zombam
e zumbem sob as folhas de couve da indiferença
mas que tem a beleza das rodas de crianças com papagaios garridos
e jogos de galinha branca vai até França
que cantam as volutas dos seios e das coxas das negras e mulatas
de olhos rubros como carvões verdes acesos.
De coração em África trilho estas ruas nevoentas da cidade
de África no coração e um ritmo de be bop nos lábios
enquanto que à minha volta se sussurra olha o preto (que bom) olha
um negro (óptimo), olha um mulato (tanto faz)
olha um moreno (ridículo)
e procuro no horizonte cerrado da beira-mar
cheiro de maresias distantes e areias distantes
com silhuetas de coqueiros conversando baixinho a brisa da tarde.
De coração em África na mão deste Negro enrodilhado e sujo de beira-cais
vendendo cautelas com a incisão do caminho da cubata perdida na carapinha
alvinitente;
de coração em África com as mãos e os pés trambolhos disformes
e deformados como os quadros de Portinari dos estivadores do mar
e dos meninos ranhosos viciados pelas olheiras fundas das fomes de Pomar
vou cogitando na pretidão do mundo que ultrapassa a própria cor da pele
dos homens brancos amarelos negros ou as riscas
e o coração entristece a beira-mar da Europa
da Europa por mim trilhada de coração em África
e chora fino na arritmia de um relójio cuja corda vai estalar
soluça a indignação que fez os homens escravos dos homens
mulheres escravas de homens crianças escravas de homens negros escravos dos homens
e também aqueles de que ninguém fala e eu Negro não esqueço
como os pueblos e os xavantes os esquimós os ainos eu sei lá
que são tantos e todos escravos entre si.
Chora coração meu estala coração meu enternece-te meu coração
de uma só vez (oh orgão feminino do homem)
de uma só vez para que possa pensar contigo em África
na esperança de que para o ano vem a monção torrencial
que alagará os campos ressequidos pela amargura da metralha
e adubados pela cal dos ossos de Taszlitzki
na esperança de que o Sol há-de prenhar as espigas de trigo para os meninos viciados
e levará milho às cabanas destelhadas do último rincão da Terra
distribuirá o pão o vinho e o azeite pelos aliseos;
na esperança de que as entranhas hiantes de um menino antipoda
haja sempre uma túlipa de leite ou uma vaca de queijo que lhe mitigue a sede da existência.
Deixa-me coração louco
deixa-me acreditar no grito de esperança lançado pela paleta viva de Rivera
e pelos oceanos de ciclones frescos das odes de Neruda;
deixa-me acreditar que do desespero másculo de Picasso sairão pombas
que como nuvens voarão os céus do mundo de coração em África.

Há que se ter cautela com esta gente que menstrua...
Imagine uma cachoeira às avessas:
cada ato que faz, o corpo confessa.
Cuidado, moço
às vezes parece erva, parece hera
cuidado com essa gente que gera
essa gente que se metamorfoseia
metade legível, metade sereia
Barriga cresce, explode humanidades
e ainda volta pro lugar que é o mesmo lugar
mas é outro lugar, aí é que está:
cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita...
Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente
que vai cair no mesmo planeta panela.
Cuidado com cada letra que manda pra ela!
Tá acostumada a viver por dentro,
transforma fato em elemento
a tudo refoga, ferve, frita
ainda sangra tudo no próximo mês.
Cuidado moço, quando cê pensa que escapou
é que chegou a sua vez!
Porque sou muito sua amiga
é que tô falando na "vera"
conheço cada uma, além de ser uma delas.
Você que saiu da fresta dela
delicada força quando voltar a ela.
Não vá sem ser convidado
ou sem os devidos cortejos...
Às vezes pela ponte de um beijo
já se alcança a "cidade secreta"
a Atlântida perdida.
Outras vezes várias metidas e mais se afasta dela.
Cuidado, moço, por você ter uma cobra entre as pernas
cai na condição de ser displicente
diante da própria serpente.
Ela é uma cobra de avental.
Não despreze a meditação doméstica.
É da poeira do cotidiano
que a mulher extrai filosofia
cozinhando, costurando
e você chega com a mão no bolso
julgando a arte do almoço: Eca!...
Você que não sabe onde está sua cueca?
Ah, meu cão desejado
tão preocupado em rosnar, ladrar e latir
então esquece de morder devagar
esquece de saber curtir, dividir.
E aí quando quer agredir
chama de vaca e galinha.
São duas dignas vizinhas do mundo daqui!
O que você tem pra falar de vaca?
O que você tem eu vou dizer e não se queixe:
VACA é sua mãe. De leite.
Vaca e galinha...
ora, não ofende. Enaltece, elogia:
comparando rainha com rainha
óvulo, ovo e leite
pensando que está agredindo
que tá falando palavrão imundo.
Tá, não, homem.
Tá citando o princípio do mundo!

não se comemora.
Escusa de levar-te esta gravata.
Já não tens roupa, nem precisas.
Numa toalha no espaço há o jantar,
mas teu jantar é o silêncio, tua fome não come.
Não mais te peço a mão enrugada
para beijar-lhe as veias grossas.
Nem procuro nos olhos esfriados
aquela interrogação: está chegando?
Em verdade paras te de fazer anos.
Não envelheces. O último retrato
vale para sempre. É um homem cansado
mas fiel: carteira de identidade.
Tua imobilidade é perfeita. Embora a chuva,
o desconforto deste chão. Mas sempre amaste
o duro, o relento, a falta. O frio sente-se
em "mim, que te visito. Em ti, a calma.
Como compraste calma? Não a tinhas.
Como aceitaste a noite? Madrugavas.
Teu cavalo corta o ar, guardo uma espora
de tua bota, um grito de teus lábios,
sinto em mim teu copo cheio, tua faca,
tua pressa, teu estrondo. . . encadeados.
Mas teu segredo não descubro.
Não está nos papéis
do cofre. Nem nas casas que habitaste.
No casarão azul
vejo a fieira de quartos sem chave, ouço teu passo
noturno, teu pigarro, e sinto os bois
e sinto as tropas que levavas pela Mata
e sinto as eleições (teu desprezo) e sinto a Câmara
e passos na escada, que sobem,
e soldados que sobem, vermelhos,
e armas que te vão talvez matar,
mas que não ousam.
Vejo, no rio, uma canoa,
nela três homens.
“Inda que mal pergunte, o coronel sabe nadar?
Porque esta canoa, louvado Deus, pode virar,
e sua criação nunca mais que o senhor há de encontrar.”
Tua mão saca do bolso uma coisa. Tua voz vai à frente.
"Coronel, me desculpe, não se pode caçoar?"
Vejo-te mais longe. Ficaste pequeno.
Impossível reconhecer teu rosto, mas sei que és tu.
Vem da névoa, das memórias, dos baús atulhados,
da monarquia, da escravidão, da tirania familiar.
És bem frágil e a escola te engole.
Faria de ti talvez um farmacêutico ranzinza, um doutor confuso.
Para começar: uma dúzia de bolos!
Quem disse?
Entraste pela porta, saíste pela janela
— conheceu, seu mestre? — quem quiser que conte outra,
mas tu ganhavas o mundo e nele aprenderias tua sucinta gramática,
a mão do mundo pegaria de tua mão e desenharia tua letra firme,
o livro do mundo te entraria pelos olhos e te imprimiria sua completa e clara ciência,
mas não descubro teu segredo.
É talvez um erro amarmos assim nossos parentes.
A identidade do sangue age como cadeia,
fora melhor rompê-la. Procurar meus parentes na Ásia,
onde o pão seja outro e não haja bens de família a preservar.
Por que ficar neste município, neste sobrenome?
Taras, doenças, dívidas: mal se respira no sótão.
Quisera abrir um buraco, varar o túnel, largar minha terra,
passando por baixo de seus problemas e lavouras, da eterna agência do correio,
e inaugurar novos antepassados em uma nova cidade.
Quisera abandonar-te, negar-te, fugir-te,
mas curioso:
já não estás, e te sinto,
.não me falas, e te converso.
E tanto nos entendemos, no escuro,
no pó, no sono.
E pergunto teu segredo.
Não respondes. Não o tinhas.
Realmente não o tinhas, me enganavas?
Então aquele maravilhoso poder de abrir garrafas sem saca-rolha,
de desatar nós, atravessar rios a cavalo, assistir, sem
[chorar, morte de filho,expulsar assombrações apenas com teu passo duro,
o gado que sumia e voltava, embora a peste varresse as fazendas,
o domínio total sobre irmãos, tios, primos, camaradas,
[caixeiros, fiscais do governo,
[beatas, padres, médicos, men-
[digos, loucos mansos, loucos
[agitados, animais, coisas:então não era segredo?
E tu que me dizes tanto
disso não me contas nada.
Perdoa a longa conversa.
Palavras tão poucas, antes!
É certo que intimidavas.
Guardavas talvez o amor
em tripla cerca de espinhos.
Já não precisas guardá-lo.
No escuro em que fazes anos,
no escuro,
é permitido sorrir.

No organismo, que a morte gulosa andou rondando, como uma fera ronda uma presa cobiçada, a vida reponta aos poucos, num brando anseio de maré que sobe; nos olhos, em que já tinham começado a crescer as névoas do aniquilamento, acorda vagamente a luz da saúde; o sangue começa a transparecer na face, ainda pálida — como uma nuvem cor-de-rosa sob a água límpida de um rio; todo o corpo desperta do torpor prolongado; a voz principia a calor e animação; o sorriso reaparece à flor da adquirir boca; o apetite renasce...
Mas as pessoas amigas, que ansiosamente acompanham esse moroso ressurgimento do enfermo, ainda têm desconfiança e susto. Não venha uma recaída estragar todo esse esforço do organismo! não seja essa melhora uma cilada da Morte insidiosa, que, às vezes, gosta de brincar com a sua presa, antes de a tragar, como um gato cruelmente se diverte com o ratinho prisioneiro, fingindo soltá-lo, fingindo distraí-lo, dando-lhe segundos de enganadora esperança, antes de lhe arrancar o último anseio de vida com uma dentada misericordiosa! E esse receio é um sobressalto constante, uma contínua preocupação...
Não de outro modo, os cariocas (os verdadeiros, os legítimos — porque há muitos cariocas que só se preocupam com a beleza e a saúde de... Paris) acompanham, atentamente, interessadamente, carinhosamente, e assustadamente, a convalescença do Rio de Janeiro — pobre e bela cidade, que quase morreu de lazeira, e, por um milagre mil vezes bendito, foi arrancada às garras da morte.
Os médicos ainda se não despediram. A moléstia foi longa e séria — e o tratamento também há de ser sério e longo. Mas a cura parece, agora, infalível. A cidade engorda, ganha cores, faz-se mais bela de dia em dia. E, a cada novo sinal de saúde, a cada novo progresso da beleza, a cada novo sintoma de renascimento que lhe notam — os seus amigos exultam, e sentem a alma alagada de uma ventura infinita...
Agora, o que está particularmente interessando os cariocas é a rapidez maravilhosa com que se vai erguendo o majestoso pavilhão São Luís, no fim da Avenida.
A qualquer hora do dia ou da noite, quando por ali passa um bonde, há dentro dele um rebuliço. Interrompe-se a leitura dos jornais, suspendem-se as conversas, e todos os olhares se fixam na formosa construção, que está pouco a pouco subindo, esplêndida e altiva, da casca dos andaimes, já revelando a suprema beleza em que daqui a pouco pompeará.
As velhas casas de em torno ruem demolidas. Rasga-se ali, no coração da cidade, um imenso espaço livre, para que mais formoso avulte o palácio. No alto das cúpulas imponentes, agitam-se os operários como formigas, completando a toilette do monumento. E a cidade não pensa em outra cousa. Ficará pronto ou não, em julho, o palácio? Ferve a discussão, chocam-se as opiniões, fazem-se as apostas — porque o carioca é um homem que nada faz sem aposta e sem jogo.
Sim! o Pavilhão ficará pronto! será dignamente hospedada a Conferência Pan-Americana, e aqueles que, por birra ou vício, apostaram pela não-conclusão do trabalho, hão de perder o seu dinheiro e ficar corridos de vergonha... E, por felicidade, não é apenas materialmente que a cidade convalesce: é moralmente também. A população naturalmente vai perdendo certos hábitos e certos vícios, cuja abolição parecia difícil, se não impossível.
Verdade é que, para outros vícios, é ainda necessária a intervenção da autoridade, com o argumento sempre poderoso e decisivo da multa... Mas, voluntária ou obrigada, espontânea ou forçada, o essencial é que a reforma dos costumes se opere.
Ainda ontem, a prefeitura publicou um edital, proibindo, sob pena de multa, "a exposição de roupas, e outros objetos de uso doméstico, nas portas, janelas e mais dependências das habitações que tenham face na via pública...".
Era esse, e ainda é, um dos mais feios hábitos do Rio de Janeiro...
Já não falo das casas humildes, nos bairros modestos da cidade. Que há de fazer a gente pobre, que mora em casinhas sem quintal, senão fazer da rua lavadouro, e das janelas coradouro da sua minguada roupa? Não falo das míseras vestes que, nas estalagens dos subúrbios, aparecem aos olhos de quem passa, estendidas em cordas, ou desdobradas no chão, lembrando os farrapos de Jó, de que fala Raimundo Correia, "[ ...]Voando — desfraldadas/ Bandeiras da miséria imensa e triunfante...".
Não! muita cousa deve ser permitida aos pobres, para quem a pobreza já é uma lei pesada demais...
O que se não compreende é que essa exibição de roupas de uso íntimo seja feita em palacetes nobres, de bairros elegantes. De manhã, ainda é comum ver, em casas ricas, essa exposição impudica e ridícula. Na janela desta casa, vê-se um alvo roupão de banho, sacudido ao vento matinal; e a casa parece estar dizendo, com orgulho: "Vejam bem! aqui mora gente asseada, que se lava todos os dias!...". Mais adiante, vêem-se saias de fino linho bordado, ricas anáguas de seda; e a casa proclama, pela boca escancarada da janela: "Reparem! aqui moram senhoras de bom gosto, que usam lençarias de luxo!...". Que cousa abominável! A casa de família deve ser um santuário: não se compreende que se transformem as janelas da sua fachada em vidraçarias de exposição permanente, para alarde gabola do que a vida doméstica tem de mais recatado e melindroso...
Não seria também possível, ó cidade bem-amada! que, em muitas das tuas casas dos bairros centrais, pudéssemos deixar de ver tanta gente em mangas de camisa?
Já sei que o calor explica tudo... Mas, santo Deus! se é só para se ver livre do calor, e não por economia ou pobreza, que essa gente quer viver à frescata, por que não adotar o uso de um leve jaleco de brim, ou de uma leve blusa de linho? A frescura do trajo não é incompatível com a compostura! e não há de ser o uso de um tênue paletó de fazenda rala que há de assar em vida essa gente tão calorenta!
Mas, vamos devagar! Roma não se fez em um só dia. Os convalescentes querem ser tratados com tino e prudência. Depois de uma longa dieta, os primeiros dias têm de ser de uma alimentação moderada e sóbria. Não vá a cidade morrer de pletora, quando escapou de morrer de anemia. Já que evitamos a inanição, não provoquemos a indigestão.
Tudo virá com o tempo, e a tempo.
O progresso já é grande, e será cada vez maior. Que é que não é lícito esperar a quem já viu o que era o Rio há cinco anos e vê o que ele é hoje?
Publicada no jornal Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 20 maio 1906.
BILAC, Olavo. Vossa insolência: crônicas. Organização e introdução de Antonio Dimas. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 268-274

Durante meio século, Garnier não fez outra coisa senão estar ali, naquele mesmo lugar, trabalhando. Já enfermo desde alguns anos, com a morte no peito, descia todos os dias de Santa Teresa para a loja, de onde regressava antes de cair a noite. Uma tarde, ao encontrá-lo na rua, quando se recolhia, andando vagaroso, com os seus pés direitos, metido em um sobretudo, perguntei-lhe por que não descansava algum tempo. Respondeu-me com outra pergunta: Pourriez-vous résister, si vous étiez forcé de ne plus faire ce que vous auridez fait pendant cinquante ans? Na véspera da morte, se estou bem informado, achando-se de pé, ainda planejou descer na manhã seguinte, para dar uma vista de olhos à livraria.
Essa livraria é uma das últimas casas da Rua do Ouvidor; falo de uma rua anterior e acabada. Não cito os nomes das que se foram, porque não as conhecereis, vós que sois mais rapazes que eu, e abristes os olhos em uma rua animada e populosa, onde se vendem, ao par de belas jóias, excelentes queijos. Uma das últimas figuras desaparecidas foi o Bernardo, o perpétuo Bernardo, cujo nome achei ligado aos charutos do Duque de Caxias, que tinha fama de os fumar únicos, ou quase únicos. Há casas como a Laenimert e o Jornal do Comércio, que ficaram e prosperaram, embora os fundadores se fossem; a maior parte, porém, desfizeram-se com os donos.
Garnier é das figuras derradeiras. Não aparecia muito; durante os 30 anos das nossas relações, conheci-o sempre no mesmo lugar, ao fundo da livraria, que a princípio era em outra casa, n. 69, abaixo da Rua Nova. Não pude conhecê-lo na da Quitanda, onde se estabeleceu primeiro. A carteira é que pode ser a mesma, como o banco alto onde ele repousava, às vezes, de estar em pé. Aí vivia sempre, pena na mão, diante de um grande livro, notas soltas, cartas que assinava ou lia. Com o gesto obsequioso, a fala lenta, os olhos mansos, atendia a toda gente. Gostava de conversar o seu pouco. Neste caso, quando a pessoa amiga chegava, se não era dia de mala, ou se o trabalho ia adiantado e não era urgente, tirava logo os óculos, deixando ver no centro do nariz uma depressão do longo uso deles. Depois vinham duas cadeiras. Pouco sabia da política da terra, acompanhava a de França, mas só o ouvi falar com interesse por ocasião da guerra de 1870. O francês sentiu-se francês. Não sei se tinha partido: presumo que haveria trazido da pátria, quando aqui aportou, as simpatias da classe média para com a monarquia orleanista. Não gostava do império napoleônico. Aceitou a república, e era grande admirador de Gambetta.
Daquelas conversações tranqüilas, algumas longas, estão mortos quase todos os interlocutores, Liais, Fernandes Pinheiro, Macedo, Joaquim Norberto, José de Alencar, para só indicar estes. De resto, a livraria era um ponto de conversação e de encontro. Pouco me dei com Macedo, o mais popular dos nossos autores, pela Moreninha e pelo Fantasma branco, romance e comédia que fizeram as delícias de uma geração inteira. Com José de Alencar foi diferente; ali travamos as nossas relações literárias. Sentados os dois, em frente à rua, quantas vezes tratamos daqueles negócios de arte e poesia, de estilo e imaginação, que valem todas as canseiras deste mundo. Muitos outros iam ao mesmo ponto de palestra. Não os cito, porque teria de nomear um cemitério, e os cemitérios são tristes, não em si mesmos, ao contrário. Quando outro dia fui a enterrar o nosso velho livreiro, vi entrar no de S. João Batista, já acabada a cerimônia e o trabalho, um bando de crianças que iam divertir-se. Iam alegres, como quem não pisa memórias nem saudades. As figuras sepulcrais eram, para elas, lindas bonecas de pedra; todos esses mármores faziam um mundo único, sem embargo das suas flores mofinas, ou por elas mesmas, tal é a visão dos primeiros anos. Não citemos nomes.
Nem mortos, nem vivos. Vivos há-os ainda, e dos bons, que alguma coisa se lembrarão daquela casa e do homem que a fez e perfez. Editar obras jurídicas ou escolares não é mui difícil; a necessidade é grande, a procura certa. Gamier, que fez custosas edições dessas, foi também editor de obras literárias, o primeiro e o maior de todos. Os seus catálogos estão cheios dos nomes principais, entre os nossos homens de letras. Macedo e Alencar, que eram os mais fecundos, sem igualdade de mérito, Bernardo Guimarães, que também produziu muito nos seus últimos anos, figuram ao pé de outros, que entraram já consagrados, ou acharam naquela casa a porta da publicidade e o caminho da reputação.
Não é mister lembrar o que era essa livraria tão copiosa e tão variada, em que havia tudo, desde a teologia até à novela, o livro clássico, a composição recente, a ciência e a imaginação, a moral e a técnica. já a achei feita; mas vi-a crescer ainda mais, por longos anos. Quem a vê agora, fechadas as portas, trancados os mostradores, a espera da justiça, do inventário e dos herdeiros, há de sentir que falta alguma coisa à rua. Com efeito, falta uma grande parte dela, e bem pode ser que não volte, se a casa não conservar a mesma tradição e o mesmo espírito.
Pessoalmente, que proveito deram a esse homem as suas labutações? 0 gosto do trabalho, um gosto que se transformou em pena, porque no dia em que devera libertar-se dele, não pôde mais: o instrumento da riqueza era também o do castigo. Esta é uma das misericórdias da Divina Natureza. Não importa: laboremus. Valha sequer a memória, ainda que perdida nas páginas dos dicionários biográficos. Perdure a notícia, ao menos, de alguém que neste país novo ocupou a vida inteira em criar uma indústria liberal, ganhar alguns milhares de contos de réis, para ir afinal dormir em sete palmos de uma sepultura perpétua. Perpétua!
ASSIS, Machado de. A semana: crônicas, 1892-1893. Organização, introdução e notas de John Gledson. São Paulo: Hucitec, 1996. P. 310-312. (Literatura brasileira, 2).
NOTAS: Baptiste Louis Garnier (1823-1893), que chegou ao Brasil em 1844, e foi o mais importante editor brasileiro do século XIX. Foi o editor do próprio Machado. A Casa Sousa Laemmert foi fundada po Eduard Laemmert (1806-1880) e outros em 1827. Foi vendida e reorganizada como o nome de Laemmert e Cia. Em 1891. O Jornal do Comercio fora fundado por Pierre Plancher em 1827, e vendi mais de uma vez. Léon Gambetta (1838-1882), político republicano francês, dos mais importantes no período da fundação da Terceira República. Emmanuel Liais (1826-1900), astrônomo e geógrafo francês, que passou muitos anos no Brasil, onde chegou em 1858, publicando várias obras de natureza científica sobre o país; Cônego Joaquim Fernandes Pinheiro (1826-1876), escritor, autor de várias obras de história do Brasil, como a História do Brasil contada aos meninos (1870); e Joaquim Norberto de Sousa Silva (1820-1891) historiador e autor da História da conjuração mineira (1873). Fantasma branco, peça de 1856, o bastante popular para ser representada no Rio em julho de 1893


Regra: liberdades, liberdade.
Pátios de lajes soerguidas pelo único
esforço da erva: o castelo —
a escada, a torre, a porta,
a praça.
Tudo isto flutua debaixo
de água, debaixo de água.
— Ouves
o grito dos mortos?
A pedra abre a cauda de ouro incessante,
só a água fala nos buracos.
São palavras pronunciadas com medo de pousar,
uma tarde que viesse na ponta dos pés, o som
devagar de uma
borboleta.
—A morte não tem
só cinco letras. Como a claridade na água
para me entontecer,
a cantaria lavrada:
com um povo de estátuas em cima,
com um povo de mortos em baixo.
Primaveras extasiadas, espaços negros, flores desmedidas
— todos os dias debalde repelimos os mortos.
É preciso criar palavras, sons, palavras
vivas, obscuras, terríveis.
Uma candeia vem de mão de mulher
em mão de mulher, debruça-se
sobre uma grandeza.
Aumenta.
— Quem grita?
Só a água fala nos buracos.
Tocamo-nos todos como as árvores de uma floresta
no interior da terra. Somos
um reflexo dos mortos, o mundo
não é real. Para poder com isto e não morrer de espanto
— as palavras, palavras.
A lua de coral sobe
no silêncio, por trás
da montanha em osso. É o silêncio.
O silêncio e o que se cria no silêncio.
E o que remexe no silêncio.
É uma voz.
A morte.
— Nas tardes estonteadas encontrei
uma árvore de pé, do tamanho
de um prédio. As árvores
atravessam o inverno, ressuscitam.
São as primaveras sucessivas, delicadas, as primaveras
frenéticas. As primeiras primaveras.
Primaveras que atingem o auge nos mortos.
Fecho os olhos: há outra coisa enorme.
Atrás desta vila há outra vila maior, outra
imagem maior. Há palavras
que é preciso afundar logo noutras
palavras.
— Uma vida monstruosa.
Quando falo está ali outra coisa quando
me calo.
Outra figura maior.
Fecho os olhos: vejo virem os gestos. O espanto
recamado de mundos caminha
desabaladamente.
— Sinto os mortos.
Aterra remexe. De mais longe
vem um ímpeto. Põe-se a caminho a imensa
floresta apodrecida. Ouve-se
a dor das árvores. Sente-se a dor
dos seres
vegetativos,
ao terem de apressar a sua
vida lenta. Pôs-se a caminho
um remexer de treva. E não tardam
as dispersas primaveras,
uma atrás da outra.
Passa no mundo a estranha ventania. Os mortos
empurram os vivos.
E o tumulto,
o peso do espanto, as forças
monstruosas e cegas. Apedra espera ainda
dar flor, o som
tem um peso, há almas embrionárias.
—Tudo isto se fez pelo lado de dentro,
tudo isto cresceu pelo lado de dentro.
Acrescentou-se o tempo um alto
relevo esquecido.
O tempo.
Acrescentou-se um pórtico aos pórticos,
um terraço aos terraços. E um friso
fantástico com uma cidade incompleta.
Aqui a nave atinge alturas
desconexas: o tempo.
Ouves o grito dos mortos?
— O tempo.
É preciso criar palavras, sons, palavras
vivas, obscuras, terríveis.
É preciso criar os mortos pela força
magnética das palavras.
Através da paciência,
o esforço do homem tende para
a criação dos mortos.
Por trás da imobilidade, horas verdes
caem de espaço a espaço
— gotas de água no fundo de um subterrâneo.
E em volta um círculo de montanhas atentas.
No alto da noite côncava e branca,
uma camélia gelada. E metem as árvores
para o interior
a tinta e os ramos.
Absorção
dolorosa, diamante polido, vegetação
criptogâmica.
— O tempo.
E o céu. Basta-nos o nome para lidar
com ele.
O céu.
Uma nódoa que se entranha
noutra nódoa.
—A água tem um som.
Mar inesgotável que desliza no silêncio.
Ponho o ouvido à escuta de encontro ao mundo:
ouço-me para dentro. Mal posso
dar no mundo um passo
sem tremer: sinto-me
balouçado num sonho imenso, ando
nas pontas dos pés.
E estou só e a noite.
Há palavras que requerem uma pausa e silêncio.
O lento acordar das vozes submersas: uma treva
viva, um buraco de treva.
Imaginem
isto, imaginem
o lojista em debate com a vida subterrânea,
o lojista deparando com uma alma esplêndida,
e depois outro assombro.
E atrás deste assombro há outro assombro.
Passos apressados dentro das próprias almas.
A pedra abre a cauda de ouro incessante.
Mãos sôfregas palpam sedas amarelas,
e pergunto,
perguntas, perguntam.
Oh, palavras não, porque tudo está vivo:
o assombro, o esplendor, o êxtase,
o crime.
Noite caiada com uma mancha vermelha
de pólo a pólo, catástrofes
boreais, estrelas no caos, terrores
eléctricos.
— Ouves o grito dos mortos?
Também eu atravessei o inferno.
Chegava
a ouvir o contacto das aranhas devorando-se
no fundo. O meu horrível pensamento só a custo
continha o tumulto dos mortos.
Há dias em que o céu e o inferno esperam
e desesperam. Velhos lojistas
olham para si próprios com terror.
Uma coisa desconforme
levanta-se
e deita-se
connosco.
— São outros mortos ainda.
Vê tu a árvore: uma camada de flor — um grito,
outra camada de flor —outro grito.
Sob o fluido eléctrico, o quintal
tresnoita. Até o escuro se eriça. Há diálogos
formidáveis na obscuridade.
Nesta primavera há duas primaveras — perfume,
ferocidade. Turbilhão azul sem nome.
O sonho irrompe como hastes de cactos, pélago
desordenado.
— Eu sou a árvore e o céu,
faço parte do espanto, vivo e morro.
Vem a noite. Os céus nocturnos parecem
ter gelado em azul. Vem a noite,
e com a noite interrogo-me: — Existe?
O que existe é monstruoso.
Por trás de mim há uma coisa
que apavora.
— Ouves o grito dos mortos?
Respiro. É uma atmosfera
de reticências. Aparte de dentro é que está
viva. Respiro.
—A beleza não existe.
A miséria conserva, tem os cabelos pretos,
perde-os todas as noites com um sorriso
de angústia.
Aqui nesta cripta está o relento,
branco e mole, criado
na escuridão e no silêncio. Branco e sem olhos.
Branco e mole, onde
se ouve o lento trabalho
das aranhas no fundo.
— Sentiste
o teu pensamento avançar
no silêncio?
mais um passo
Sentiste-o avançar no silêncio?
Dentro de cada ser ressurgem os mortos.
A noite com outras noites em cima.
Há como um assassinato de que
se não ouvem
os gritos.
O sol negro.
Lepra.
As canduras.
Só a água fala nos buracos.
Estamos como sons, peixes
repercutidos. O homem rói dentro do homem,
criam-se
olhos que vêem na obscuridade.
Deitamos flor pelo lado de dentro.
— Os túmulos
estão gastos de um lado pelos passos
dos vivos, e do outro
pelo esforço dos mortos.
Moram de um lado o espanto, a lentidão, a paciência,
a ferocidade.
Aqui agora a escuridão é viva.
De pé, de ferro, olhos brancos, verde.
Irrompe para o lado de fora.
— Está viva.
Ouço o ruído calamitoso das águas.
São muitas vozes.
Os mortos estonteados
têm medo de nascerem belos.
A noite
é de aparato.
Atrás disto andam enxurradas
de sóis e de pedras, e outras figuras tremendas
atrás das palavras. Fica de pé
o espanto, e os mortos mais vivos
do que quando estavam vivos.
Sob o fluido
eléctrico, todo o ano as árvores se desentranham
em flor. Pegou-lhes sonho também, é um
desbarato, uma
profusão que as devora. A alma
é exterior, envolve
e impregna o corpo. Na pedra recalcada
e concentrada, os grandes fluidos
desgrenhados. Na árvore, a alma da árvore.
Na pedra, a alma da pedra.
Ouves o grito dos mortos?
E preciso
abalar os túmulos, desenterrar os mortos.
Através da pedra destas fisionomias, transparecem
outras fisionomias.
Os mortos, os mortos.
Usam a cabeça como quem usa um resplendor.
De pé na voragem,
pergunto,
perguntas,
perguntam.
E nesse momento de paixão, todas
as forças se concentram, e ponho o pé
no mistério.
Estalaram os botões dos salgueiros.
Um bafo húmido-lilás turba e perturba.
A primavera toca mais fundo na loucura, revolve
os vivos e os mortos.
— Todos deitam flor.
Cai o inverno dentro da primavera,
engrandece-a: tudo se entreabre em vertigem
azul.
Os mortos andam.
Vagueia a floresta apodrecida e avança
desenraizada
para mim.
Uma inocência atroz,
uma tristeza irreflectida
põe a mão e molha, deforma tudo, destinge sonho.
O que estava por baixo está agora por cima.
A flor esbraseada das noites sobre noites
de concentração, com o sítio
imóvel, as labaredas do sítio imóvel.
Tudo está ligado e é conduzido
por uma mão enorme.
As bocas falam
por muitas bocas.
— Ouves o grito dos mortos?
A um grito em baixo corresponde logo
um grito em cima.
Os seres
extraordinários
que ainda não tinham entrado no mundo.
Um arranco na profundidade, põe-se
a caminho outro panorama.
Esta luta
entre o inferno e o sonho revestiu-se
de cimento e de grandeza.
Sustentada num único pilar, a noite —
poça azul, ouro gelado —
tem os cabelos em pé.
O pavor entrou em plena primavera.
Cachorros, agachados de terror, sustentam
uma arcatura de luz intolerável.
É o sonho em marcha, a que não ouço
os passos, uma gota de tinta como uma gota
de leite.
Delicadeza, abundância, tinta
entornada.
A cerejeira é uma aparição,
a febre devora as macieiras, todas
as árvores se consomem de sonho.
São construções vivas, fixadas no silêncio,
suspensas na luz.
Ah, cinematografar
a morte de uma flor, uma tábua atónita,
um nome transfigurado.
— Ouves
o grito dos mortos?
Gomo se as palavras
gesticulassem para dentro, como uma primavera
escorre morte.
Agora meto-me medo.
Dois castiçais de prata foram a minha vida.
As aranhas envelhecem,
as sombras caminham,
dessa pata monstruosa escorre sempre ternura.
A pedra abre a cauda de ouro incessante,
somos palavras,
peixes repercutidos.
Só a água fala nos buracos.
Apenas
o som devagar de uma borboleta, um exagero
minúsculo, medo, uma névoa sensível, uma
mulher, o que vale um pássaro.
Apenas
as velhas, uma roda de aranhas na cabeça
— até que adormecem comum sorriso
cândido.
— Quem grita?
Atravessei viva o inferno — diz uma árvore
entontecida, tão viva
que a confundo com a morte.
E uma inteligência
exterior.
Sou os mortos — diz uma árvore
com a flor recalcada.
E assim as árvores
chegam ao céu.
E o diálogo dos dias e das noites,
entre as fazendas petrificadas e os grandes
desmoronamentos das estrelas.
Mais braços na monstruosa árvore do sonho,
cores ininterruptas, colunatas
absortas, pórticos
imaginários, a sombra da sombra.
Também eu atravessei o inferno.
Chegava
a ouvir o contacto das aranhas devorando-se
no fundo. O meu horrível pensamento só a custo
continha o tumulto dos mortos.
Pergunto,
perguntas, perguntam.
Oh, palavras não,
porque tudo está vivo: o assombro, o esplendor,
o êxtase,
o crime.
As figuras
são figuras de delírio, deitam raízes
tremendas, atentas,
raízes eléctricas.
Ah, uma catástrofe que engrandeça,
o prestígio da peste, a fascinação das coisas
mais altas.
Os mortos, uma enxurrada
de cores rudimentares, o colérico
crime dos mortos.
E o grito dos mortos libertos.
Imóveis, magnéticas — as sedas amarelas.
Acordou toda a peste nas florestas
intangíveis.
Os astros mudam de cor
de queda em queda.
É preciso
criar palavras, sons, palavras vivas,
obscuras, terríveis.
— Ouves o grito dos mortos?
É preciso matar os mortos,
outra vez,
os mortos.
1966.

completamente desprovido de
propósito,
ele era um jovem
seguindo de ônibus
cruzando a Carolina do Norte
em direção a
alguma parte
e então começou a nevar
e o ônibus parou
num pequeno café
nas montanhas
e os passageiros
ali entraram.
sentou juntou ao balcão
com os outros,
fez o pedido e a
comida chegou.
a refeição estava
especialmente
gostosa
assim como o
café.
a garçonete era
diferente das mulheres
que ele
conhecera.
não era afetada,
sentia que dela
emanava um humor
natural.
a frigideira dizia
coisas malucas.
a pia,
logo atrás,
ria, uma risada
boa
limpa e
prazenteira.
o jovem assistiu
à neve cair através da
janela.
queria ficar
naquele café
para sempre.
um sentimento curioso
perpassou-o por completo
de que tudo
era
lindo
ali,
de que sempre seria
maravilhoso ficar
por ali.
então o motorista do ônibus
disse aos passageiros
que era hora de
partir.
o jovem pensou,
ficarei sentado
aqui, apenas ficarei onde
estou.
mas então
ele se ergueu e seguiu
os outros até o
ônibus.
encontrou seu assento
e olhou para o café
através da janela do
ônibus.
então a partida do
veículo, logo uma curva,
em declive, afastando-se
das montanhas.
o jovem
olhou diretamente
para frente.
ouviu os outros
passageiros
falando
de outras coisas,
ou então eles
liam
ou
tentavam
dormir.
não haviam
percebido
a
mágica.
o jovem
virou a cabeça para
o lado,
fechou os
olhos,
fingiu
dormir.
não havia mais nada
a fazer –
apenas escutar
o som do
motor,
o som dos
pneus
sobre a
neve.
Depois de chegar à Filadélfia, encontrei uma pensão e paguei uma semana de aluguel adiantado. O bar mais próximo devia ter uns cinquenta anos. Dava para sentir o cheiro de urina, merda e vômito acumulados ao longo de meio século brotando das frestas do piso, visto que os banheiros ficavam no andar de baixo.
Eram quatro e meia. Dois homens brigavam no meio do bar.
O cara à minha direita disse que seu nome era Danny. O da esquerda, que se chamava Jim.
Danny trazia um cigarro na boca, a ponta brilhando. Uma garrafa de cerveja vazia cruzou o ar. Por um triz, não lhe acertou em cheio no cigarro e no nariz. Não se moveu nem olhou ao redor, bateu a cinza do cigarro no cinzeiro.
– Essa foi perto, seu filho da puta! Mande mais uma dessas e a pancadaria começa!
Todos os lugares estavam ocupados. Havia umas mulheres por ali, algumas donas de casa, gordas e meio estúpidas, e duas ou três senhoras que enfrentavam dificuldades. Ao me sentar por ali, uma garota levantou e se foi com um homem. Retornou em cinco minutos.
– Helen! Helen! Como você consegue fazer isso?
Ela gargalhou.
Outro se lançou sobre ela para experimentar.
– Deve ser bom. Tenho que provar!
Saíram juntos. Helen retornou em cinco minutos.
– Ela deve ter uma bomba de sucção na buceta!
– Tenho que tentar também – disse um velho sentado no fundo do bar. – Não tenho uma ereção desde que Teddy Roosevelt tomou sua última colina.
Com ele, Helen levou dez minutos.
– Quero um sanduíche – disse um gordo. – Quem vai buscar pra mim por uma graninha?
Eu lhe disse que iria.
– Bife no pão, com tudo o que tem direito.
Deu-me algum dinheiro.
– Fique com o troco.
Fui até o lugar onde se faziam os sanduíches. Um velho meio esquisito apareceu.
– Bife no pão, com tudo o que der pra botar em cima. E uma garrafa de cerveja enquanto espero.
Tomei a cerveja, levei o sanduíche até o gordo e procurei outro lugar. Apareceu uma dose de uísque. Virei. Outra surgiu. Virei. A jukebox tocava.
Um jovem, que devia ter uns 24, veio lá dos fundos do bar.
– Preciso que as persianas sejam limpas – ele me disse.
– Sem dúvida.
– O que você faz?
– Nada. Bebo. Vario entre isso.
– Que tal cuidar das persianas?
– Cinco pratas.
– Contratado.
Eles o chamavam de Billy-Boy. Billy-Boy havia se casado com a dona do bar. Ela estava com 45.
Trouxe-me dois baldes, água e sabão, uns esfregões e esponjas. Retirei as persianas, removi as lâminas e comecei.
– Bebida de graça – disse Tommy, o atendente da noite – enquanto você estiver trabalhando.
– Uma dose de uísque, Tommy.
Era um trabalho lento; o pó havia endurecido, formando uma espécie de laca. Cortei minha mão diversas vezes nas plaquetas de metal. A água ensaboada ardia.
– Uma dose de uísque, Tommy.
Terminei o primeiro jogo de persianas e o coloquei no lugar. Os fregueses do bar deram uma olhada no que eu havia feito.
– Maravilha!
– Com certeza vai ajudar o lugar.
– Na certa vão subir o preço das bebidas.
– Uma dose de uísque, Tommy – eu disse.
Baixei outro jogo de persianas, retirei as plaquetas. Desafiei Jim para uma partida de pinball e lhe tomei vinte e cinco centavos, esvaziei os baldes na privada e os enchi com água limpa.
O segundo jogo progrediu ainda mais devagar. Minhas mãos receberam mais cortes. Duvido que essas persianas tivessem sido limpas em dez anos. Ganhei mais 25 centavos no pinball, e então Billy-Boy ordenou que eu voltasse ao trabalho.
Helen passou em direção ao banheiro feminino.
– Helen, vou lhe dar cinco pratas assim que acabar. Será que dá?
– Claro, mas você não vai nem levantar o negócio quando for a hora.
– Levanto sim.
– Estarei aqui quando fecharem. Se você ainda conseguir ficar de pé, faço de graça!
– Estarei firme, baby!
Helen retornou ao banheiro.
– Uma dose de uísque.
– Ei, vá devagar – disse Billy-Boy – ou jamais terminará o trabalho nesta noite.
– Billy, se eu não terminar, você pode ficar com os cinco.
– Fechado. Ouviram isso?
– A gente ouviu, Billy, seu mão-de-vaca.
– A saideira, Tommy.
Tommy me serviu o uísque. Bebi o copo e então fui trabalhar. Consegui progredir. Após mais umas doses de uísque, consegui deixar os três jogos de persianas limpos e brilhantes.
– Tudo pronto, Billy. Pague o que deve.
– Ainda não acabou.
– Como?
– Há mais três janelas no salão dos fundos.
– Salão dos fundos?
– Salão dos fundos. O salão de festas.
Billy-Boy me mostrou o salão dos fundos. Havia mais três janelas, mais três jogos de persianas.
– Deixo por 2,50, Billy.
– Negativo. Ou faz todo o trabalho, ou não recebe nada.
Apanhei os baldes, esvaziei a água suja, enchi de água limpa, sabão, depois desci um novo jogo de persianas. Retirei as plaquetas, depositei-as sobre uma mesa e fiquei olhando para elas.
Jim parou no meio do caminho até o banheiro.
– O que está acontecendo?
– Não conseguirei limpar outro jogo.
Quando Jim saiu do banheiro, foi até o bar e retornou com sua cerveja. Começou a limpar as persianas.
– Jim, deixe disso.
Fui até o bar, peguei mais uma dose. Quando voltei, uma das garotas descia um dos jogos.
– Tome cuidado, não vá se cortar – eu disse a ela.
Alguns minutos depois, havia umas quatro ou cinco pessoas por ali, falando e sorrindo, até mesmo Helen. Todas trabalhavam na limpeza. Logo quase todos os fregueses do bar estavam por lá. Concentrei-me em esvaziar mais dois copos. Finalmente, as persianas estavam limpas e no lugar. Não levou muito tempo. Cintilavam. Billy-Boy apareceu:
– Não tenho que lhe pagar nada.
– O trabalho está terminado.
– Mas não foi você quem terminou.
– Não seja um mão-de-vaca, Billy – alguém disse.
Billy-Boy desencavou uma nota de US$ 5, eu a peguei. Fomos até o bar.
– Uma rodada por minha conta!
Coloquei a nota de US$ 5 sobre o balcão.
– E uma bebida pra mim.
Tommy deu uma volta distribuindo as bebidas.
Tomei a minha e Tommy pegou o dinheiro.
– Você deve US$ 3,15 para o bar.
– Ponha na conta.
– O.k., qual é seu sobrenome?
– Chinaski.
– Conhece aquela do polaco que teve que usar a casinha?
– Sim.
Os drinques continuaram chegando para mim até a hora do fechamento. Após o último, dei uma olhada em volta. Helen tinha desaparecido. Ela mentira.
Como fazem as putas, pensei, assustada com o trabalho que teria...
Ergui-me e tomei o rumo de minha pensão. A lua brilhava. Meus passos ecoavam pela rua vazia, parecendo os passos de um perseguidor. Olhei ao redor. Eu estava enganado. Somente a solidão me acompanhava.
Quando cheguei a St. Louis, fazia muito frio, estava prestes a nevar. Encontrei um quarto num lugar legal e limpo, um segundo andar de fundos. Era cedo da noite e me atacava uma de minhas crises depressivas, o que me fez ir cedo para cama, buscando, de alguma maneira, adormecer.
Quando despertei pela manhã, estava muito frio. Eu tremia de modo incontrolável. Levantei e descobri que uma das janelas estava aberta. Fechei-a e voltei para a cama. Comecei a me sentir nauseado. Consegui dormir mais uma hora, depois acordei. Fiquei de pé, me vesti, mal alcançara o banheiro do corredor quando vomitei. Despi-me novamente e voltei a me deitar. Logo houve uma batida à porta. Não respondi. As batidas continuaram.
– Sim? – respondi.
– Você está bem?
– Sim.
– Podemos entrar?
– Entrem.
Eram duas garotas. Uma estava um pouco acima do peso, mas parecia limpa, radiante, em um vestido florido e rosado. Tinha um rosto gentil. A outra usava um cinto bem apertado que acentuava sua maravilhosa figura. Seu cabelo era longo, negro, e tinha um nariz delicado; usava saltos, dona de pernas perfeitas, vestia uma blusa branca decotada. Seus olhos eram de um castanho-escuro, muito escuro, e seguiam cravados em mim, marotos, muito marotos.
– Sou Gertrude – ela disse – e esta é Hilda.
Hilda se ruborizou quando Gertrude cruzou o quarto em direção à cama.
– Escutamos você no banheiro. Você está passando mal?
– Sim. Mas não é nada sério, tenho certeza. Uma janela aberta.
– A sra. Downing, a senhoria, está fazendo uma sopa para você.
– Não precisa, está tudo bem.
– Vai lhe fazer bem.
Gertrude se aproximou da minha cama. Hilda permaneceu onde estava, rosa e luzidia e ruborizada. Gertrude andava para lá e para cá em seus saltos agudíssimos.
– Você é novo na cidade?
– Sim.
– Não está no exército?
– Não.
– O que você faz?
– Nada.
– Não trabalha?
– Não trabalho.
– Sim – disse Gertrude a Hilda –, olhe essas mãos. Tem as mãos mais lindas que já vi. Dá pra ver que nunca pegaram no batente.
A senhoria, sra. Downing, bateu. Ela era gorda e simpática. Imaginei que seu marido estava morto e que ela era uma pessoa religiosa. Trazia uma enorme tigela de caldo de carne. Podia ver a fumaça subindo. Peguei a tigela. Trocamos gentilezas. Sim, seu marido falecera. Ela era extremamente religiosa. Havia ainda umas bolachas, mais sal e pimenta.
– Muito obrigado.
A sra. Downing olhou para as duas garotas.
– Bem, está na hora de a gente ir. E espero que as garotas não o tenham incomodado muito.
– Oh, não!
Sorri em direção à sopa. Ela gostou do gesto.
– Vamos, garotas.
A sra. Downing deixou a porta aberta. Hilda deu um jeito de ruborizar mais uma vez, deu-me um sorriso discreto, depois saiu. Gertrude permaneceu. Observou-me tomar umas colheradas do caldo.
– Está gostoso?
– Quero agradecer a todas vocês. Tudo isso... não é algo a que eu esteja acostumado.
– Vou indo.
Ela deu meia-volta e caminhou lentamente até a porta. Sua bunda se movia sob a saia negra apertada; suas pernas eram douradas. Junto à soleira, ela parou e se virou, deitando seus olhos negros novamente sobre mim, deixando-os ficar. Fiquei pasmado, em brasa. No momento em que percebeu minha reação, lançou a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Tinha um pescoço adorável e toda aquela cabeleira negra. Ela desapareceu no corredor, deixando a porta entreaberta.
Peguei o sal e a pimenta, temperei o caldo, quebrei as bolachas de água e sal e as coloquei na tigela, aplacando minha doença a colheradas.
Após perder várias máquinas de escrever no prego, simplesmente desisti da ideia de possuir uma. Compunha minhas histórias à mão e as enviava dessa maneira. Escrevia-as à pena. Eu precisava ser um calígrafo veloz. Tinha que conseguir executar as letras mais rápido do que as ideias que elas continham. Escrevia três ou quatro contos por semana. Colocava-os no correio. Imaginava os editores da The Atlantic Monthly e da Harper’s dizendo: “Ei, aqui está mais uma das coisas daquele louco...”.
Certa noite, levei Gertrude a um bar. Sentamos lado a lado em uma mesa e bebemos cerveja. Nevava lá fora. Sentia-me um pouco melhor do que de costume. Bebemos e conversamos. Uma hora, ou por volta disso, se passou. Comecei a me fixar nos olhos de Gertrude, e ela me respondia da mesma maneira. “Nos dias de hoje, é difícil encontrar um bom homem!”, dizia a jukebox. Gertrude acompanhava a música com o corpo, com a cabeça, olhava-me nos olhos.
– Você tem uma cara muito estranha – ela disse. – Você não é realmente feio.
– Número quatro no setor de envio de mercadorias, galgando posições.
– Alguma vez você já se apaixonou?
– Isso é para pessoas de verdade.
– Você me parece de verdade.
– Não gosto de pessoas de verdade.
– Não gosta?
– Eu as odeio.
Bebemos mais um pouco, sem falar muito. Continuava a nevar. Gertrude virou a cabeça e ficou olhando para o aglomerado de pessoas. Então voltou a me olhar.
– Ele não é bonito?
– Quem?
– O soldado lá adiante. Está sentado sozinho. Tão ereto. E tem todas as medalhas no uniforme.
– Vamos, é hora de dar o fora daqui.
– Mas ainda é cedo.
– Você pode ficar.
– Não, quero ir com você.
– Não me importo com o que você fizer.
– É por causa do soldado? Você ficou assim por causa do soldado?
– Oh, merda!
– Foi o soldado!
– Estou indo.
Levantei-me, deixei uma gorjeta e caminhei em direção à porta. Ouvi Gertrude atrás de mim. Segui pela rua cortando a neve. Logo ela estava ao meu lado.
– Você nem ao menos pegou um táxi. Andar de salto alto na neve!
Não respondi. Caminhamos as quatro ou cinco quadras até a pensão. Subi os degraus lado a lado com ela. Então entrei em meu quarto, fechei a porta, me despi e fui para a cama. Escutei-a jogar alguma coisa contra a parede em seu quarto.
Filas e mais filas de bicicletas silenciosas. Caixas cheias de peças para bicicleta. Filas e mais filas de bicicletas pendendo do teto: bicicletas verdes, bicicletas vermelhas, bicicletas roxas, bicicletas azuis, bicicletas para meninas, bicicletas para meninos, todas penduradas ali; aros brilhantes, as rodas, os pneus, as tintas, os assentos de couro, as luzes traseiras, os faroletes, os freios de mão; centenas de bicicletas, fila após fila.
Tínhamos uma hora para o almoço. Eu comia depressa, tendo estado desperto ao longo de toda a noite e alvorada, sentia-me cansado e todo dolorido. Havia conseguido encontrar um local escondido debaixo das bicicletas. Eu me arrastava até ali, debaixo de três fileiras de bicicletas imaculadamente arranjadas. Deitava-me ali de costas, e suspensas sobre mim, alinhados com precisão, pendiam pneus, aros prateados e reluzentes, pinturas novas, tudo em perfeita ordem. Tudo era grandioso, correto, ordenado – 500 ou 600 bicicletas se estendendo sobre mim, cobrindo-me, tudo no seu devido lugar. De algum modo, aquilo tinha um profundo significado. Eu as olhava e sabia que tinha 45 minutos de descanso sob aquela árvore de bicicletas.
Ao mesmo tempo, eu sabia, em outra parte da minha consciência, que, se alguma vez eu me deixasse cair no meio de todas aquelas bicicletas cintilantes, seria meu fim, que eu nunca poderia me salvar. Assim, eu ficava ali deitado de costas, deixando que as rodas e os aros e as cores de alguma forma me acalmassem.
Um homem de ressaca jamais deveria deitar de costas e olhar para o telhado de um galpão. As vigas de madeira, por fim, apoderam-se de você; e as claraboias – você pode ver o gradeado para os pássaros sobre as claraboias de vidro – que formam esse gradeado de certa maneira trazem à mente de um homem a imagem de uma prisão. Então há todo aquele peso sobre os olhos, o desejo desesperado por um gole apenas, e o som das pessoas se movendo, você as escuta, sabe que seu tempo está se esgotando, de alguma maneira você terá que se levantar e também entrar nesse movimento, preenchendo ordens e empacotando pedidos...
Ela era a secretária do gerente. Seu nome era Carmen – mas, apesar do nome espanhol, ela era loira e usava vestidos colados de tricô, sapatos de salto agulha, meias de náilon, cinta-liga, trazia a boca muito pintada, porém, ah, ela sabia rebolar, sabia mexer, ondulava os quadris quando vinha com os pedidos até a mesa, voltava do mesmo modo para o escritório, a rapaziada de olho em cada movimento, em cada contração de sua bunda; oscilando, serpenteando, rebolando. Não sou um galanteador. Nunca fui. Para ser um galã, é preciso ter a lábia doce. Nunca fui bom em passar a lábia numa mulher. Mas, finalmente, com Carmen me pressionando, levei-a até um dos transportes de carga que descarregávamos nos fundos do galpão e a peguei de pé, atrás de um desses caminhões. Foi bom, foi quente; pensei no céu azul e em praias amplas e limpas, porém ao mesmo tempo foi triste – faltava, na certa, algum sentimento humano que eu desconhecia ou com o qual não sabia lidar. Eu tinha erguido aquele vestido de tricô acima de seus quadris e fiquei ali, a bombeá-la, apertando, por fim, minha boca contra seus lábios carregados de batom escarlate e gozei entre duas caixas lacradas com o ar cheio de cinzas e com ela pressionada contra um caminhão imundo e descascado na misericordiosa escuridão.
– Factótum

Aqui vem a árvore, a árvore
da tormenta, a árvore do povo.
Da terra sobem os heróis
como as folhas pela seiva
e o vento despedaça as folhagens
de multidão rumorosa,
até que cai a semente
do pão outra vez na terra.
Aqui vem a árvore, a árvore
nutrida por mortos desnudos,
mortos açoitados e feridos,
mortos de rostos impossíveis,
empalados sobre uma lança,
esfarelados na fogueira,
decapitados pela acha,
esquartejados a cavalo,
crucificador na igreja.
Aqui vem a árvore, a árvore
cujas raízes estão vivas,
tirou salitre do martírio,
suas raízes comeram sangue,
extraiu lágrimas do céu:
elevou-as por suas ramagens,
repartiu-as em sua arquitetura.
Foram flores invisíveis,
às vezes flores enterradas,
outras vezes iluminaram
suas pétalas, como planetas.
E o homem recolheu nos ramos
as corolas endurecidas,
entregando-as de mão em mão
como magnólias ou romãs
e logo abriram a terra,
cresceram até as estrelas.
Esta é a árvore dos livres.
A árvore terra, a árvore nuvem.
A árvore pão, a árvore flecha,
a árvore punho, a árvore fogo.
Afoga-a a água tempestuosa
de nossa época noturna,
mas seu mastro faz balançar
o círculo de seu poder.
Outras vezes de novo tombam
os ramos partidos pela cólera,
e uma cinza ameaçadora
cobre a sua antiga majestade:
foi assim desde outros tempos,
assim saiu da agonia,
até que uma secreta razão,
uns braços inumeráveis,
o povo, guardou os fragmentos,
escondeu troncos invariáveis,
e seus lábios eram as folhas
de imensa árvore repartida,
disseminada em todas as partes,
caminhando com suas raízes.
Esta é a árvore, a árvore
do povo, de todos os povos
da liberdade, da luta.
Assoma-te a sua cabeleira:
toca seus raios renovados:
mergulha a não nas usinas
de onde seu fruto palpitante
propaga a sua luz de cada dia.
Levanta esta terra em tuas mãos,
participa deste esplendor,
toma o teu pão e a tua maçã,
teu coração e teu cavalo
e monta guarda na fronteira,
no limite de suas folhas.
Defende o fim de suas coroas,
comparte as noite hostis,
vigia o ciclo da aurora,
respira a altura estrelada,
amparando a árvore, a árvore
que cresce no meio da terra.
I
Cuahtémoc (1520)
Jovem irmão há tempos e tempos
nunca dormido, nunca consolado,
jovem estremecido nas trevas
metálicas do México, em tua mão
recebo o dom de tua pátria nua.
Nela nasce e cresce o teu sorriso,
uma linha entre a luz e o ouro.
São os teus lábios unidos pela morte
o mais puro silêncio sepultado.
O manancial submerso
sob todas as bocas da terra.
Ouviste, ouviste, acaso,
no Anáhuac longínquo,
um rumo de água, um vento
de primavera destroçada?
Era talvez a palavra do cedro.
Era uma onda branca de Acapulco.
Porém na noite fugia
teu coração como um cervo
até as fronteiras, confuso,
entre os monumentos sanguinários,
sob a lua soçobrante.
Toda a sombra preparava sombra.
Era a terra uma escura cozinha,
pedra e caldeira, vapor negro,
muro sem nome, injúria
que te chamava dos noturnos
metais de tua pátria.
Mas não há sombra em teu estandarte.
Chegou a hora assinalada
e ao meio de teu povo
és pão e raiz, lança e estrela.
O invasor sustou o passo.
Não é Moctezuma extinto
como taça morta,
é o relâmpago e sua armadura,
a pluma de Quetzal, a flor do povo,
o elmo aceso entre as naus.
Mas a mão dura como séculos de pedra
apertou a tua garganta.
Não fecharam
o teu sorriso, não fizeram
tombar os grãos do milho
secreto, e te arrastaram,
vencedor cativo,
pelas distâncias de teu reino,
entre cascatas e cadeias,
sobre areais e aguilhões,
como uma coluna incessante,
como testemunha dolorosa,
até que uma corda enredou
a coluna da pureza
e dependurou o corpo suspenso
sobre a terra desgraçada.
II
Frei Bartolomé de las Casas
A gente pensa, ao chegar a casa, à noite, cansado,
entre a névoa fria de maio, à saída
do sindicato (na esmiuçada
luta de cada dia, a estação
chuvosa que goteja do beiral, o surdo
latejar do constante sofrimento),
esta ressurreição mascarada,
astuta, envilecida,
do encadeador, da cadeia,
e quando sobe a angústia
até a fechadura para entrar contigo,
surge uma luz antiga, suave e dura
como um metal, como um astro enterrado.
Padre Bartolomé, obrigado por esta
dádiva da crua meia-noite,
graças porque teu fio foi invencível:
pôde morrer massacrado, comido
pelo cão de fauces iracundas,
pôde ficar na cinza
da casa incendiada,
pôde cortá-lo a lâmina fria
do assassino inumerável
ou o ódio administrado com sorrisos
(a traição do próximo cruzado),
a mentira arremessada na janela.
Pôde morrer o fio cristalino,
a irredutível transparência
convertida em ação, em combatente
e despenhado aço de cascata.
Poucas vidas dá o homem como a tua, poucas
sombras há na árvore como a tua sombra, nela
todas as brasas vivas do continente acodem,
todas as arrasadas condições, a ferida
do mutilado, as aldeias
exterminadas, tudo sob a tua sombra
renasce, do limite
da agonia fundas a esperança.
Padre, foi sorte para o homem e sua espécie
que tivesses chegado à plantação,
que mordesses os negros cereais
do crime, que bebesses cada dia a taça da cólera.
Quem te pôs, mortal despido,
entre os dentes da fúria?
Como assomaram outros olhos,
de outro metal, quando nascias?
Como se cruzam os fermentos
na oculta farinha humana
para que o teu grão imutável
se amassasse no pão do mundo?
Eras a realidade entre fantasmas
encarniçados, eras
a eternidade da ternura
sobre a rajada do castigo.
De combate em combate a tua esperança
converteu-se em precisas ferramentas:
a solitária luta fez-se um ramo,
o pranto inútil agrupou-se em partido.
Não valeu a piedade.
Quando mostravas
tuas colunas, tua nave amparadora,
tua mão para abençoar, teu manto,
o inimigo pisoteou as lágrimas,
e violou a cor da açucena.
Não valeu a piedade alta e vazia
como uma catedral abandonada.
Foi a tua invencível decisão, a ativa
resistência, o coração armado.
Foi a razão o teu material titânico.
Foi flor organizada a tua estrutura.
De cima quiseram contemplar-te
(de sua altura) os conquistadores,
apoiando-se como sombras de pedra
sobre seus espadões, esmagando
com os seus sarcásticos escarros
as terras de tua iniciativa,
dizendo: “Ali vai o agitador”,
mentindo: “Foi pago
pelos estrangeiros”,
“Não tem pátria”, “Traidor”,
mas a tua prédica não era
frágil minuto, peregrina
pauta, relógio do passageiro.
Tua madeira era bosque combatido,
ferro em sua cepa natural, oculto
a toda luz pela terra florida,
e ainda mais, era mais fundo:
na unidade do tempo, no transcurso
da vida, era a tua mão antecipada
estrela zodiacal, signo do povo.
Hoje, padre, entra nesta casa comigo.
Vou mostrar-te as cartas, o tormento
de meu povo, do homem perseguido.
Vou mostrar-te as dores antigas.
E para não tombar, para firmar-me
sobre a terra, continuar lutando,
deixa em meu coração o vinho errante
e o pão implacável de tua doçura.
III
Avançando nas trevas do Chile
Espanha entrou até o sul do mundo.
Opressos
exploraram a neve os altos espanhóis.
O Bío-Bío, grave rio,
disse à Espanha: “Pára”,
o bosque de maitenes cujos fios
verdes pendem como um tremor de chuva
disse à Espanha: “Não prossigas”.
O lariço,
titã das fronteiras silenciosas,
disse em um trovão a sua palavra.
Mas até o fundo da pátria minha,
punho e punhal, o invasor chegava.
Pelo rio Imperial, em cuja margem
meu coração amanheceu no trevo,
entrava o furacão pela manhã.
O largo leito das garças seguia
das ilhas para o mar furioso,
cheio como taça interminável,
entre as margens do cristal sombrio.
Em suas barrancas eriçava o pólen
uma alfombra de estames turbulentos
e desde o mar a brisa comovia
todas as sílabas da primavera.
A aveleira da Araucania
embandeirava fogueiras e racimos
lá onde a chuva deslizava
sobre o agrupamento da pureza.
Tudo estava enredado de fragrâncias,
empapado de luz verde e chuvosa,
e cada matagal de odor amargo
era um ramo profundo do inverno
ou uma extraviada formação marinha
ainda cheia do orvalho oceânico.
Dos barrancos se erguiam
torres de pássaros e plumas
e um ventarrão de solidão sonora,
enquanto na molhada intimidade
entre as cabeleiras encrespadas
do feto gigante, era a topa-topa florescida
um rosário de beijos amarelos.
IV
Surgem os homens
Ali germinavam os toquis.
Daquelas negras umidades,
daquela chuva fermentada
na taça dos vulcões
saíram os peitos augustos,
as claras flechas vegetais,
os dentes de pedra selvagem,
os pés de estaca inapelável,
a glacial unidade da água.
O Arauco foi um útero frio,
feito de feridas, massacrado
pelo ultraje, concebido
entre os ásperos espinhos,
arranhado nos montões de neve,
protegido pelas serpentes.
Assim a terra extraiu o homem.
Cresceu como fortaleza.
Nasceu do sangue agredido, eriçou a cabeleira
como um pequeno puma rubro
e os olhos de pedra dura
brilhavam na matéria
como fulgores implacáveis
saídos da caçada.
V
Toqui Caupolicán
Na cepa secreta do raulí
cresceu Caupolicán, torso e tormenta,
e quando contra as armas invasoras
seu povo dirigiu,
andou a árvore,
andou a árvore dura da pátria.
Os invasores viram a folhagem
mover-se ao meio da bruma verde,
os grossos ramos e as vestimentas
de inumeráveis folhas e ameaças,
o tronco terrenal fazer-se povo,
as raízes saírem do território.
Souberam que a hora havia soado
para o relógio da vida e da morte.
Outras árvores vieram com ele.
Toda a raça de ramagens rubras,
todas as tranças da dor silvestre,
todo o nó do ódio da madeira.
Caupolicán, sua máscara de lianas
defronta o invasor perdido:
não é a pintada pluma imperadora,
não é o trono das plantas olorosas,
não é o reluzente colar do sacerdote,
não é a luva nem o príncipe dourado:
um é o rosto da mata,
uma carranca de acácias arrasadas,
uma figura ferida pela chuva,
uma cabeça com trepadeiras.
De Caupolicán, o toqui, é o olhar
fundido, de universo montanhoso,
os olhos implacáveis da terra,
e as faces do titã são muros
escalados por raios e raízes.
VI
A Guerra Pátria
A Araucania estrangulou o cantar
da rosa no cântaro, cortou
os fios
no tear da noiva de prata.
Desceu a ilustre Machi de sua escada,
e nos rios dispersos, na argila,
sob a copa hirsuta
das araucárias guerreiras,
foi nascendo o clamor dos sinos
enterrados.
A mãe da guerra
saltou as pedras doces do arroio,
deu asilo à família pescadora,
e o noivo lavrador beijou as pedras
antes que voassem à ferida.
Atrás do rosto florestal do toqui
Arauco amontoava a sua defesa:
eram olhos e lanças, multidões
espessas de silêncio e ameaça,
cinturas indeléveis, altaneiras
mãos escuras, punhos congregados.
Atrás do alto toqui, a montanha,
e na montanha, o inumerável Arauco.
Arauco era o rumor da água errante.
Arauco era o silêncio tenebroso.
O mensageiro em sua mão cortada
ia juntando as gotas de Arauco.
Arauco foi a onda da guerra.
Arauco os incêdios da noite.
Tudo fervia atrás do toqui augusto,
e quando ele avançou, foram trevas,
areias, bosques, terras,
unânimes fogueiras, furacões,
aparição fosfórica de pumas.
VII
O empalado
Caupolicán porém chegou ao tormento.
Ensartado na lança do suplício,
entrou na morte lenta das árvores.
Arauco redobrou o seu ataque verde,
sentiu nas sombras o calafrio,
cravou na terra a cabeça,
ocultou-se com as suas dores.
O toqui dormia na morte.
Um ruído de ferro chegava
do acampamento, uma coroa
de gargalhadas estrangeiras,
e junto aos bosques enlutados
somente a noite palpitava.
Não era a dor, a dentada
do vulcão aberto nas vísceras,
era só um sonho da mata,
a árvore que sangrava.
Nas entranhas de minha pátria
entrava a ponta assassina
ferindo as terras sagradas.
O sangue queimante tombava
de silêncio em silêncio, abaixo,
até onde a semente está
à espera da primavera.
Mais fundo tombava este sangue.
Caía sobre as raízes.
Caía sobre os mortos.
Sobre os que iam nascer.
VIII
Lautaro (1550)
O sangue toca um corredor de quartzo.
A pedra cresce onde a gota tomba.
Assim nasce Lautaro da pedra.
IX
Educação do cacique
Lautaro era uma flecha delgada.
Elástico e azul foi o nosso pai.
Foi sua primeira idade só silêncio.
Sua adolescência foi domínio.
Sua juventude foi um vento dirigido.
Preparou-se como uma longa lança.
Acostumou os pés nas cachoeiras.
Educou a cabeça nos espinhos.
Executou as provas do guanaco.
Viveu pelos covis da neve.
Espreitou as águias comendo.
Arranhou os segredos do penhasco.
Entreteve as pétalas do fogo.
Amamentou-se de primavera fria.
Queimou-se nas gargantas infernais.
Foi caçador entre as aves cruéis.
Tingiram-se de vitórias as suas mãos.
Leu as agressões da noite.
Amparou o desmoronamento do enxofre.
Se fez velocidade, luz repentina.
Tomou as vagarezas do outono.
Trabalhou nas guaridas invisíveis.
Dormiu sobre os lençóis da nevasca.
Igualou-se à conduta das flechas.
Bebeu o sangue agreste dos caminhos.
Arrebatou o tesouro das ondas.
Se fez ameaça como um deus sombrio.
Comeu em cada cozinha de seu povo.
Aprendeu o alfabeto do relâmpago.
Farejou as cinzas espalhadas.
Envolveu o coração de peles negras.
Decifrou o fio espiral do fumo.
Construiu-se de fibras taciturnas.
Azeitou-se como a alma da azeitona.
Fez-se cristal de transparência dura.
Estudou para vento furacão.
Combateu-se até apagar o sangue.
E só então foi digno de seu povo.
X
Lautaro entre invasores
Entrou na casa de Valdivia.
Acompanhou-o como a luz.
Dormiu coberto de punhais.
Viu seu próprio sangue derramado,
seus próprios olhos esmagados,
e dormindo nos pesebres
acumulou o seu poderio.
Não se mexiam os seus cabelos
examinando os tormentos:
olhava para além do ar
para a sua raça debulhada.
Velou aos pés de Valdivia.
Ouviu o seu sonho carniceiro
crescer na noite sombria
como uma coluna implacável.
Adivinhou esses sonhos.
Pôde levantar a dourada
barba do capitão adormecido,
cortar o sonho na garganta,
mas aprendeu - velando sombras -
a lei noturna do horário.
Marchou de dia acariciando
os cavalos de pele molhada
que se iam afundando em sua pátria.
Adivinhou esses cavalos.
Marchou com os deuses fechados.
Adivinhou as armaduras.
Foi testemunha das batalhas,
enquanto entrava passo a passo
no fogo da Araucania.
XI
Lautaro contra o Centauro (1554)
Atacou então Lautaro de onda em onda.
Disciplinou as sombras araucanas:
antes entrou o punhal castelhano
em pleno peito da massa vermelha.
Hoje foi semeada a guerrilha
sob todas as alas florestais,
de pedra em pedra e de vau em vau,
olhando dos copihues,
espreitando sob as rochas.
Valdivia quis voltar.
Era tarde.
Chegou Lautaro com traje de relâmpago.
Seguiu o conquistador aflito.
Abriu caminho nas úmidas brenhas
do crepúsculo austral.
Chegou Lautaro
num galope negro de cavalos.
A fadiga e a morte conduziam
a tropa de Valdivia na folhagem.
Aproximavam-se as lanças de Lautaro.
Entre os mortos e as folhas ia
como em um túnel Pedro de Valdivia.
Nas trevas chegava Lautaro.
Pensou na Extremadura pedregosa,
o dourado azeite, a cozinha,
o jasmim deixados em ultramar.
Reconheceu o uivo de Lautaro.
As ovelhas, as duras granjas,
os muros brancos, a tarde extremenha.
Sobreveio a noite de Lautaro.
Seus capitães cambaleavam ébrios
de sangue, noite e chuva para o regresso.
Palpitavam as flechas de Lautaro.
De queda em queda a capitania
ia retrocedendo dessangrada.
Já se tocava o peito de Lautaro.
Valdivia viu chegar a luz, a aurora,
talvez a vida, o mar.
Era Lautaro.
XII
O coração de Pedro de Valdivia
Levamos Valdivia para debaixo da árvore.
Era um azul de chuva, a manhã com frios
filamentos de sol desfiado.
Toda a glória, o trovão,
turbulentos jaziam
num montão de aço ferido.
A caneleira erguia a sua linguagem
num fulgor de vaga-lume molhado
em toda a sua pomposa monarquia.
Trouxemos pano e cântaro, tecidos
grossos como as tranças conjugais,
jóias como amêndoas da lua,
e os tambores que encheram
a Araucania com sua luz de couro.
Enchemos as vasilhas de doçura
e dançamos calcando os torrões
feitos da nossa própria estirpe escura.
Depois calcamos o rosto inimigo.
Depois cortamos o valente pescoço.
Que bonito foi o sangue do verdugo
repartido entre nós como romã
enquanto ainda vivo ardia.
Depois, no peito enfiamos uma lança
e o coração alado como os pássaros
entregamos à árvore araucana.
Subiu um rumor de sangue até a copa.
Então, da terra
feita de nossos corpos, nasceu o canto
da guerra, do sol, das colheitas.
Então repartimos o coração sangrento.
Eu meti os dentes naquela corola
cumprindo o rito da terra:
“Dá-me o teu frio, estrangeiro malvado.
Dá-me o teu valor de grande tigre.
Dá-me em teu sangue a tua cólera.
Dá-me a tua morte para que me siga
e leve o espanto até os teus.
Dá-me a guerra que trouxeste.
Dá-me o teu cavalo e os teus olhos.
Dá-me a treva retorcida.
Dá-me a mãe do milho.
Dá-me a pátria sem espinhos.
Dá-me a paz vencedora.
Dá-me o ar onde respira
a caneleira, senhora florida”.
XIII
A dilatada guerra
Depois, terra e oceanos, cidades,
naves e livros, conheceis a história
que desde o território rude
como uma pedra lançada
encheu de pétalas azuis
as profundezas do tempo.
Três séculos esteve lutando
a raça guerreira do carvalho,
trezentos anos a centelha
de Arauco povoou de cinzas
as cavidades imperiais.
Três séculos tombaram feridas
as camisas do capitão,
trezentos anos despovoaram
os arados e as colméias,
trezentos anos açoitaram
cada nome de invasor,
três séculos rasgaram a pele
das águias agressoras,
trezentos anos enterraram
como a boca do oceano
tetos e ossos, armaduras,
torres e títulos dourados.
Às esporas iracundas
das guitarras adornadas
chegou um galope de cavalos
e uma tormenta de cinza.
As naus voltaram ao duro
território, nasceram espigas,
cresceram olhos espanhóis
no reinado da chuva,
mas Arauco desceu as telhas,
moeu as pedras, abateu
os paredões e as vides,
as vontades e as roupas.
Vede como tombam na terra
os filhos ásperos do ódio,
Villagras, Mendozas, Reinosos,
Reyes, Morales, Alderetes,
rolaram para o fundo branco
das Américas glaciais.
E na noite do tempo augusto
caiu Imperial, caiu Santiago,
caiu Villarrica na neve,
rolou Valdivia pelo rio,
até que o reinado fluvial
do Bío-Bío se deteve
sobre os séculos do sangue
e estabeleceu a liberdade
nas areias dessangradas.
XIV
(Intermédio)
A Colônia cobre nossas terras (1)
Quando a espada descansou e os filhos
da Espanha dura, como espectros,
dos reinos e das selvas, até o trono,
montanhas de papel com uivos
enviaram ao monarca ensimesmado:
depois que na viela de Toledo
nu do Guadalquivir na esquina,
toda a história passou de mão em mão,
e pela boca dos portos andou
a mecha esfarrapada
dos conquistadores espectrais,
e os últimos mortos foram postos
dentro do ataúde, com procissões,
nas igrejas construídas com sangue,
a lei chegou ao mundo dos rios
e vejo o mercador com a sua bolsinha.
Ficou escura a extensão matutina,
roupas e teias de aranha propagaram
a escuridão, a tentação, o fogo
do diabo nas habitações.
Uma vela iluminou a vasta América
cheia de nevadas e favos de mel,
e por séculos falou ao homem em voz baixa,
tossiu trotando pelas ruazinhas,
persignou-se perseguindo centavos.
Chegou o nativo às ruas do mundo,
extenuado, levando as valas,
suspirando de amor entre as cruzes,
buscando o escondido
caminho da vida
sob a mesa da sacristia.
A cidade no esperma do cerol
fermentou, sob os panos negros,
e das raspaduras da cera
elaborou maçãs infernais.
América, a copa de acaju,
foi então um crepúsculo de chagas,
um lazareto alagado de sombras,
e no antigo espaço do frescor
cresceu a reverência do verme.
O ouro ergueu sobre as pústulas
maciças flores, heras silenciosas,
edifícios de sombra submersa.
Uma mulher coletava pus,
e o copo de substância
bebeu em honra do céu cada dia,
enquanto a fome dançava nas minas
do México dourado,
e o coração andino do Peru
chorava docemente
de frio entre os molambos.
Nas sombras do dia tenebroso
o mercador fez o seu reino
apenas iluminado pela fogueira
em que o herege, retorcido,
feito fagulhas, recebia
sua colheradazinha de Cristo.
No dia seguinte as senhoras,
ajeitando as entretelas,
relembravam o corpo enlouquecido,
atacado e devorado pelo jogo,
enquanto o aguazil examinava
a minúscula mancha do queimado,
graxa, cinza, sangue,
que os cachorros lambiam.
XV
As fazendas (2)
A terra andava entre os morgadios
de dobrão em dobrão, desconhecida,
massa de aparições e conventos,
até que toda a azul geografia
dividiu-se em fazendas e encomiendas.
Pela espaço morto andava a chaga
do mestiço e o chicote
do reinol e do negreiro.
O nativo era um espectro dessangrado
que recolhia as migalhas,
até que estas reunidas
dessem para comprar um título
pintado de letras douradas.
E no carnaval tenebroso
saía vestido de conde,
orgulhoso entre outros mendigos,
com um bastãozinho de prata.
XVI
Os novos proprietários (3)
Estancou-se assim o tempo na cisterna.
O homem dominado nas vazias
encruzilhadas, pedra do castelo,
tinta do tribunal, povoou de bocas
a cerrada cidade americana.
Quando já era a paz e a concórdia,
hospital e vice-rei, quando Arellano,
Rojas, Tapia, Castillo, Núnez, Pérez,
Rosales, López, Jorquera, Bermúdez,
os últimos soldados de Castela,
envelheceram atrás da Audiência,
tombaram.
mortos debaixo do cartapácio,
foram com os seus piolhos para a tumba
onde fiaram sonho
das adegas imperiais, quando
era a ratazana o único perigo
das terras encarniçadas,
assomou-se o biscainho com um saco,
o Errázuriz com suas alpargatas,
o Fernández Larraín a vender vedas,
o Aldunate da baeta,
o Eyzaguirre, rei das meias.
Entraram todos como povo faminto,
fugindo das pancadas, do policia.
Logo, de camiseta em camiseta,
expulsaram o conquistador
e estabeleceram a conquista
do armazém de importados.
Aí adquiriram o orgulho
comprado no mercado negro.
Apropriaram-se
das fazendas, chicotes, escravos,
catecismos, camisarias,
cepos, cortiços, bordéis,
e a tudo isto denominaram
santa cultura ocidental.
XVII
Comuneiros do Socorro (1781)
Foi Manuela Beltrán (quando rasgou os bandos
do opressor e gritou: “Morram os déspotas”)
quem derramou os novos cereais
por nossa terra.
Foi em Nova Granada, na Vila
do Socorro.
Os comuneiros
balançaram o vice-reinado
num eclipse precursor.
Uniram-se contra os estancos,
contra o sujo privilégio,
e levantaram a cartilha
das petições foreiras.
Uniram-se com armas e pedras,
milícia e mulheres, o povo, ordem e fúria, encaminhados
para Bogotá e sua linhagem.
Aí desceu o arcebispo.
“Tereis todos os vossos direitos,
em nome de Deus vos, prometo.
”
O povo juntou-se na praça.
O arcebispo celebrou
uma missa e um juramento.
Ele era a paz justiceira.
“Guardai as armas.
Cada um
em sua casa”, sentenciou.
Os comuneiros entregaram
as armas.
Em Bogotá
festejaram o arcebispo,
celebraram a sua traição,
seu perjúrio, na missa pérfida,
e negaram pão e direito.
Fuzilaram os caudilhos,
repartiram entre os povoados
suas cabeças recém-cortadas,
com as bênçãos do prelado
e os bailes do vice-reinado.
Primeiras, pesadas sementes
lançadas às regiões,
permaneceis, cegas estátuas,
chocando na noite hostil
a insurreição das espigas.
XVIII Tupac-Amaru (1781)
Condorcanqui Tupac-Amaru,
sábio senhor, pai justo,
viste subir a Tungasuca
a primavera desolada
dos patamares andinos
e, com ela, sal e desdita,
iniqüidades e tormentos.
Senhor Inca, pai cacique,
tudo em teus olhos se guardava
como num cofre calcinado
pelo amor e pela tristeza.
O índio te mostrou o ombro
no qual as novas mordidas
brilhavam nas cicatrizes
de outros castigos apagados,
e era um ombro e outro ombro,
todas as alturas sacudidas
pelas cascatas do soluço.
Era um soluço e outro soluço.
Até que armaste a jornada
dos povos cor de terra,
recolheste o pranto em tua taça
e endureceste as veredas.
Chegou o pai das montanhas,
a pólvora levantou caminhos,
e às aldeias humilhadas
chegou o pai da batalha.
Jogaram a manta na poeira,
uniram-se os velhos punhais,
e o búzio matinho
chamou os vínculos dispersos.
Contra a pedra sanguinária,
contra a inércia desgraçada,
contra o metal das correntes.
Porém dividiram o teu povo,
e irmão contra o irmão
mandaram, até que tombaram
as pedras da tua fortaleza.
Ataram os teus membros cansados
a quatro cavalos raivosos
e esquartejaram a luz
do amanhecer implacável.
Tupac-Amaru, sol vencido,
de tua glória desgarrada
sobe como o sol do mar
uma luz desaparecida.
As fundas aldeias de argila,
os teares sacrificados,
as úmidas casas de areia
dizem em silêncio: “Tupac”,
e Tupac é uma semente,
dizem em silêncio: “Tupac”,
e Tupac se guarda no sulco,
dizem em silêncio: “Tupac”,
e Tupac germina na terra.
XIX
América insurrecta (1800)
Nossa terra, vasta terra, soledades,
povoou-se de rumores, braços, bocas.
Uma calada sílaba ia ardendo,
congregando a rosa clandestina,
até as campinas trepidarem
recobertas de metais e galopes.
Foi dura a verdade como um arado.
Rompeu a terra, estabeleceu o desejo,
mergulhou suas propagandas germinais
e nasceu na secreta primavera.
Foi silenciada a sua flor, foi rechaçada
sua reunião de luz, foi combatido
o fermento coletivo, o beijo
das bandeiras escondidas,
porém surgiu derrubando as paredes,
apartando os cárceres do chão.
O povo escuro foi a sua taça,
recebeu a substância rechaçada,
propagando-a aos limites marítimos,
repisando-a em almofarizes indomáveis.
E saiu com as páginas feridas
e com a primavera do caminho.
Hora de ontem, hora do meio-dia,
hora de hoje outra vez, hora esperada
entre o minuto morto e o que nasce
na eriçada idade da mentira.
Pátria, nasceste dos lenhadores,
de filhos sem batizar, de carpinteiros,
dos que deram qual uma ave estranha
uma gota de sangue voador
e hoje duramente nascerás de novo,
lá onde o traidor e o carcereiro
te acreditam submersa para sempre.
Hoje do povo nascerás como outrora.
Hoje sairás do carvão e do orvalho.
Hoje chegarás a sacudir as portas
com mãos maltratadas, com pedaços
de alma sobrevivente, com racimos
de olhares que a morte não extinguiu,
com ferramentas agrestes
armadas entre farrapos.
XX
Bernardo O'Higgins Riquelme (1810)
O'Higgins, para celebrar-te
à meia-luz há que iluminar a sala.
À meia-luz do sul no outono
com tremor infinito de álamos.
És o Chile, entre patriarca e cavaleiro,
és um poncho de província, um menino
que ainda não sabe o seu nome,
um menino férreo e tímido na escola,
um rapazinho triste de província.
Em Santiago te sentes mal, te espiam
a roupa negra que te sobra,
e ao cruzar-te a fita, a bandeira
da pátria que nos fizeste,
tinha um cheiro de joio matutino
para o teu peito de estátua campestre.
Jovem, teu professor Inverno te acostumou à chuva
e na universidade das ruas de Londres
a névoa e a pobreza te outorgaram seus títulos
e um elegante pobre, errante incêndio
da nossa liberdade,
te deu conselhos de águia prudente
e te embarcou na história.
“Como se chama o senhor?”, riam
os “cavalheiros” de Santiago:
filho de amor, de uma noite de inverno,
a tua condição de abandonado
te construiu com argamassa agreste,
com seriedade de casa ou de madeira
trabalhada no sul, definitiva,
Tudo o tempo muda, menos o teu rosto.
És, O'Higgins, relógio invariável
com uma só hora em tua cândida esfera:
a hora do Chile, o único minuto
que permanece no horário vermelho
da dignidade combatente.
Assim o mesmo estarás entre os móveis
de goiabeira e as filhas de Santiago
ou em Rancagua rodeado de morte e pólvora.
És o mesmo sólido retrato
de quem não tem pai, só tem a pátria
de quem não tem noiva, só tem aquela
terra de flor de laranjeira
que te conquistará a artilharia.
Te vejo no Peru escrevendo cartas.
Não há desterrado igual, maior exílio.
É toda a província desterrada.
O Chile iluminou-se como um salão
quando não estavas.
Em dissipação
um rigodão de ricos substitui
a tua disciplina de soldado ascético,
e a pátria ganhada pelo teu sangue
sem ti foi governada como um baile
que o povo faminto espia de fora.
Já não podias entrar na festa
com suor, sangue e pó de Rancagua.
Não teria sido de bom-tom
para os cavalheiros capitais.
Teria contigo entrado o caminho,
um cheiro de suor de cavalos,
o cheiro da pátria na primavera.
Não podias estar neste baile.
A tua festa foi um castelo de explosões.
O teu baile desgrenhado é a contenda.
Teu fim de festa foi a sacudidela
da derrota, o porvir aziago
para Mendoza, com a pátria nos braços.
Olha agora no mapa para baixo,
para o delgado cinturão do Chile
e coloca na neve soldadinhos,
jovens pensativos na areia,
sapadores que brilham e se apagam.
Fecha os olhos, dorme, sonha um pouco,
o único sonho, o único que volta
a teu coração: uma bandeira
de três cores no sul, a chuva
caindo, o sol rural sobre a tua terra,
os disparos do povo em rebeldia
e duas ou três palavras tuas quando
fossem estritamente necessárias.
Se sonhas, o teu sonho hoje está cumprido.
Sonha-o, pelo menos, em teu túmulo.
Nada mais saibas porque, como antes,
depois das batalhas vitoriosas,
dançam os señoritos no palácio
e o mesmo rosto faminto
espia da sombra das ruas.
Porém herdamos a tua firmeza,
o teu inalterável coração calado,
a tua indestrutível posição paterna,
e tu, entre a avalancha cegadora
de hussardos do passado, entre os ágeis
uniformes azuis e dourados,
estás hoje conosco, és nosso,
pai do povo, imutável soldado.
XXI
San Martín (1810)
Andei, San Martín, tanto e de lugar em lugar,
que descartei o teu traje, tuas esporas, sabia
que algum dia, andando pelos caminhos
feitos para voltar, nos finais
de cordilheira, na pureza
da intempérie que de ti herdamos,
acabaríamos nos vendo de um dia para outro.
Custa distinguir entre os nós
de ceibo, entre raízes,
entre veredas assinalar o teu rosto,
entre as aves distinguir o teu olhar,
encontrar no ar a tua existência.
És a terra que nos deste, um ramo
de cedrón que fere com o seu aroma,
que não sabemos onde está, de onde
chega o seu odor de pátria às pradarias.
Te galopamos, San Martín, saímos
amanhecendo a percorrer o teu corpo,
respiramos hectares de tua sombra,
fazemos fogo sobre a tua estatura.
És extenso entre todos os heróis.
Outros foram de planície em planície,
de encruzilhada em torvelinho,
tu foste construído de confins
e começamos a ver a tua geografia,
tua planície final, teu território.
Enquanto amadurecido o tempo dissemina
como água eterna os torrões
do rancor, os afiados
abraços da fogueira,
mais terreno compreendes, mais sementes
de tua tranqüilidade povoam os montes,
mais extensão dás à primavera.
O homem que constrói é logo o fumo
do que construiu, ninguém renasce
de seu próprio braseiro consumido:
de sua diminuição fez estoque, caiu quando somente teve o pó.
Tu abarcaste na morte mais espaço.
Tua morte foi um silêncio de celeiro.
Passou a vida tua, e outras vidas,
portas se abriram, muros se ergueram,
e a espiga saiu para ser derramada.
San Martín, outros capitães
fulguram mais do que tu, levam bordados
seus pâmpanos de sol fosforescente,
outros ainda falam como cachoeiras,
mas não há nenhum como tu, vestido
de terra e solidão, de neve e trevo.
Te encontramos no retorno do rio,
te saudamos na forma agrária
da Tucumania florida,
e nos caminhos, a cavalo,
te cruzamos correndo e levantando
a tua vestimenta, pai poeirento.
Hoje o sol e a lua, o vento grande
maduram a tua estirpe, a tua singela
composição: a tua verdade era
verdade de terra, arenoso amassilho,
estável como o pão, lâmina fresca
de argila e cereais, pampa puro.
E assim és até hoje, lua e galope,
estação de soldados, intempérie,
por onde vamos mais uma vez guerreando,
caminhando entre vilas e planuras,
instituindo a tua verdade terrestre,
esparzindo o teu germe espaçoso,
abanando as páginas do trigo.
Assim seja, e que não nos acompanhe
a paz até que entremos
depois dos combates em teu corpo
e durma a medida que tivemos
em tua extensão de paz germinadora.
XXII
Mina (1817)
Mina, das vertentes montanhosas
chegaste como um fio de água dura.
Espanha clara, Espanha transparente
te pariu entre dores, indomável,
e tens a dureza luminosa
da água torrencial da montanha.
Longamente, nos séculos e nas terras,
sombra e fulgor em teu berço lutaram,
unhas rampantes degolavam
a claridade do povo,
e os antigos falcoeiros,
em suas ameias eclesiásticas,
espreitavam o pão, negavam
entrada ao rio dos pobres.
Mas sempre na torre impiedosa,
Espanha, existe um espaço
para o diamante rebelde e sua estirpe
de luz agonizante e renascente.
Não em vão o estandarte de Castela
tem a cor do vento comuneiro,
não em vão por teus vales de granito
corre a luz azul de Garcilaso,
não em vão em Córdoba, entre aranhas
sacerdotais, deixa Góngora
as suas bandejas de pedrarias
aljofaradas pelo gelo.
Espanha, entre as tuas garras
de cruel antigüidade, o teu povo puro
sacudiu as raízes do tormento,
sufragou as azêmolas feudais
com invencível sangue derramado,
e em ti a luz, como a sombra, é velha,
gastada em devorantes cicatrizes.
Junto à paz do pedreiro cruzada
pela respiração dos carvalhos,
junto aos mananciais estrelados
nos quais fitas e sílabas reluzem,
sobre a tua idade, como um tremor sombrio,
vive em sua escalinata um gerifalte.
Fome e dor foram a sílica
de tuas areias ancestrais
e um tumulto surdo, enredado
às raízes de teus povos,
deu à liberdade do mundo
uma eternidade de relâmpagos,
de cantos e de guerrilheiros.
As ribanceiras de Navarra
guardaram o raio recente.
Mina arrancou do precipício
o colar de seus guerrilheiros:
das aldeias invadidas,
das povoações noturnas
extraiu o fogo, alimentou
a abrasadora resistência,
atravessou fontes nevadas,
atacou em rápidas voltas,
surgiu dos desfiladeiros,
brotou das pradarias.
Foi sepultado em prisões,
e ao alto vento da serra
retornou, revolto e sonoro,
seu manancial intransigente.
À América o leva o vento
da liberdade espanhola,
e de novo atravessa bosques
e fertiliza as campinas
seu coração inesgotável.
Em nossa luta, em nossa terra
se sangraram seus cristais,
lutando pela liberdade
indivisível e desterrada.
No México ataram a água
das vertentes espanholas.
E ficou imóvel e calada
a sua transparência caudalosa.
XXIII
Miranda morre na névoa (1816)
Se entrais na Europa tarde com cartola
no jardim condecorado
por mais de um outono junto ao mármore
da fonte enquanto caem folhas
de ouro andrajoso no Império
se a porta recorta uma figura
sobre a noite de São Petersburgo
tremem os cascavéis do trenó
e alguém na soledade branca alguém
o mesmo tempo a mesma pergunta
se sais pela florida porta
da Europa um cavalheiro sombra traje
inteligência signo cordão de ouro
Liberdade Igualdade olha seu rosto
entre a artilharia que troveja
se nas ilhas a alfombra o conhece
a que recebe oceanos Passe o Senhor Já o creio
Quantas embarcações E a névoa
seguindo passo a passo a sua jornada
se nas cavidades de lojas livrarias
há alguém luva espada com um mapa
com a pasta petulante cheia
de povoações de navios de ar
se em Trinidad pela costa o fumo
de um combate e de outro o mar de novo
e outra vez a escada de Bay Street a atmosfera
que o recebe impenetrável
como um compacto interior de maçã
e outra vez esta mão patrícia este azulado
guante guerreiro na ante-sala
longos caminhos guerras e jardins
a derrota em seus lábios outro sal
outro sal outro vinagre ardente
se em Cádiz amarrado ao muro
pela grossa corrente seu pensamento o frio
horror de espada o tempo o cativeiro
se baixas a subterrâneos entre ratazanas
e a alvenaria leprosa outro ferrolho
num caixão de enforcado o velho rosto
onde morreu afogada uma palavra
uma palavra nosso nome a terra
aonde queriam ir seus passos
a liberdade para seu fogo errante
o descem com cordéis à molhada
terra inimiga ninguém saúda faz frio
faz frio de tumba na Europa.
XXIV
José Miguel Carrera (1810)
EPISÓDIO Disseste Liberdade antes de ninguém,
quando o sussurro ia de pedra em pedra,
escondido nos pátios, humilhado.
Disseste Liberdade antes de ninguém.
Libertaste o filho do escravo.
Iam como as sombras mercadores
vendendo o sangue de mares estranhos.
Libertaste o filho do escravo.
Fundaste a primeira imprensa.
Chegou a letra ao povo obscurecido,
a notícia secreta abriu os lábios.
Fundaste a primeira imprensa.
Implantaste a escola no convento.
Retrocedeu a gorda teia de aranha
e o rincão dos dízimos sufocantes.
Implantaste a escola no convento.
CORO
Conheça-se a tua condição altiva,
senhor cintilante e aguerrido.
Conheça-se o que tombou brilhando
de tua velocidade sobre a pátria.
Vôo bravio, coração de púrpura.
Conheçam-se as tuas chaves desbeiçadas
abrindo os ferrolhos da noite.
Ginete verde, raio tempestuoso.
Conheça-se o teu amor de mãos cheias,
a tua lâmpada de luz vertiginosa.
Racimo de uma cepa transbordante.
Conheça-se o teu esplendor instantâneo,
o teu errante coração, o teu fogo diurno.
Ferro iracundo, pétala patrícia.
Conheça-se o teu raio de ameaça
destroçando as cúpulas covardes.
Torre de tempestade, ramo de acácia.
Conheça-se a tua espada vigilante,
a tua fundação de força e meteoro.
Conheça-se a tua rápida grandeza.
Conheça-se a tua indomável compostura.
EPISÓDIO Vai pelos mares, entre idiomas,
vestidos, aves estrangeiras,
traz naves libertadoras,
escreve fogo, ordena nuvens,
desentranha sol e soldados,
cruza a névoa em Baltimore
consumindo-se de porta em porta,
créditos e homens o desbordam,
todas as ondas o acompanham.
Junto ao mar de Montevidéu,
em sua casa desterrada,
abre uma oficina, imprime balas.
Rumo ao Chile vive a flecha
de sua direção insurgente,
arde a fúria cristalina
que o conduz, e endereça
a cavalgada do resgate
montado nas crinas ciclônicas
de sua despenhada agonia.
Seus irmãos aniquilados
gritam para ele do paredão
da vingança.
Sangue seu
tinge como labareda
nos adobes de Mendoza
seu trágico trono vazio.
Sacode a paz planetária
do pampa como um circuito
de vaga-lumes infernais.
Açoita as cidadelas
com o uivo das tribos.
Enfeixa as cabeças cativas
no furacão das lanças.
Seu poncho desatado
relampeja na fumarada
e na morte dos cavalos.
Jovem Pueyrredón, não relates
o desolado calafrio
de seu final, não me atormentes
com a noite do abandono,
quando o levam a Mendoza
mostrando o marfim de sua máscara
a solidão de sua agonia.
CORO Pátria, preserva-o em teu manto,
acolhe este amor peregrino:
não o deixes rolar para o fundo
de sua tenebrosa desgraça:
ergue a teu rosto este fulgor,
esta lâmpada inolvidável,
prega de novo esta renda frenética,
chama esta pálpebra estrelada,
guarda o novelo deste sangue
para as tuas teias orgulhosas.
Pátria, recolhe esta carreira,
a luz, a gota malferida,
este cristal agonizante,
este vulcânico anel.
Pátria, galopa para defendê-lo,
galopa, corre, corre, corre.
ÊXODO Levam-no até os muros de Mendoza,
à árvore cruel, à vertente
de sangue inaugurado, ao solitário
tormento, ao final frio da estrela.
Vai pelos caminhos inconclusos,
sarça e taipais desdentados,
álamos que lhe atiram ouro morto,
rodeado por seu orgulho inútil
como por uma túnica andrajosa
a que o pó da morte chega.
Pensa em sua dessangrada dinastia,
na luta inicial sobre os carvalhos
desgarradores da infância,
a escola castelhana e o escudo
rubro e viril da milícia hispânica,
sua tribo assassinada, a doçura
do matrimônio, entre as flores de laranjeira,
o desterro, as lutas pelo mundo,
O'Higgins enigma embandeirado,
Javiera sem saber nos remotos
jardins de Santiago.
Mendoza insulta sua linhagem negra,
ataca a sua vencida investidura,
e entre as pedras lançadas sobe
para a morte.
Nunca um homem teve
um final mais exato.
Das ásperas
investidas, entre vento e animais,
até a azinhaga onde sangraram
todos os de seu sangue.
Cada degrau
do cadafalso o ajusta ao seu destino.
Já ninguém pode continuar a cólera.
A vingança, o amor fecham as portas.
Os caminhos amarraram o errante.
E quando disparam, e através
de seu pano de príncipe do povo
assoma sangue, é sangue que conhece
a tetra infame, sangue que chegou
aonde tinha de chegar, ao chão
de lagares sedentos que esperavam
as uvas derrotadas de sua morte.
Indagou pela neve da pátria.
Tudo era névoa nos eriçados altos.
Viu os fuzis cujo ferro
fez nascer o seu amor desmoronado,
sentiu-se sem raízes, passageiro
do fumo, na batalha solitária,
e caiu envolto em pó e sangue
como em dois braços de bandeira.
CORO Hussardo infortunado, jóia ardente,
sarça acesa na pátria nevada.
Chorai por ele, chorai até que molhem,
mulheres, as vossas lágrimas a terra,
a terra que ele amou, a sua idolatria.
Chorai, guerreiros ásperos do Chile,
acostumados à montanha e à onda,
este vazio é qual uma nevada,
esta morte é o mar que nos atinge.
Não pergunteis por quê, ninguém diria
a verdade destroçada pela pólvora.
Não pergunteis quem foi, ninguém arrebata
o crescimento da primavera,
ninguém matou a rosa do irmão.
Guardemos cólera, dor e lágrimas,
enchamos o vazio desolado
e que recorde a fogueira na noite
a luz das estrelas falecidas.
Irmã, guarda o teu rancor sagrado.
A vitória do povo necessita
a voz de tua ternura triturada.
Estendei mantos em sua ausência
para que possa - frio e enterrado -
com o seu silêncio sustentar a pátria.
Mais de uma vida foi a sua vida.
Buscou a integridade como uma chama.
A morte foi com ele até deixá-lo
para sempre completo e consumido.
ANTÍSTROFE Guarde o loureiro doloroso a sua extrema substância de inverno.
A sua coroa de espinhos levemos areia radiante,
fios de estirpe araucana resguardem a lua mortuária,
folhas de boldo fragrante resolvam a paz de sua tumba,
neve nutrida nas águas imensas e escuras do Chile,
plantas que amou, melissas em xícaras de argila silvestre,
ásperas plantas amadas pelo amarelo centauro,
negros racimos transbordantes de elétrico outono na terra,
olhos sombrios que arderam sob os seus beijos terrestres.
Levante a pátria as suas aves, suas asas injustas, suas pálpebras rubras,
voe até o hussardo ferido a voz do queltehue na água,
sangre a loica a sua mancha de aroma escarlate rendendo tributo
àquele cujo vôo estendera a noite nupcial da pátria
e o condor suspenso na altura imutável coroe com plumas sangrentas
o peito adormecido, a fogueira que jaz nos degraus da cordilheira,
parta o soldado a rosa iracunda esmagada no muro esmagado,
pule o camponês ao cavalo de negra montaria e focinho de espuma,
volte ao escravo do campo a sua paz de raízes, o seu escudo enlutado,
levante o mecânico a sua pálida torre tecida de estanho noturno:
o povo que nasce no berço torcido de vimes e mãos de herói,
o povo que sobe de negros adobes de minas e bocas sulfúricas,
o povo levante o martírio e a urna e envolva a lembrança
com a sua ferroviária grandeza e a sua eterna balança de pedras e feridas
até que a terra fragrante decrete copihues molhados e livros abertos,
ao menino invencível, à lufada insigne, ao terno temível e acerbo soldado.
E guarde seu nome o duro domínio do povo em sua luta,
como o nome da nave resiste ao combate marinho:
a pátria em sua proa o inscreva e o beije o relâmpago
porque assim foi a sua livre e delgada e ardente matéria.
XXV
Manuel Rodríguez
CUECA Senhora, dizem que onde,
minha mãe dizem, disseram,
a água e o vento dizem
que viram o guerrilheiro.
Vida
Pode ser um bispo,
pode e não pode,
pode ser só o vento
sobre a neve:
sobre a neve, sim,
mãe, não olhes,
que chega a galope
Manuel Rodríguez.
Já vem o guerrilheiro
pelo ribeiro.
CUECA Saindo de Melipilla,
correndo por Talagante,
cruzando por San Fernando,
amanhecendo em Pomaire.
Paixão
Passando por Rancagua,
por San Rosendo,
por Cauquenes, por Chena,
por Nacimiento:
por Nacimiento, sim,
desde Chiñigüe,
por toda parte vem
Manuel Rodríguez.
Este cravo lhe damos,
com ele vamos.
CUECA Que se apague a guitarra,
que a pátria está de luto.
Nossa terra fica escura.
Mataram o guerrilheiro.
E Morte
Em Til-Til foi morto
por assassinos,
suas costas sangram
pelo caminho:
pelo caminho, sim.
Quem o diria,
ele que era o nosso sangue,
nossa alegria.
A terra está chorando.
Vamos nos calando.
XXVI
Artigas
(I)
Artigas crescia entre os matagais e foi tempestuosa
a sua passagem porque nas pradarias crescendo o galope de pedra ou sino
chegou a sacudir a inclemência do ermo como repetida centelha,
chegou a acumular a cor celestial estendendo os cascos sonoros
até que nasceu uma bandeira empapada no uruguaiano rocio.
(II)
Uruguai, Uruguai, uruguaiam os cantos do rio uruguaio,
as aves tagarelas, a rola de voz malferida, a torre do trovão uruguaio
proclamam o grito celeste que diz Uruguai no vento
e se a cascata redobra e repete o galope dos cavalheiros amargos
que pela fronteira recolhem os últimos grãos de sua vitoriosa derrota,
estende-se o uníssono nome de pássaro puro,
a luz de violino que batiza a pátria violenta.
(III)
Ó Artigas, soldado do campo crescente, quando para toda a tropa bastava
o teu poncho estrelado de constelações que conhecias,
até que o sangue corrompesse e redimisse a aurora, e acordassem teus homens
marchando vergados pelos poeirentos entrançados do dia.
Ó pai constante do itinerário, caudilho do rumo, centauro da poeirada!
(IV)
Passaram os dias de um século e seguiram as horas atrás de teu exílio:
atrás da selva enredada por mil teias de aranha de ferro:
atrás do silêncio no qual só tombavam os frutos apodrecidos sobre os pântanos,
as folhas, a chuva desatada, a música do urutau,
os passos descalços dos paraguaios entrando e saindo no sol da sombra,
a trança do chicote, os cepos, os corpos roídos de escaravelhos:
um grave ferrolho se impôs apartando a cor da selva
e o arroxeado crepúsculo fechava com os seus cinturões
os olhos de Artigas que buscam em sua desventura a luz uruguaia.
(V)
“Amargo trabalha o exílio”, escreveu esse irmão de minha alma
e assim o entretanto da América caiu como pálpebra escura
sobre o olhar de Artigas, ginete do calafrio,
opresso no imóvel olhar de vidro de um déspota num reino vazio.
(VI)
A América tua tremia com penitenciais dores:
Oribes, Alveares, Carreras, nus, corriam até o [sacrifício:
morriam, nasciam, caíam: os olhos do cego matavam: a voz dos mudos
falava.
Os mortos, por fim, encontraram partido,
por fim conheceram o seu bando patrício na morte.
E todos aqueles sangrentos souberam que pertenciam
à mesma fileira: a terra não tem adversários.
(VII)
Uruguai é palavra de pássaro, o idioma da água,
é sílaba de uma cascata, é tormento de cristalaria,
Uruguai é a voz das frutas na primavera fragrante,
é um beijo fluvial dos bosques na máscara azul do Atlântico.
Uruguai é a roupa estendida no ouro dum dia de vento,
é o pão na mesa da América, a pureza do pão na mesa.
(VIII)
E se Pablo Neruda, o cronista de todas as coisas, te devia,
[Uruguai, este canto,
este canto, este conto, esta migalha de espiga, este Artigas,
não faltei a meus deveres nem aceitei os escrúpulos do intransigente:
esperei uma hora quieta, espreitei uma hora inquieta,
[recolhi os herbários do rio,
afundei a minha cabeça em tua areia e na prata dos peixes-reis,
na clara amizade de teus filhos, em teus desarrumados mercados
me purifiquei, até sentir-me devedor de teu olor e teu amor.
E talvez esteja escrito o rumor que teu amor e teu olor me conferiram
nestas palavras obscuras, que deixo em memória de teu capitão luminoso.
XXVII
Guayaquil (1822)
Quando entrou San Martín, algo noturno
de caminho impalpável, sombra, couro,
entrou na sala.
Bolívar esperava.
Bolívar farejou o que chegava.
Era aéreo, rápido, metálico,
todo antecipação, ciência do vôo,
seu contido ser tremulava
ali, no quarto imobilizado
na escuridão da história.
Vinha das alturas indizíveis
da atmosfera constelada,
ia seu exército em frente
quebrando noite e distância,
capitão de um corpo invisível,
da neve que o seguia.
A lâmpada tremeu, a porta
atrás de San Martin manteve
a noite, seus ladridos, seu tumor
tíbio de desembocadura.
As palavras abriram uma trilha
que neles mesmos ia e vinha.
Aqueles dois corpos se falavam,
se rechaçavam, se escondiam,
se incomunicavam, se fugiam.
San Martín trazia do sul
um saco de números cinzentos,
a solidão das montarias
infatigáveis, os cavalos
batendo terras, agregando-se
a sua fortaleza arenária.
Entraram com ele os ásperos
arrieiros do Chile, um lento
exército ferruginoso,
o espaço preparatório,
as bandeiras com apelidos
envelhecidos no pampa.
O quanto falaram caiu de corpo a corpo
no silêncio, no fundo interstício.
Não eram palavras, era a profunda
emanação das terras adversas,
da pedra humana que toca
outro metal inacessível.
As palavras voltaram a seus lugares.
Cada um, diante de seus olhos
via as suas bandeiras.
Um, o tempo com flores deslumbrantes,
outro, o roído passado,
os farrapos da tropa.
Junto a Bolívar uma mão branca
o esperava, o despedia,
acumulava o seu acicate ardente,
estendia o linho no tálamo.
San Martín era fiel a seus prados.
Seu sonho era um galope,
uma rede de correias e perigos.
Sua liberdade era um pampa unânime.
Uma ordem cereal foi a sua vitória.
Bolívar construía um sonho,
uma ignorada dimensão, um fogo
de velocidade duradoura,
tão incomunicável que o fazia
prisioneiro, entregue à sua substância.
Caíram as palavras e o silêncio.
Abriu-se outra vez a porta, outra vez toda
a noite americana, o largo rio
de muitos lábios palpitou um segundo.
San Martín regressou daquela noite
às soledades e ao trigo.
Bolívar continuou só.
XXVIII
Sucre
Sucre nas altas terras desbordando
o amarelo perfil dos montes,
Hidalgo tomba, Morelos recolhe
o ruído, o tremor de um sino
propagado na terra e no sangue.
Páez percorre os caminhos repartindo o ar conquistado,
cai o orvalho em Cundinamarca
sobre a fraternidade das feridas,
o povo insurge inquieto
desde a latitude à secreta
célula, emerge um mundo
de despedidas e galopes,
nasce a cada minuto uma bandeira
qual uma flor antecipada:
bandeiras feitas de lenços
sangrentos e de livros livres,
bandeiras arrastadas pelo pó
dos caminhos, destroçadas
pela cavalaria, abertas
por estampidos e relâmpagos.
As bandeiras
Nossas bandeiras daquele tempo
fragrante, bordadas apenas,
nascidas apenas, secretas
como um profundo amor, de súbito
encarniçadas ao vento
azul da pólvora amada.
América, extenso berço, espaço
de estrela, romã madura,
de súbito encheu-se de abelhas
a tua geografia, de sussurros
conduzidos pelos adobes
e pelas pedras, de mão em mão,
encheram-se de roupas as ruas
como colméia atordoada.
Na noite dos disparos
v baile brilhava nos olhos,
subia como uma laranja a flor de laranjeira pelas muralhas,
beijos de adeus, beijos de farinha,
o amor amarrava beijos,
e a guerra cantava com
a sua guitarra pelos caminhos.
XXIX
Castro Alves do Brasil
Castro Alves do Brasil, para quem cantaste?
Para a flor cantaste? Para a água
cuja formosura diz palavras às pedras?
Cantaste para os olhos, para o perfil recortado
da que então amaste? Para a primavera?
Sim, mas aquelas pétalas não tinham orvalho,
aquelas águas negras não tinham palavras,
aqueles olhos eram os que viram a morte,
ardiam ainda os martírios por detrás do amor,
a primavera estava salpicada de sangue.
- Cantei para os escravos, eles sobre os navios,
como um cacho escuro da árvore da ira
viajaram, e no porto se dessangrou o navio
deixando-nos o peso de um sangue roubado.
- Cantei naqueles dias contra o inferno,
contra as afiadas línguas da cobiça,
contra o ouro empapado de tormento,
contra a mão que empunhava o chicote,
contra os dirigentes de trevas.
- Cada rosa tinha um morto nas raízes.
A luz a noite, o céu, cobriam-se de pranto,
os olhos apartavam-se das mãos feridas
e era a minha voz a única que enchia o silêncio.
- Eu quis que do homem nos salvássemos,
eu cria que a rota passasse pelo homem,
e que daí tinha de sair o destino.
Cantei para aqueles que não tinham voz.
Minha voz bateu em portas até então fechadas
para que, combatendo, a liberdade entrasse.
Castro Alves do Brasil, hoje que o teu livro puro
torna a nascer para a terra livre,
deixa-me a mim, poeta da nossa América,
coroar a tua cabeça com os louros do povo.
Tua voz uniu-se à eterna e alta voz dos homens.
Cantaste bem.
Cantaste como se deve cantar.
XXX
Toussaint L'Ouverture
Haiti, de sua doçura emaranhada,
extrai pétalas patéticas,
retitude de jardins, edifícios
de grandeza, arrulha
o mar como um avô escuro
sua velha dignidade de pele e espaço.
Toussaint L'Ouverture ata
a vegetal soberania,
a majestade acorrentada,
a surda voz dos tambores,
e ataca, cerra o passo, sobe,
ordena, expulsa, desafia
como um monarca natural,
até que cai na rede tenebrosa
e o levam pelos mares
arrastado e atropelado
como o regresso de sua raça,
atirando à morte secreta
das sentinas e dos sótãos.
Mas na ilha ardem as penhas,
falam os ramos escondidos,
se transmitem as esperanças,
surgem os muros do baluarte.
A liberdade é o bosque teu,
escuro irmão, preserva
a tua memória de sofrimentos
e que os heróis passados
custodiem a tua mágica espuma.
XXXI
Morazán (1842)
Alta noite e Morazán vela.
É hoje, ontem, amanhã? Tu o sabes.
Fita central, América angustura que os golpes azuis de dois mares
foram fazendo, levantando no ar
cordilheiras e plumas de esmeralda:
território, unidade, delgada deusa
nascida no combate da espuma.
Desmoronam-se filhos e vermes,
estendem-se sobre ti as alimárias
e uma tenaz te arrebata o sonho
e um punhal com teu sangue te salpica
enquanto se despedaça o teu estandarte.
Alta é a noite e Morazán vela,
Já vem o tigre brandindo um machado.
Vêm para devorar-te as entranhas.
Vêm para dividir as estrelas.
Vêm,
pequena América olorosa,
para cravar-te na cruz, para desolar-te,
para derrubar o metal de tua bandeira.
Alta é a noite e Morazán vela.
Invasores encheram a tua casa.
E te partiram como fruta morta,
e outros carimbaram em tuas costas
os dentes de uma estirpe sanguinária,
e outros te saquearam nos portos
carregando sangue sobre as tuas dores.
É hoje, ontem, amanhã? Tu o sabes.
Irmãos, amanhece.
(E Morazán vela.
)
XXXII
Viagem pela noite de Juárez
Juárez, se recolhêssemos
o íntimo estrato, a matéria
da profundidade, se cavando tocássemos
o profundo metal das repúblicas,
esta unidade seria a tua estrutura,
a tua impassível bondade, a tua mão teimosa.
Quem olha a tua sobrecasaca,
a tua parca cerimônia, o teu silêncio,
o teu rosto feito de tetra americana,
se não é daqui, se não nasceu nestas
planícies, na argila montanhosa
de nossas soledades, não entende.
Te falarão divisando uma pedreira.
Te passarão como se passa um rio.
Darão a mão a uma árvore, a um sarmento,
a um sombrio caminho da terra.
Para nós és pão e pedra,
forno e produto da estirpe escura.
Teu rosto foi nascido em nosso barro.
Tua majestade é a minha região nevada,
teus olhos a enterrada olaria.
Outros terão o átomo e a gota
do elétrico fulgor, de brasa inquieta:
tu és muro feito de nosso sangue,
tua retidão impenetrável
sai de nossa dura geologia.
Nada tens para dizer ao ar,
ao vento de ouro que vem de longe,
que o diga a terra ensimesmada,
a cal, o mineral, a levedura.
Visitei eu os muros de Querétaro,
toquei cada penhasco na colina,
a distância, a cicatriz e a cratera,
o cacto de ramagens espinhosas:
ninguém persiste ali, foi o fantasma,
ninguém ficou dormido na dureza:
só existem a luz e os aguilhões
do matagal, e uma presença pura:
Juárez, a tua paz de noite justiceira,
definitiva, férrea e estrelada.
XXXIII
O vento sobre Lincoln
À s vezes o vento do sul resvala
sobre a sepultura de Lincoln trazendo
vozes e brisas de cidades e árvores
nada se passa em sua tumba as letras não se mexem
o mármore se suaviza com a lentidão de séculos
o velho cavaleiro já não vive
não existe o buraco de sua antiga camisa
se mesclaram as fibras do tempo e o pó humano
que a vida tão realizada diz uma tremelicante
senhora da Virgínia uma escola que canta
mais de uma escola canta pensando em outras coisas
mas o vento do sul a emanação de terras
de caminhos às vezes se detém na tumba
sua transparência é um periódico moderno
chegam surdos rancores lamentos como aqueles
o sonho imóvel vencedor jazia
sob os pés cheios de barro que passaram
cantando e arrastando fadiga e sangue
pois bem nesta manhã volta ao mármore o ódio
0 ódio do sul branco pelo velho adormecido
nas igrejas os negros estão sozinhos com Deus
com Deus conforme acreditam nas praças
nos trens o mundo tem certos letreiros
que dividem o céu a água o ar
que vida mais perfeita diz a delicada
senhorita e na Geórgia matam a pau
todas as semanas um jovem negro
enquanto Paul Robeson canta como a terra
como o começo do mar e da vida
canta sobre a crueldade e os anúncios
de coca-cola canta para os irmãos
de mundo a mundo entre os castigos
canta para os novos filhos para
que o homem ouça e suste o seu chicote
a mão cruel a mão que Lincoln abatera
a mão que ressurge como branca víbora
o vento passa o vento sobre a tumba traz
conversações restos de juramentos algo
que chora sobre o mármore como chuva fina
de antigas e esquecidas dores insepultas
o Klan matou um bárbaro perseguindo-o
enforcando o pobre negro a uivar queimando-o
vivo e esburacado pelos tiros
debaixo dos capuzes os prósperos rotarianos
não sabem assim crêem que são só verdugos
covardes carniceiros detritos do dinheiro
com a cruz de Caim regressam
para lavar as mãos e rezar no domingo
telefonam ao Senado contando suas façanhas
disto nada fica sabendo o morto de Illinois
porque o vento de hoje fala uma linguagem
de escravidão de fúrias de cadeias
e através das lousas o homem já não existe
é um esmiuçado polvilho de vitória
de vitória arrasada depois do triunfo morto
não só a camisa do homem se gastou
não só o buraco da morte nos mata
mas também a primavera repetida o transcurso
que rói o vencedor com o seu canto covarde
morre o valor de ontem derramam-se de novo
as furiosas bandeiras do malvado
alguém canta junto ao monumento é um coro
de meninas de escola vozes ácidas
que sobem sem tocar o pó externo
que passam sem descer ao lenhador adormecido
à vitória morta sob as reverências
enquanto burlão e viajeiro sorri o vento sul.
XXXIV
Martí (1890)
Cuba, flor espumosa, efervescente
açucena escarlate, jasmineiro,
custa-se a encontrar sob a rede florida
o teu sombrio carvão martirizado,
a antiga ruga deixada pela morte,
a cicatriz coberta de espuma.
Porém dentro de ti como clara
geometria de neve germinada,
onde se abrem tuas últimas cortiças,
jaz Martí como pura amêndoa.
Está no fundo circular da aragem,
está no centro azul do território,
e reluz como uma gota d'água
sua adormecida pureza de semente.
É de cristal a noite que o cobre.
Pranto e dor, de súbito, cruéis gotas
atravessam a terra até o recinto
da infinita claridade adormecida.
O povo às vezes baixa suas raízes
através da noite até tocar
a água quieta em seu pranto oculto.
À vezes cruza o rancor iracundo
pisoteando semeadas superfícies
e um morto cai na taça do povo.
Às vezes volta o açoite enterrado
a silvar na brisa da cúpula
e uma gota de sangue qual uma pétala
cai no chão e mergulha no silêncio.
Tudo chega ao fulgor imaculado.
Os tremores minúsculos batem
às portas do cristal oculto.
Toda lágrima toca a sua corrente.
Todo fogo estremece a sua estrutura.
E assim da jacente fortaleza,
do oculto germe caudaloso
saem os combatentes da ilha.
Chegam de um manancial determinado.
Nascem de uma vertente cristalina.
XXXV
Balmaceda de Chile (1891)
Mr.
North chegou de Londres.
É um magnata no nitrato.
Antes trabalhou no pampa,
de jornaleiro, algum tempo,
mas despediu-se e se foi.
Volta agora, envolto em libras.
Traz dois cavalinhos árabes
e uma pequena locomotiva
toda de ouro.
São presentes
para o presidente, um tal
de José Manuel Balmaceda.
“You are very clever, Mr.
North.
”
Rubén Darío entra por esta casa,
por esta presidência como quer.
Uma garrafa de conhaque o espeta.
O jovem Minotauro envolto em névoa
de rios, transpassado de sons,
sobe a grande escada que será
tão difícil de subir para Mr.
North.
O presidente regressou há pouco
do desolado norte salitroso,
ali dizendo: “Esta terra, esta riqueza
será do Chile, esta matéria branca
converterei em escolas, em estradas,
em pão para o meu povo”.
Agora entre papéis, no seu palácio,
sua fina forma, seu intenso olhar,
olha para os desertos do salitre.
Seu nobre rosto não sorri.
A cabeça, de pálida postura,
tem a antiga qualidade de um morto,
de um velho antepassado da pátria.
Todo o seu ser é um exame solene.
Algo desassossega, como rajada fria,
a sua paz, o seu movimento pensativo.
Rechaçou os cavalos, a maquininha de ouro
de Mr.
North.
Remeteu-os sem vê-los
para o dono, o poderoso gringo.
Apenas acenou com a mão desdenhosa.
“Agora, Mr.
North, não posso
entregar-lhe estas concessões,
não posso amarrar a minha pátria
aos mistérios da City.
”
Mr.
North instala-se no Club.
Cem uísques vão para a sua mesa,
cem jantares para advogados,
para o Parlamento, champanha
para os tradicionalistas.
Correm agentes para o norte,
os fios vão e vêm e voltam.
As suaves libras esterlinas
tecem como aranhas douradas
uma teia inglesa, legítima
para o meu povo, uma roupa, sob medida
de sangue, pólvora e miséria.
“You are very clever, Mr.
North.
”
A sombra sitia Balmaceda.
Ao chegar o dia, o insultam
e o escarnecem os aristocratas,
ladram-lhe no Parlamento,
o fustigam e caluniam.
Produzem a batalha, e ganharam.
Mas não basta: é preciso torcer
a história.
As boas vinhas
se “sacrificam” e o álcool
enche a noite miserável.
Os elegantes mocinhos
marcam as portas e uma horda
assalta as casas, arremessa
os pianos dos balcões.
Aristocrático piquenique
com cadáveres no canal
e champanha francês no Club.
“You are very clever, Mr.
North.
”
A embaixada argentina abriu
as suas portas ao presidente.
Nessa tarde escreve com a mesma
segurança de mão fina,
a sombra penetra seus grandes olhos
como escura mariposa,
de profundidade fatigada.
E a magnitude de seu rosto
sai do mundo solitário,
da pequena moradia,
ilumina a noite escura.
Escreve seu nítido nome,
as letras de longo perfil
de sua doutrina traída.
Tem o revólver na mão.
Olha através da janela
um derradeiro trecho da pátria,
pensando em todo o longo corpo
do Chile, sombreado
como uma página noturna.
Viaja e sem ver cruzam seus olhos,
como nas vidraças de um trem,
rápidos campos, casarios,
torres, ribeiras inundadas,
pobreza, dores, farrapos.
Ele sonhou um sonho preciso,
quis trocar a desgarrada
paisagem, o corpo consumido
do povo, quis defendê-lo.
Já é tarde, escuta disparos
isolados, os gritos vitoriosos,
o selvagem ataque, os uivos
da “aristocracia”, escuta
o último rumor, o grã silêncio,
e, com ele, recostado, entra na morte.
XXXVI
A Emiliano Zapata com música de Tatanacho
Quando cresceram as dores
na terra, e os espinheiros desolados
foram a herança dos camponeses,
e, como outrora, rapaces
barbas cerimoniais, e os açoites,
então, flor e fogo galopado.
.
.
Borrachita me voy
hacia la capital
empinou-se na alba transitória
a terra sacudida de facas,
o peão de suas amargas tocas
caiu qual uma espiga debulhada
sobre a solidão vertiginosa.
a pedirle al patrón
que me mandó llamar
Zapata então foi terra e aurora.
Em todo horizonte aparecia
a multidão de sua semente armada.
Num ataque de águas e fronteiras
o férreo manancial de Coahuila,
as estelares pedras de Sonora:
tudo veio ao seu passo adiantado,
à sua agrária tormenta de ferraduras.
que si va del rancho
muy pronto volverá
Reparte o pão, a terra:
te acompanho.
Renuncio a minhas pálpebras celestes.
Eu, Zapata, me vou com o rocio
das cavalarias matutinas,
num disparo desde as figueiras-do-inferno
até as casas de paredes róseas.
.
.
.
cintitas pa tu pelo
no llores por tu Pancho .
.
.
A lua dorme sobre as montarias.
A morte amontoada e repartida
jaz com os soldados de Zapata.
O sonho esconde sob os baluartes
da pesada noite o seu destino,
o seu incubador lençol sombrio.
A fogueira agrupa o sopro desvelado:
graxa, suor e pólvora noturna.
.
.
.
Borrachita rne voy
para olvidarte .
.
.
Pedimos pátria para o humilhado.
Tua faca divide o patrimônio
e tiros e corcéis amedrontam
os castigos, a barba do verdugo.
A terra se reparte como um rifle.
Não esperes, camponês, empoeirado,
depoís de teu suor a luz completa
e o céu parcelado em teus joelhos.
Levanta-te e galopa com Zapata.
.
.
.
Yo la quise traer
dijo yue no.
.
.
México, hostil agricultura, amada
terra entre os obscuros repartida:
das espadas do milho saíram
ao sol os teus centuriões suarentos.
Da neve do sul venho contar-te.
Deixa-me galopar em teu destino
e encher-me de pólvoras e arados.
.
.
.
Que si habrá de llorar
pa qué volver.
.
.
XXXVII
Sandino (1926)
Foi quando em terra nossa
Enterraram-se
as cruzes, gastaram-se
inválidas, profissionais.
Chegou o dólar de dentes agressivos
mordendo território,
na garganta pastoril da América.
Agarrou o Panamá com fauces duras,
enfiou na terra fresca os seus caninos,
chapinhou na lama, uísque, sangue,
e jurou um presidente de sobrecasaca:
“Seja conosco o suborno
de cada dia”.
Logo, chegou o aço,
e o canal dividiu as residências,
aqui os amos, ali a servidão.
Correram para a Nicarágua.
Desceram vestidos de branco,
disparando dólares e tiros.
Surgiu no entanto um capitão
que disse: “Não, aqui não pões
as tuas concessões, tua garrafa”.
Prometeram-lhe um retrato
de presidente, de luvas,
faixa atravessada e sapatinhos
de verniz recém-comprados.
Sandino dcscalçou as botas,
afundou-se nos trêmulos pântanos,
pôs a faixa molhada
da liberdade na selva,
e, tiro a tiro, respondeu
aos “civilizadores”.
A fúria norte-americana
foi indizível: documentados
embaixadores convenceram
o mundo de que seu amor era
a Nicarágua, que algum dia
a ordem haveria de chegar
a suas entranhas sonolentas.
Sandino enforcou os intrusos.
Os heróis de Wall Street
foram comidos pelo lamaçal,
um relâmpago os matava,
mais de um sabre os seguia,
uma corda os despertava
como serpente na noite,
e pendurados de uma árvore eram
carreados lentamente
por coleópteros azuis
e trepadeiras devoradoras.
Sandino, com os seus guerrilheiros,
na Praça do Povo, em todas
as partes estava Sandino,
matando norte-americanos.
justiçando invasores.
E quando veio a aviação,
a ofensiva dos exércitos
blindados, a incisão
de massacrantes poderios,
Sandino estava no silêncio,
como um espectro da selva,
era uma árvore que se enroscava
ou uma tartaruga que dormia
ou um rio deslizando.
E árvore, tartaruga, torrente,
foram a morte vingadora,
foram sistemas da selva,
mortais sintomas de aranha.
(Em 1948
um guerrilheiro
da Grécia, coluna de Esparta,
foi a urna da luz atacada
pelos mercenários do dólar.
Dos montes lançou fogo
sobre os polvos de Chicago,
e como Sandino, o valente
da Nicarágua, foi chamado
“bandoleiro das montanhas”.
)
Mas, quando fogo, sangue
e dólar não destruíram
a torre altiva de Sandino,
os guerreiros de Wall Street
fizeram a paz, convidaram
para celebrá-la o guerrilheiro,
e um traidor recém-alugado
disparou-lhe a carabina.
Seu nome é Somoza.
Até hoje
está reinando na Nicarágua:
os trinta dólares cresceram
e aumentaram em sua barriga.
Esta é a história de Sandino,
capitão da Nicarágua,
encarnação desgarradora
de nossa arena traída, dividida e acometida,
martirizada e saqueada.
XXXVIII
(1)
Até Recabarren
A terra, o metal da terra, a compacta
formosura, a paz ferruginosa
que será lança, lâmpada ou anel,
matéria pura, ação
do tempo, saúde
da terra desnuda.
O mineral foi como estrela
afundada e enterrada.
A golpes de planeta, grama por grama,
foi escondida a luz.
Áspera capa, argila, areia
cobriram o teu hemisfério.
Mas amei o teu sal, a tua superfície.
Tua goteira, tua pálpebra, tua estátua.
No quilate de pureza dura
cantou minha mão: na écloga
nupcial da esmeralda fui citado,
e no côncavo do ferro pus o meu rosto um dia
até emanar abismo, resistência e aumento.
Mas eu não sabia nada.
O ferro, o cobre, os sais o sabiam.
Cada pétala de ouro foi arrancada com sangue.
Cada metal tem um soldado.
(2)
O cobre
Eu cheguei ao cobre, a Chuquicamata.
Era tarde nas cordilheiras.
Era o ar como taça
fria, de seca transparência.
Antes vivi em muitos navios,
porém na noite do deserto
a imensa mina resplandecia
como um navio cegador
com o orvalho deslumbrante
daquelas alturas noturnas.
Fechei os olhos: sonbo e sombra
estendiam as suas grossas plumas
sobre mim como aves gigantes.
Apenas de queda em queda
enquanto dançava o automóvel,
a oblíqua estrela, o penetrante
planeta, qual uma lança,
me arrojavam um raio gelado
de fogo frio, de ameaça.
(3)
A noite em Chuquicamata
Era já alta noite, noite profunda,
como o interior vazio de um sino.
Ante meus olhos vi os muros implacáveis,
o cobre derruído na pirâmide.
Era verde o sangue destas terras.
Alta até os planetas empapados
era a magnitude noturna e verde.
Gota a gota um leite de turquesa,
uma aurora de pedra,
foi construído pelo homem
e ardia na imensidade,
na estrelada terra aberta
de toda a noite arenosa.
Passo a passo, então a sombra
me levou
pela mão ao sindicato.
Era o mês de julho
no Chile, na estação fria.
Junto a meus passos, muitos dias
(ou séculos) (ou simplesmente meses
de cobre, pedra e pedra e pedra,
quer dizer, de inferno no tempo:
do infinito mantido
por mão sulfurosa),
iam outros passos e pés
que só o cobre conhecia.
Era uma multidão gordurosa,
fome e farrapo, soledades,
a que cavava o socavão.
Naquela noite não vi
desfilar sua ferida sem número
na costa cruel da mina.
Mas eu fui desses tormentos.
As vértebras do cobre estavam úmidas,
descobertas a golpes de suor
na infinita luz do ar andino.
Para escavar os ossos minerais
da estátua enterrada pelos séculos,
o homem construiu as galerias
de um teatro vazio.
Porém a essência dura,
a pedra em sua estatura, a vitória
do cobre fugiu deixando uma cratera
de ordenado vulcão, como se aquela
estátua, estrela verde,
fora arrancada ao peito de um deus ferruginoso
deixando um oco pálido socavado nas alturas.
(4)
Os chilenos
Tudo isso foi a tua mão.
Tua mão foi a unha
do compatriota mineral, do “roto”
combatido, do pisoteado
material humano, do homenzinho em farrapos.
Tua mão foi como a geografia:
cavou esta cratera de treva verde,
fundou um planeta de pedra oceânica.
Andou pelas mestranças
manejando as pás quebradas
e botando pólvora por
todos os lados, como ovos
de galinha ensurdecedora.
Trata-se de uma cratera remota:
até da lua cheia
se veria a sua profundidade
feita lado a lado por
um tal de Rodríguez, um tal de Carrasco,
um tal de Díaz Iturrieta,
um tal de Abarca, um tal de Gumersindo,
um tal de chileno chamado Mil.
Esta imensidão, unha por unha,
o desgarrado chileno, um dia
e outro dia, outro inverno, a pulso,
em velocidade, na lenta
atmosfera das alturas,
recolheu-a da argamassa,
estabeleceu-a entre as regiões.
(5)
O herói
Não foi a firmeza tumultuosa
de muitos dedos, não só a pá,
não só o braço, as ancas, o peso
do homem todo e a sua energia:
foram dor, incerteza e fúria
os que cavaram o centímetro
de altura calcária, buscando
as veias verdes da estrela,
os finais fosforescentes
dos cometas enterrados.
Do homem gasto em seu abismo
nasceram os sais sangrentos.
Porque o Reinaldo é agressivo,
cata pedras, o infinito
Sepúlveda, teu filho, sobrinho de
tua tia Eduviges Rojas,
o herói ardendo, o que desvencilha
a cordilheira mineral.
Assim foi conhecendo,
entrando como na uterina
originalidade da entranha,
em terra e vida, fui me vencendo:
até sumir-me em homem, em água
de lágrimas como estalactites,
de pobre sangue despenhado
de suor caído no pó.
(6)
Ofícios
Outras vezes com Lafertte, mais longe,
entramos em Tarapacá,
desde Iquique azul e ascético,
pelos limites da areia.
Me mostrou Elías as pás
dos limpadores, enfiado
nas madeiras cada dedo
do homem: estavam gastadas
pelo roçar de cada ponta de dedo.
As pressões daquelas mãos derreteram
os pedernais da pá,
e abriram assim os corredores
de terra e pedra, metal e ácido,
estas unhas amargas, estes
enegrecidos cinturões
de mãos que rompem planetas,
e elevam os sais aos céus,
dizendo como no conto,
na história celeste: “Este
é o primeiro dia da terra”.
Assim aquele que ninguém antes viu
(antes daquele dia de origem),
o protótipo da pá,
levantou-se sobre as cascas
do inferno: dominou-as
com as suas rudes mãos ardentes,
abriu as folhas da terra,
e apareceu de camisa azul
o capitão de dentes brancos,
o conquistador do salitre.
(7)
O deserto
O duro meio-dia das grandes areias
chegou:
o mundo está nu,
largo, estéril e limpo até as últimas
fronteiras arenais:
escutai o som quebradiço
do sal vivo, só nas salinas:
o sol quebra seus vidros na extensão vazia
e agoniza a terra como um seco
e afogado ruído do sal que geme.
(8)
(Noturno)
Chega ao circuito do dserto,
À alta noite aérea do pampa,
Ao círculo noturno, espaço e astro,
Onde a zona do Tamarugal recolhe
Todo o silêncio perdido no tempo.
Mil anos de silêncio em uma taça
de azul calcário, de distância e lua,
lavram a geografia nua da noite.
Eu te amo, pura terra, como tantas
coisas amei contraditórias:
a flor, a rua, a abundância, o rito.
Eu te amo, irmã pura do oceano.
Para mim foi difícil esta escola vazia
em que não estava o homem, nem o muro, nem a planta
para apoiar-me em algo.
Estava só.
Era planura e solidão a vida.
Era este o peito varonil do mundo.
E amei o sistema de tua forma reta,
a extensa precisão de teu vazio.
(9)
O páramo
No páramo o homem vivia
mordendo terra, aniquilado.
Fui direto ao covil,
meti a mão entre os piolhos,
caminhei entre os trilhos até
o amanhecer desolado,
dormi sobre as duras tábuas,
desci da faina na tarde,
me queimaram vapor e iodo,
apertei a mão do homem,
conversei com a mulherzinha,
portas adentro entre galinhas,
entre trapos, no cheiro
da pobreza abrasadora.
E quando tantas dores
reuni, quando tanto sangue
recolhi no cavo da alma,
vi chegar do espaço puro
dos pampas inabarcáveis
um homem feito de sua própria areia,
um rosto imóvel e estendido,
uma roupa com um corpo largo,
uns olhos entrecerrados
como lâmpadas indomáveis.
Recabarren era o seu nome.
XXXIX
Recabarren (1921)
Seu nome era Recabarren.
Bonachão, corpulento, espaçoso,
claro olhar, cara firme,
sua vasta compostura cobria,
como a areia numerosa,
as jazidas da força.
Olhai no pampa da América
(rios ramais, clara neve,
cortes ferruginosos)
o Chile com a sua destroçada
biologia, como um ramo
arrancado, como um braço
cujas falanges dispersou
o tráfico das tormentas.
Sobre as áreas musculares
dos metais e o nitrato,
sobre a atlética grandeza
do cobre recém-escavado,
o pequeno habitante vive,
acumulado na desordem,
como um contrato apressado,
cheio de meninos maltrapilhos
estendidos pelos desertos
da superfície salgada.
É o chileno interrompido
pela demissão ou a morte.
É o duríssimo chileno
sobrevivente das obras
ou amortalhado pelo sal.
Ali chegou com seus panfletos
este capitão do povo.
Pegou o solitário ofendido
que, enrolando suas mantas rotas
em seus filhos famintos,
aceitava as injustiças
encarniçadas, e lhe disse:
“Junta tua voz a outra voz”,
“Junta tua mão a outra mão”.
Foi pelos rincões aziagos
do salitre, encheu o pampa
com sua investidura paterna
e no esconderijo invisível
toda a miséria o viu.
Chegou cada “galo” ferido,
chegou cada um dos lamentos:
entraram como fantasmas
de pálida voz triturada
e saíram de suas mãos
com uma nova dignidade.
Em todo o pampa se soube.
E foi pela pátria inteira
fundando povo, levantando
os corações quebrantados.
Seus jornais recém-impressos
entraram nas galerias
do carvão, subiram ao cobre,
e o povo beijou as colunas
que levavam pela vez primeira
a voz dos atropelados.
Organizou as soledades.
Levou os livros e os cantos
até os muros do terror,
juntou uma queixa a outra queixa,
e o escravo sem voz nem boca,
o extenso sofrimento,
se fez nome, se chamou Povo
Proletariado, Sindicato,
ganhou pessoa e postura.
E este habitante transformado
que se construiu no combate,
este organismo valoroso,
essa implacável tentativa,
ate metal inalterável,
esta unidade das dores,
esta fortaleza do homem,
este caminho para amanhã,
esta cordilheira infinita.
esta germinal primavera,
este armamento dos pobres,
saiu daqueles sofrimentos,
do mais fundo da pátria,
do mais duro e mais ferido,
do mais alto e mais eterno
e se chamou Partido.
Partido
Comunista
Esse foi o seu nome.
Grande foi a luta.
Caíram
como abutre os donos do ouro.
Combateram com a calúnia.
“Esse Partido Comunista
é pago pelo Peru,
pela Bolívia, pelos estrangeiros.
”
Caíram sobre as impressoras,
adquiridas gota por gota
com o suor dos combatentes,
e ao atacaram, quebrando-as,
queimando-as, esparramando
a tipografia do povo.
Perseguiram Recabarren.
Negaram-lhe entrada e trânsito.
Ele, porém, congregou sua semente
nos socavões desertos
e o baluarte foi defendido.
Então, os empresários
norte-americanos e ingleses,
seus advogados, senadores,
seus deputados, presidentes,
verterem o sangue na areia.
Acurralaram, amarraram,
Assassinaram nossa estirpe,
A força profunda do Chile,
Deixaram junto às veredas
Do imenso pampa amarelo
Cruzes de operários fuzilados
Nas franjas da areia.
Uma vez em Iquique, na costa,
Mandaram buscar os homens
Que pediam escola e pão.
Ali, confundidos, cercados
Num pátio, foram dispostos
Para a morte.
Dispararam
Cm sibilante metralhadora,
Com fuzis taticamente
Dispostos, sobre a pilha
Amontoada de operários adormecidos.
O sangue encheu como um rio
A areia pálida de Iquique,
E lá está o sangue tombado,
Ardendo ainda sobre os anos
Como uma corola implacável.
Sobreviveu porém a resistência.
A luz organizada pelas mãos
de Recabarren, as bandeiras rubras
foram das minas aos povoados,
foram às cidades e aos sulcos,
rodaram com as rodas ferroviárias,
assumiram as bases do cimento,
ganharam ruas, praças, granjas,
fábricas afligidas pelo pó,
chagas cobertas pela primavera:
tudo cantou e lutou para vencer
na unidade do tempo que amanhece.
Quanta coisa se passou desde então.
Quanto sangue sobre sangue,
quantas lutas sobre a terra.
Horas de esplêndida conquista,
triunfos conquistados gota a gota,
ruas amargas, derrotadas,
zonas escuras como túneis
traições que pareciam
cortar a vida com seu fio,
repressões armadas de ódio,
coroadas militarmente
A terra parecia afundar.
Mas a luta permanece.
Oferta (1949)
Recabarren, nesses dias
De perseguição, na angústia
de meus irmãos relegados.
combatidos por um traidor,
e com a pátria envolta em ódio,
ferida pela tirania,
recordo a luta terrível
de tuas prisões, de teus passos
primeiros, tua solidão
de torreão irredutível,
e quando, saindo do páramo,
um e outro homem a ti vieram
para congregar a massa
do pão humilde defendido
pela unidade do povo augusto.
Pai do Chile
Recabarren, filho do Chile,
pai do Chile, pai nosso,
em tua construção, cm tua linha
urdida em terras e tormentos
nasce a força dos dias
vindouros e vencedores.
És a pátria, pampa e povo,
areia, argila, escola, casa,
ressurreição, punho, ofensiva,
ordem, desfile, ataque, trigo,
luta, grandeza, resistência.
Recabarren, sob o teu olhar
juramos limpar as feridas
mutilações da pátria.
Juramos que a liberdade
levantará sua flor nua
sobre a areia desonrada.
Juramos continuar teu caminho
Até a vitória
XL
Prestes do Brasil (1949)
Brasil augusto, quanto amor quisera
para estender-me em teu regaço,
para envolver-me em suas folhas gigantes,
em desenvolvimento vegetal, em vivo
detrito de esmeraldas: espia-te,
Brasil, dos rios
sacerdotais que te nutrem,
dançar nos terraços à luz
da lua fluvial, e repartir-me
por teus desabitados territórios
vendo sair do barro o nascimento
de grossos bichos rodeados
de metálicas aves brancas.
Quanta lembrança me darias.
Entrar de novo na alfândega,
sair pelos bairros, cheirar
teu estranho rito, baixar
a teus centros circulatórios,
a teu coração generoso.
Mas não posso.
Uma vez, na Bahia, as mulheres
do bairro dolorido,
do antigo mercado de escravos
(onde hoje a nova escravidão, a fome,
o trapo, a condição dolente,
vivem como antes na mesma terra),
me deram umas flores e uma carta,
umas palavras ternas e umas flores.
Não posso apartar a voz de quanto sofre.
Sei quanto me dariam
de invisível verdade as tuas espaçosas
ribeiras naturais.
Sei que a flor secreta, a agitada
multidão de mariposas,
todos os férteis fermentos
das vidas e dos bosques
me esperam com a sua teoria
de inesgotáveis umidades,
mas não posso, não posso
senão arrancar do teu silêncio
uma vez mais a voz do povo,
elevá-la como a pluma
mais fulgurante da selva,
deixá-la a meu lado e amá-la
até que cante por meus lábios.
Por isso vejo Prestes caminhando
para a liberdade, para as portas
que parecem em ti, Brasil, fechadas,
cravadas à dor, impenetráveis.
Vejo Prestes, sua coluna vencedora
da fome, cruzando a selva,
até a Bolívia, perseguida
pelo tirano de olhos pálidos.
Quando volta a seu povo e toca
o seu campanário combatente,
o encerram, e a sua companheira
entregam ao pardo verdugo
da Alemanha.
(Poeta, buscas em teu livro
as antigas dores gregas,
os orbes acorrentados
pelas antigas maldições,
correm as tuas pálpebras torturadas
pelos tormentos inventados,
e não vês em tua própria porta
os oceanos que batem
no sombrio peito do povo.
)
No martírio nasce a sua filha.
E ela desaparece
a golpe de machado, no gás, tragada
pelos lamaçais assassinos
da Gestapo.
Oh, tormento
do prisioneiro! Oh, indizíveis
padecimentos separados
de nosso ferido capitão!
(Poeta, apaga de teu livro
a Prometeu e sua corrente.
A velha fábula não tem
tanta grandeza calcinada,
tanta tragédia aterradora.
)
Onze anos eles guardam Prestes
detrás das barras de ferro,
no silêncio da morte,
sem que se atrevam assassiná-lo.
Não há notícias para seu povo.
A tirania apaga o nome
de Prestes em seu mundo negro.
E onze anos seu nome foi mudo.
Viveu sem nome como uma árvore
em meio a todo o seu povo,
reverenciado e esperado.
Até que a liberdade
foi buscá-lo em seu presídio,
e saiu de novo à luz,
amado, vencedor e bondoso,
despojado de todo 0 ódio
que lançaram sobre a sua cabeça.
Lembro que em 1945
estive com ele em São Paulo.
(Frágil e firme sua estrutura,
pálido como o marfim
desenterrado na cisterna,
fino como a pureza
do ar nas solidões,
puro como a grandeza
custodiada pela dor.
)
Pela vez primeira a seu povo
falava, no Pacaembu.
O grande estádio pululava
de cem mil corações vermelhos
que espetavam vê-lo e tocá-lo.
Chegou em uma indizível
onda de canto e ternura,
cem mil lenços saudavam
como um bosque a sua boa-vinda.
Ele olhou com olhos profundos
a meu lado, enquanto falei.
XLI
Dito no Pacaembu (Brasil, 1945)
Quantas coisas quisera hoje dizer, brasileiros,
quantas histórias, lutas, desenganos, vitórias,
que levei anos e anos no coração para dizer-vos, pensamentos
e saudações.
Saudações das neves andinas,
saudações do oceano Pacífico, palavras que me disseram
ao passar os operários, os mineiros, os pedreiros, todos
os povoadores de minha pátria longínqua.
Que me disse a neve, a nuvem, a bandeira?
Que segredo me disse o marinheiro?
Que me disse a menina pequenina dando-me espigas?
Uma mensagem tinham: Era: Cumprimenta Prestes.
Procura-o, me diziam, na selva ou no rio.
Aparta suas prisões, procura sua cela, chama.
E se não te deixam falar-lhe, olha-o até cansar-te
e nos conta amanhã o que viste.
Hoje estou orgulhoso de vê-lo rodeado
por um mar de corações vitoriosos.
Vou dizer ao Chile: Eu o saudei na viração
das bandeiras livres de seu povo.
Me lembro em Paris, há alguns anos, uma noite
falei à multidão, fui pedir auxílio
para a Espanha Republicana, para o povo em sua luta.
A Espanha estava cheia de ruínas e de glória.
Os franceses ouviam o meu apelo em silêncio.
Pedi-lhes ajuda em nome de tudo o que existe
e lhes disse: Os novos heróis, os que na Espanha lutam, morrem,
Modesto, Líster, Pasionaria, Lorca,
são filhos dos heróis da América, são irmãos
de Bolívar, de O'Higgins, de San Martín, de Prestes.
E quando disse o nome de Prestes foi como um rumor imenso
no ar da França: Paris o saudava.
Velhos operários de olhos úmidos
olhavam para o fundo do Brasil e para a Espanha.
Vou contar-vos outra pequena história.
Junto às grandes minas de carvão, que avançam sob o mar,
no Chile, no frio porto de Talcahuano,
chegou uma vez, faz tempo, um cargueiro soviético.
(O Chile não mantinha ainda relações
com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Por isso a polícia estúpida
proibiu que os marinheiros russos descessem,
e que os chilenos subissem.
)
Quando a noite chegou
vieram aos milhares os mineiros, das grandes minas,
homens, mulheres, meninos, e das colinas,
com suas pequenas lâmpadas mineiras,
a noite toda fizeram sinais, acendendo e apagando,
para o navio que vinha dos portos soviéticos.
Aquela noite escura teve estrelas:
as estrelas humanas, as lâmpadas do povo.
Também hoje, de todos os rincões
da nossa América, do México livre, do Peru sedento,
de Cuba, da Argentina populosa,
do Uruguai, refúgio de irmãos asilados,
o povo te saúda, Prestes, com suas pequenas lâmpadas
em que brilham as altas esperanças do homem.
Por isso me mandaram, pelo vento da América,
para que te olhasse e logo lhes contasse
como eras, que dizia o seu capitão calado
por tantos anos duros de solidão e sombra.
Vou dizer-lhes que não guardas ódio.
Que só desejas que a tua pátria viva,
E que a liberdade cresça no fundo
do Brasil como árvore eterna.
Eu quisera contar-te, Brasil, muitas coisas caladas,
carregadas por estes anos entre a pele e a alma,
sangue, dores, triunfos, o que devem se dizer
o poeta e o povo: fica para outra vez, um dia.
Peço hoje um grande silêncio de vulcões e rios.
Um grande silêncio peço de terras e varões.
Peço silêncio à América da neve ao pampa.
Silêncio: com a palavra o Capitão do Povo.
Silêncio: Que o Brasil falará por sua boca.
XLII
De novo os tiranos
Hoje de novo a caçada
se estende por todo o Brasil,
procura-o a fria cobiça
dos mercadores de escravos:
em Wall Street decretaram
a seus satélites porcinos
que enterrassem os seus caninos
nas feridas do povo,
e começou a caçada
no Chile, no Brasil, em todas
as nossas Américas arrasadas
por mercadores e verdugos.
Meu povo escondeu meu caminho,
cobriu meus versos com as mãos,
da morte me preservou,
e no Brasil a porta infinita
do povo fecha os caminhos
onde Prestes outra vez
rechaça de novo o malvado.
Brasil, que te seja salvo
o teu capitão doloroso,
Brasil, que não tenhas amanhã
de recolher de sua lembrança
fibra por fibra a sua efígie
para erguê-la em pedra austera,
sem tê-lo deixado no meio
de teu coração desfrutar
a liberdade que ainda, ainda
pode conquistar-te, Brasil.
XLIII
Chegará o dia
Libertadores, neste crepúsculo
da América, na despovoada
escuridão da manhã,
eu vos entrego a folha infinita
dos meus povos, o regozijo
de cada hora de luta.
Hussardos azuis, tombados
na profundidade do tempo,
soldados em cujas bandeiras
recém-bordadas amanhece,
soldados de hoje, comunistas,
combatentes herdeiros
das torrentes metalúrgicas,
escutai a minha voz nascida
nas galerias, erguida
à fogueira de cada dia
por simples dever amoroso:
somos a mesma terra, o mesmo
povo perseguido,
a mesma luta cinge a cintura
da nossa América:
Vistes
pelas tardes a cova sombria
do irmão?
Transpassastes a sua tenebrosa vida?
O coração disperso
do povo abandonado e submerso!
Alguém que recebeu a paz do herói
a guardou em sua adega, alguém roubou os frutos
da colheita ensangüentada
e dividiu a geografia
instituindo margens hostis,
zonas de desolada sombra cega.
Recolhei das terras o confuso
pulsar da dor, as solidões,
o trigo dos solos debulhados:
algo germina sob as bandeiras:
a voz antiga nos chama novamente.
Descei às raízes minerais,
e às alturas do metal deserto,
tocai a luta do homem na terra,
através do martírio que maltrata
as mãos destinadas à luz.
Não renuncieis ao dia que vos entregam
os mortos que lutaram.
Cada espiga
nasce de um grão entregue à terra,
e como o trigo, o povo inumerável
junta raízes, acumula espigas,
e na tormenta desencadeada
sobe à claridade do universo.

Na era da pedra lascada
da língua falada
antes de inventarem a letra
que imitava a lua
as palavras diziam nada
e nada levava a nada
(aliás, nem precisava rua).
A frase ficava estática
de maneira majestática
a grandes falas presumíveis
permaneciam indizíveis
- imagens invisíveis
a distâncias invencíveis.
Vivia-se em cavernas mentais
numa inércia dramática.
Ir e vir, nem pensar
ninguém mudava de lugar
que dirá de sintática.
Aí inventaram o O
e foi algo portentoso.
Assombroso, maravilhoso.
Tudo começou a rolar
e a se movimentar.
O Homem ganhou horizontes
e palavras viraram pontes
e hoje existe a convicção
que sem a sua invenção
não haveria Civilização.
Um dia, como o raio inaugural
sobre aquela célula no pantanal
que deu vida a tudo,
veio o acento agudo.
E o homem pôde cantar vitória.
E começou a História.
(Depois ficamos retóricos
e até um pouco gongóricos).

De Eros, representaçao do Amor entre os gregos, desde o século VI a.C. cultuado principalmente como o deus da Paixão, vem erotismo. Significa paixão amorosa — o amor, não tanto no seu lado "cavalheiresco", platônico, dominante na poesia trovadoresca, por exemplo, mas antes no seu aspecto físico, sexual. A maior ou menor franqueza com que se pode, sem escândalo, falar do amor erótico, em literatura, varia de civilização para civilização; assim, obras que têm, em determinado país e tempo, serena posição nas letras, alhures ou em outra época poderão ser consideradas pornográficas. É como sói ser encarado no Ocidente o Kama-Sutra, antigo manual hindu de técnicas sexuais.
Mesmo em relação a obras da nossa cultura e do nosso tempo, é muita vez difícil a distinção entre arte e pornografia; e é verdade que a mesma obra pode agasalhar, lado a lado, ou misturados, imbricados, traços artísticos e traços pornográficos. Há de haver, sem embargo, meios ao alcance do leitor — e falo em leitor porque nos estamos cingindo à literatura, mais especificamente à poesia — para essa distinção. Tentando estabelecê-los, recorro a um breve discurso paralelo acerca do que chamo "a psicologia do palavrão".
Que vem a ser isto, um palavrão? Uma "palavra obscena ou grosseira", diz Mestre Aurélio, no seu dicionário. Mas, se temos duas palavras significando a mesma coisa, como, por que se há de associar a uma delas conotação de obscenidade, ou grosseria, e não à outra?
O que determina essa carga negativa, ou positiva, ou neutra, das palavras é a intenção. Deste modo, tem a língua, para significar os órgãos sexuais, palavras de uso restrito a meios técnicos ou científicos, e que podem ser fora daí empregadas sem susto, por serem meramente denotativas, eticamente neutras; palavras de uso familiar, carregadas de variável gama afetiva, que podemos dizer portadoras de conotação positiva; e palavras de baixo calão, que, além do significado, basicamente igual ao de suas irmãs retromencionadas, imantam-se de uma intenção negativa — de depreciação, achincalhe, deboche. Normalmente, estas últimas têm curso no escuso dos becos, em esconsos quartos ou frias salas, em meios onde os homens, vítimas da própria miséria, passam a ser uns para os outros não mais que objetos de egoístico prazer, ou sujo lucro. Por isto, não é necessariamente fruto de condenável preconceito a recusa de trânsito em níveis mais altos a certas palavras forjadas ou em curso naqueles meios; pois o que se recusa, ou deve recusar, nelas é a intenção que visa a diminuir o destinatário e que avilta o emitente. (Conseqüentemente, as palavras podem mudar de categoria, subir ou descer, degradar-se ou reabilitar-se, conforme o uso social que se lhes dê; e pode a mesma palavra pertencer a opostas categorias, em meios diversos.)
De modo semelhante, a qualificação de erótica ou pornográfica a obra literária depende do ponto de vista em que se coloque o autor (ou o leitor, o que relativiza ainda mais a questão). Transcrevo o que dizem a respeito Otto Maria Carpeaux e Sebastião Uchoa Leite, no verbete "erotismo" da Enciclopédia Mirador Internacional:
"A pornografia não provoca, em geral, questões de crítica literária; há, até, quem duvide se esses produtos pertencem à literatura em qualquer sentido da palavra. Essa dúvida atinge sobretudo as obras pornográficas que foram escritas com o único fim de estimular sensações sexuais. Mas em muitos casos a confecção de obras pornográficas serve para satisfazer os estímulos irrealizáveis dos próprios autores; trata-se, nesses casos, de fantasias de regressão infantil, de sonhos de poder sobre órgãos genitais alheios, que são o único tópico da pornografia ("pornotopia"). A exclusão de todos os outros motivos e a redução dos personagens a seus órgãos genitais são traços característicos da pornografia e indícios de que não se trata acaso de literatura propriamente dita."
Pornográfica é a obra em que se objetualiza o ser humano como pasto de paixões, reduzido o amor à bestialidade, isto é, à exacerbação e cega satisfação do instinto. E diria que a pornografia está para o erotismo assim como a prostituição está para o amor.
Não me lembra que escritor se perguntava, com real ou ficta perplexidade, por que não se dignavam os poetas de cantar os prazeres do paladar, como cantam os do amor. Sim, por que não merecerem algumas notas líricas as delícias do tutu com torresmo, o êxtase da feijoada completa, a ingenuidade da salada vegetal, os mistérios espirituais dos álcoois? (Estes até que não podem se queixar ... )
Poesia é transcendência. Por isto não canta o poeta o bom prato, a não ser no poema satírico. Por isto, ao cantar o amor, se não lhe despreza as materialidades, procura colher-lhe a volátil essência; nem é verdadeiramente poesia, senão torpe simulacro, essa, pseudo-erótica, incapaz de ultrapassar o descritivismo no âmbito da física sexual.
Uma e outra coisa existem e são necessárias. Só que não são, em si mesmas, objeto de poesia, como não o é o econômico, o técnico em geral. E, forçadas a um papel mais alto que o que lhes compete, tornam-se grotescas, ou obscenas.
Mas, esperem aí! — somos corpo e espírito, espírito e corpo. Quando sugiro espiritualização, não me entendam mal, não estou recusando o corpóreo. Nem me esqueço de que a poesia erótica ocidental tem raiz em seu livro sagrado — na Bíblia, no Velho Testamento, no Cântico dos Cânticos de Salomão. E como, nos seus cantares, se refere o rei poeta aos dotes da Sulamita? Em termos como estes, cuja sensualidade não elide a pureza:
"Quão belos são os teus pés
nas sandálias que trazes, ó filha de príncipe!
As colunas das tuas pernas são como anéis trabalhados por
mãos de artista.
o teu umbigo é uma taça arredondada,
que nunca está desprovida de vinho.
O teu ventre é como um monte de trigo
cercado de lírios.
Os teus dois seios são como dois filhinhos
gêmeos duma gazela.
O teu pescoço é como uma torre de marfim.
Os teus olhos são como as piscinas de Hesebon,
que estão situadas junto da porta de Bat-Rabim.
O teu nariz é como a torre do Líbano,
que olha para Damasco.
A tua cabeça levanta-se como o monte Carmelo;
os cabelos da tua cabeça são como a púrpura
um rei ficou preso às suas madeixas.
Quão formosa e encantadora és,
meu amor, minhas delícias!
A tua figura é semelhante a uma palmeira.
Eu disse. Subirei à palmeira,
e colherei os seus frutos.
Os teus seios serão, para mim, como cachos de uvas,
e o perfume da tua boca como o das maçãs."
Feito o intróito, cuja extensão espero me seja perdoada, passemos aos verdadeiros falantes desta jornada.
Álvares de Azevedo, um dos "gênios adolescentes" do nosso Romantismo, em cuja época se praticou pela primeira vez uma poesia caracterizadamente brasileira, morreu aos vinte anos, "sem na vida ter sentido nunca" — conforme se queixava no poema "Idéias Íntimas" — "na suave atração de um róseo corpo" os "olhos turvos se fechar de gozo". Não obstante, ou talvez por isso mesmo, sua lírica amorosa revela, no dizer de Antônio Soares Amora, erotismo tão explícito corno nunca antes, entre nós. É, pois, merecedor das honras da abertura. Leiam-se as estrofes iniciais de "Seio de Virgem":
"0 qu

PROCURA-SE MULHER
Ela parou. Havia um grande pedaço de papelão grudado na janela com alguma substância. A maior parte estava datilografada. De onde estava na calçada, Edna não conseguia ler o aviso. Podia apenas ver as letras graúdas:
PROCURA-SE MULHER
Era um carro novo e caro. Edna deu um passo sobre a grama para ler a parte datilografada:
Homem, 49 anos. Divorciado. Procura mulher para casamento. Deve ter entre 35 e 44 anos. Gosta de televisão e películas cinematográficas. Boa comida. Sou especialista em custos de produção, com estabilidade no emprego. Dinheiro no banco. Gosto de mulheres acima do peso.
Edna tinha 37 anos e estava acima do peso. Havia um número de telefone. Também havia três fotos do cavalheiro em busca de uma mulher. Ele parecia bem sério de terno e gravata. Também parecia estúpido e um pouco cruel. E feito de madeira, pensou Edna, feito de madeira.
Edna se afastou, sorrindo um pouco. Sentia também uma espécie de repulsa. Ao chegar ao seu apartamento, ela o tinha esquecido. Apenas algumas horas depois, sentada na banheira, voltou a pensar nele e, dessa vez, pensou em como ele devia estar realmente sozinho para fazer tal coisa:
PROCURA-SE MULHER
Imaginou-o chegando em casa, encontrando as contas de gás e telefone na caixa de correio, despindo-se, tomando um banho, a televisão ligada. Então leria o jornal da tarde. Depois iria para a cozinha preparar sua refeição. De pé, de cuecas, olhando para a frigideira. Pegando sua comida e caminhando para uma mesa, comendo. Bebendo seu café. Então mais televisão. E talvez uma solitária lata de cerveja antes de se deitar. Havia milhões de homens como ele por toda a América.
Edna saiu da banheira, enrolou-se na toalha, vestiu-se e saiu do apartamento. O carro ainda estava lá. Anotou o nome do homem, Joe Lighthill, e o número do telefone. Leu a parte datilografada novamente. “Películas cinematográficas.” Que termo estranho para se usar. Agora as pessoas dizem “filmes”. PROCURA-SE MULHER. O aviso era muito ousado. Estava diante de um sujeito original.
Quando Edna chegou em casa, tomou três xícaras de café antes de discar o número. O telefone chamou quatro vezes.
– Alô? – ele respondeu.
– Sr. Lighthill?
– Sim?
– Vi seu anúncio. Seu anúncio no carro.
– Ah, sim.
– Meu nome é Edna.
– Como vai, Edna?
– Ah, vou bem. Tem feito tanto calor. Esse tempo está demais.
– Sim, nada fácil.
– Bem, sr. Lighthill...
– Me chame apenas de Joe.
– Bem, Joe, rá rá rá, me sinto tão boba. Sabe por que estou telefonando?
– Você viu meu aviso?
– Quero dizer, rá rá rá, o que há de errado com você? Não consegue arranjar uma mulher?
– Acho que não, Edna. Me diga, onde elas estão?
– As mulheres?
– Sim.
– Ah, por toda parte, veja bem.
– Onde? Me diga. Onde?
– Bem, na igreja, veja bem. Há mulheres na igreja.
– Não gosto de igrejas.
– Ah.
– Escute, por que você não vem para cá, Edna?
– Quer dizer para sua casa?
– Sim. Moro em um lugar legal. Podemos tomar um drinque, conversar. Sem pressão.
– Está tarde.
– Não está tão tarde. Escute, você viu meu aviso. Deve estar interessada.
– Bem...
– Você está com medo, é só isso. Está apenas com medo.
– Não, não estou com medo.
– Então venha pra cá, Edna.
– Bem...
– Venha.
– Certo. Vejo você em quinze minutos.
O apartamento ficava no último andar de um condomínio moderno. Número 17. A piscina abaixo refletia as luzes. Edna bateu. A porta se abriu, e lá estava o sr. Lighthill: entradas frontais, nariz aquilino com pelos que saíam pelas narinas, a camisa aberta na altura do pescoço.
– Entre, Edna...
Entrou, e a porta se fechou atrás dela. Trazia seu vestido azul de seda. Estava sem meias, de sandálias, e fumando um cigarro.
– Sente-se, vou pegar uma bebida para você.
Era um lugar agradável. Tudo nas cores azul e verde e muito limpo. Ela ouviu o sr. Lighthill cantarolar surdamente, enquanto preparava as bebidas, hmmmmmmm, hmmmmmmm, hmmmmmmm... Ele parecia tranquilo e isso a ajudou a descontrair.
O sr. Lighthill – Joe – voltou com as bebidas. Alcançou a Edna a sua e então sentou-se em uma cadeira do outro lado da sala.
– Sim – ele disse –, tem feito muito calor, um calor infernal. Mas tenho ar-condicionado.
– Notei. É muito bom.
– Tome a sua bebida.
– Ah, claro.
Edna tomou um gole. Era uma boa bebida, um pouco forte, mas com um gosto agradável. Observou Joe inclinar a cabeça enquanto bebia. Ele parecia ter rugas profundas em torno do pescoço. E suas calças estavam muito folgadas. Pareciam ser de uma numeração muito maior. Davam a suas pernas uma aparência cômica.
– É um belo vestido, Edna.
– Gosta?
– Oh, sim. Você é bem fornida. O vestido fica muito bem em você, muito bem.
Edna não disse nada. E Joe também não. Apenas permaneceram sentados, olhando um para o outro e bebericando suas bebidas.
Por que ele não fala?, pensou Edna. É ele quem tem de falar. Havia nele algo que lembrava madeira, sim. Ela terminou seu drinque.
– Deixe-me preparar outra bebida para você – disse Joe.
– Não, realmente está na minha hora.
– Ora, vamos lá – ele disse –, deixe-me preparar outra bebida. Precisamos de algo para relaxar.
– Tudo bem, mas depois vou embora.
Joe foi até a cozinha com os copos. Ele não estava mais cantarolando. Voltou, alcançou a Edna um copo e sentou-se novamente em sua cadeira do outro lado da sala, em frente à cadeira dela. A bebida estava ainda mais forte.
– Sabe – ele disse –, me dou bem nesses testes sobre sexo das revistas.
Edna tomou um gole de sua bebida e não respondeu.
– Como você se sai nesses testes? – Joe perguntou.
– Nunca fiz nenhum.
– Deveria, sabe, assim você descobre quem e o que você é.
– Acha que esses testes funcionam? Já vi nos jornais. Nunca fiz nenhum, mas já vi – disse Edna.
– Claro que funcionam.
– Talvez eu não seja boa em sexo – disse Edna –, talvez seja por isso que estou sozinha.
Ela bebeu um longo gole de seu copo.
– Cada um de nós está, no final, sozinho – disse Joe.
– Como assim?
– Quero dizer, não importa quão bem a coisa esteja indo no sexo, no amor ou em ambos, chega um dia em que tudo acaba.
– Isso é triste – disse Edna.
– Claro que é. Então chega o dia em que tudo acaba. Ou há uma separação ou a coisa toda se resolve em uma trégua: duas pessoas vivendo juntas sem sentir nada. Acho que ficar sozinho é melhor.
– Você se divorciou da sua esposa, Joe?
– Não. Ela se divorciou de mim.
– O que deu errado?
– Orgias sexuais.
– Orgias sexuais?
– Veja bem, uma orgia sexual é o lugar mais solitário do mundo. Essas orgias... fiquei com uma sensação de desespero... aqueles caralhos entrando e saindo... me desculpe...
– Tudo bem.
– Aqueles caralhos entrando e saindo, pernas enlaçadas, dedos trabalhando, bocas, todo mundo se agarrando e suando e determinado a fazer a coisa toda... de alguma forma.
– Não sei muito sobre essas coisas, Joe – disse Edna.
– Acho que sem amor, sexo não é nada. As coisas só podem representar alguma coisa quando existe algum sentimento entre os participantes.
– Quer dizer que as pessoas têm que gostar umas das outras?
– Ajuda.
– Imagine que eles se cansem uns dos outros? Imagine que tenham que continuar juntos? Por economia? Filhos? Essas coisas?
– Orgias não os manterão juntos.
– E o que manteria?
– Bem, não sei. Talvez o suingue.
– O suingue?
– Você sabe, quando dois casais se conhecem muito bem e trocam parceiros. Os sentimentos têm, pelo menos, uma chance. Por exemplo, digamos que eu sempre tenha gostado da esposa de Mike. Gosto dela há meses. Já a observei caminhar pela sala. Gosto dos movimentos dela. Os movimentos me deixaram curioso. Imagino, você sabe, o que vem depois desses movimentos. Já a vi braba, já a vi bêbada, já a vi sóbria. E então, vem o suingue. Você está no quarto com ela, finalmente você a está conhecendo. Há uma chance de algo real. É claro, Mike está com a sua esposa no outro quarto. Você pensa: “Boa sorte, Mike, e espero que você seja tão bom amante quanto eu”.
– E isso dá certo?
– Bem, não sei... Suingues podem causar dificuldades... mais tarde. Tudo tem que ser combinado... muito bem combinado, antecipadamente. E então pode ter pessoas que não se conheçam bem o suficiente, não importa quanto tenham conversado.
– Você é um desses, Joe?
– Bem, esse negócio de suingue pode ser bom para alguns... talvez seja bom para muitos. Acho que não daria certo para mim. Sou muito puritano.
Joe terminou sua bebida. Edna bebeu o restante da sua e se levantou.
– Escute, Joe, tenho que ir...
Joe caminhou através da sala na direção dela. Ele parecia um elefante naquelas calças. Ela viu suas orelhas grandes. Então ele a agarrou e começou a beijá-la. Seu mau hálito vencia todas as bebidas. Ele tinha um cheiro muito azedo. Parte de sua boca não estava fazendo contato. Era forte, mas sua força não era pura, sua força claudicava. Ela afastou seu rosto para longe e mesmo assim ele a mantinha presa.
PROCURA-SE MULHER
– Joe, me solta! Você está indo muito rápido, Joe! Me solte!
– Para que você veio aqui, sua puta?
Ele tentou beijá-la novamente e conseguiu. Era horrível. Edna ergueu o joelho. Acertou-o em cheio. Ele se dobrou e caiu no tapete.
– Deus, deus... por que você fez isso? Você tentou me matar...
Ele rolava no chão.
Seu traseiro, ela pensou, ele tinha uma bunda tão feia.
Deixou-o rolando no tapete e desceu as escadas correndo. O ar estava limpo lá fora. Ela ouviu pessoas conversando, ouviu seus aparelhos de televisão. Não era uma caminhada muito longa até seu apartamento. Sentiu necessidade de outro banho, livrou-se do seu vestido de seda azul e se lavou. Então saiu da banheira, secou-se com a toalha e ajeitou os rolos em seus cabelos. Decidiu que nunca mais o veria.
– Ao sul de lugar nenhum
mas o poema da sua morte não sai
está aqui atravancado
engarrafando minhas letras
Devia canalizar sua perda
dar forma ao seu espírito
transformar seu sono
em algo lírico
Mas desde que morreu meu pai
e faz mais de ano
Meu Deus!como ainda o amo!
a beleza da mortal dor não sai
seu corpo em sono me volta
o choro solta
só sei dizer ai.
Será isso que escrevo o poema prometido?
Será finalmente agora
a hora do que foi sentido?
Preciso deste poema
preciso lembrar sua partida
mas,quando lembro seu rosto adormecido
só sai o poema
da sua vida.
Meu pai era grande, enorme
é tão bom ter um pai grande
um abraço cobertor
mão que encolhe a nossa
olhar para o alto quando se pede desculpas
ouvir sua voz grossa.
(como pode tanto homem caber em caixa tão pequena?
Suas cinzas na madeira clara não deviam estar lá
e sim fazer plantar uma flor nobre e rara)
A madrugada, o susto, a dor.
Cadê meu abraço cobertor?
Os pêsames ingleses são mais gentis
os telefonemas interurbanos mais sutis.
Morte anunciada num pedido de pizza...
senti a pista do adeus
mas nada fiz.
A policial foi meiga,
o legista competente
o agente funerário
naquele internacional calvário
era quase gente
saído de um texto de Dickens, alto como meu pai, branco de chuva
negro nas capas
sua voz pausada
como tapas.
Meu pai morreu feliz
Tinha as filhas em Londres por sorteio
a mulher amada ao seu lado
tinha,na véspera, se embriagado
vinho francês, boa safra
nada restou na garrafa
seu diário continha planos
de lá voltar para o ano.
Mas foi outra a viagem
no avião, apenas sua bagagem
Meu pai só queria viajar
o coração não prestava, enchia os pulmões de sangue
e ele queria comer churrasco e não fazer fiasco no amor
terminou seu programa dormindo em sua cama
com um sorriso tranquilo e um filete de vinho e sangue.
Que raiva que me dá!
Não posso te perdoar por me deixar órfã
de sua voz
meus filhos sem o vovô
que dava beijos e broncas
Você tinha tanto para fazer com eles!
Cadê a Disneylândia que prometeu?
Cadê sua mão enorme de carinho e palmada?
Cadê você, papai?
Eu ainda sou tão pequena
estou perdida na faculdade
lá só tem o seu busto em bronze
aquele que eu destestava pois em vida me lembrava
que você ía morrer.
Posso até dizer que foi melhor assim.
não sou egoísta, sou artista e crente
fui cursilhista e acredito em vida após a morte
e por sorte,você foi bom.
Meu discurso é piedoso e inteligente
posso até dizer-me carente mas olho pro céu
como te olhava tão alto
suspiro, foi esperto fugindo aqui perto
Não viu que seu voto para presidente
foi cuspido por um indecente
não viu que sua irmã decidiu a todos atormentar
só falava em se suicidar.
Mas também você perdeu!
Você ia adorar a linha vermelha
ia dizer "formidável!" franzindo a sobrancelha
e perdeu o Coquetel, um programa de TV
como muitos seios a mostra
bem como você gosta
E a seleção de volei? Esta foi sua maior falha
você não ver a nossa medalha.
Será que você vestiria preto naquele domingo?
Ah, meu pai,eu ia me orgulhar se te visse de luto
teríamos caminhado de mãos dadas na orla
por este país defunto
Ah,paizinho, se eu pudesse
te trazia nas minhas preces só pra ver as coisas boas
com olhos turistas eu te mostraria que o Brasil pode ter jeito
que a garotada está mudada
são índios de rosto em pintura
se chamam de caras-pintadas
são outras criaturas.
Você era tão grande
que o coração cansou de bombear.
Olha pai,não quero mais te cansar
sei que ando reclamando de falta de grana
de excesso de preocupação
mas, não liga não,pode deixar
pois se você me ensinou alguma coisa
essa coisa foi lutar.
Feliz dias dos pais, meu querido, Meuzinho, meu
velho, meu papai Darcy!
Beijos carinhosos de sua sempre filhinha caçula e
pequena. Sinto falta docê,pai!

Que acorde o lenhador
A oeste do Colorado River
há um lugar que amo.
Acorro ali com tudo o que palpitando
transcorre em mim, com tudo
o que fui, o que sou, o que mantenho.
Há umas altas pedras vermelhas, o ar
selvagem de mil mãos
as fez edificar estruturas:
o escarlate cego subiu do abismo
e nelas se fez cobre, fogo e força.
América estendida como a pele do búfalo,
aérea e clara noite do galope,
lá para as alturas estreladas,
bebo a tua taça de verde orvalho.
Sim, por acre Arizona e Wisconsin nodoso,
até Milwaukee levantada contra o vento e a neve
ou nos excitados pântanos de West Palm,
perto dos pinheirais de Tacoma, no espesso
odor de aço de teus bosques,
andei pisando terra mãe,
folhas azuis, pedras de cachoeira
, furacões que tremiam como toda música,
rios que rezavam como os monastérios,
marrecos e maçãs, terras e águas,
infinita quietude para que o trigo nasça.
Ali pude, em minha pedra central, estender ao ar
olhos, ouvidos, mãos, até ouvir
livros, locomotivas, neve, lutas,
fábricas, tumbas, vegetais, passos,
e de Manhattan a lua no navio,
o canto da máquina que fia,
a colher de ferro que come terra,
a perfuratriz com seu golpe de condor
e tudo o que corta, oprime, corre cose:
seres e rodas repetindo e nascendo.
Amo o pequeno lar do farmer. Recentes mães dormem
aromadas como o xarope do tamarindo, os panos
recém-passados. Arde
o fogo em mil lares rodeados de cebolas
. (Os homens quando cantam perto do rio têm
uma voz rouca como as pedras do fundo:
o tabaco saiu de suas largas folhas
e como um duende do fogo chegou a estes lares.)
Vinde para dentro de Missouri, olhai o queijo e a farinha,
as tábuas olorosas, rubras como violinos,
o homem navegando a cevada,
o potro azul recém-montado cheira
o aroma do pão e da alfafa:
sinos, papoulas, ferrarias,
e nos destrambelhados cinemas silvestres
o amor abre a sua dentadura
no sonho nascido da terra.
É tua paz que amamos, não a tua máscara.
Não é formoso o teu rosto guerreiro.
És formosa e vasta, América do Norte.
Vens de humilde berço como uma lavadeira,
junto de teus rios, branca.
Edificada no desconhecido,
em tua paz de colmeia o doce teu.
Amamos o teu homem com as mãos vermelhas
do barro de Oregon, teu menino negro
que te trouxe a música nascida
em sua comarca de marfim: amamos
tua cidade, tua substância,
tua luz, teus mecanismos, a energia
do oeste, o pacífico
mel, de colmeal e aldeia,
o gigante jovem no trator,
a aveia que herdaste
de Jefferson, a roda rumorosa
que mede a tua terrestre oceania,
o fumo de uma fábrica e o beijo
número mil de uma colônia nova:
teu sangue lavrador é o que amamos:
a tua mão popular cheia de azeite.
Sob a noite dos prados já faz tempo
repousam sobre a pele do búfalo em grave
silêncio as sílabas, o canto
do que fui antes de ser, do que fomos.
Melville é um abeto marinho, de seus ramos
nasce uma curva de carena, um braço
de madeira e navio. Whitman inumerável
como os cereais, Poe em sua matemática
treva, Dreiser, Wolfe,
frescas feridas de nossa própria ausência,
Lockridge recente, atados à profundidade,
quantos outros, atados à sombra:
sobre eles a mesma aurora do hemisfério arde
e deles está feito o que somos,
Poderosos infantes, capitães cegos,
entre acontecimentos e folhagens às vezes amedrontados,
interrompidos pela alegria e pela dor,
sob os prados cruzados de tráfico,
quantos mortos nas planícies antes não visitadas:
inocentes atormentados profetas recém-impressos,
sobre a pele do búfalo dos prados.
Da França, de Okinawa, das coralinas
de Leyte (Norman Mailer o deixou escrito),
do ar enfurecido e das ondas,
retornaram quase todos os rapazes
. Quase todos ... Foi verde e amarga a história
de lama e suor: não ouviram
bastante o canto dos arrecifes
nem tocaram talvez a não ser para morrer nas ilhas, as coroas
de fulgor e fragrância:
sangue e esterco
os perseguiram, a imundície e as ratazanas,
e um cansado e desolado coração que lutava.
Mas já voltaram,
os recebestes
no vasto espaço das terras estendidas
e se fecharam (os que voltaram) como uma corola
de inumeráveis pétalas anônimas
para renascer e olvidar.
II
Mas além disso encontraram
um hóspede em casa,
ou trouxeram novos olhos (ou foram cegos antes)
ou a hirsuta ramaria lhes rompeu as pálpebras
ou novas coisas há nas terras da América.
Aqueles negros que combateram contigo, os
duros e sorridentes, olhai:
puseram uma cruz ardendo
diante de seus casarios,
enforcaram e queimaram o teu irmão de sangue:
fizeram-no combatente, hoje lhe negam
palavra e decisão: juntam-se
à noite os verdugos
encapuzados, com a cruz e o chicote.
(Outra coisa
se ouvia em além-mar combatendo.)
Um hóspede imprevisto
como um velho octópode roído,
imenso, circundante,
instalou-se em tua casa, soldadinho:
a imprensa destila o antigo veneno, cultivado em Berlim .
Os jornais (Times, Newsweek, etc.) converteram-se
em amarelas folhas de delação: Hearst,
que cantou o canto de amor aos nazistas, sorri
e afia as unhas para que partais de novo
para os arrecifes ou para as estepes
a combater por este hóspede que ocupa a tua casa.
Não te dão trégua: querem continuar vendendo
aço e balas, preparam uma nova pólvora
e é preciso vendê-la logo, antes que lhe passe à frente
a fresca pólvora e caia em novas mãos.
Por todas as partes os amos instalados
em tua mansão aumentam suas falanges,
amam a Espanha negra e uma taça de sangue te oferecem
(um fuzilado, cem): o coquetel Marshall.
Escolhei sangue jovem: camponeses
da China, prisioneiros
da Espanha,
sangue e suor de Cuba açucareira,
lágrimas de mulheres,
das minas de cobre e do carvão no Chile,
logo batei com energia
como um golpe de garrote
não esquecendo pedacinhos de gelo e algumas gotas
do canto Defendemos a cultura cristã.
É amarga esta mistura?
Já te acostumarás, soldadinho, a bebe-la.
Em qualquer lugar do mundo, à luz da lua,
ou pela manhã, no hotel de luxo,
pede esta bebida que dá vigor e refresca
e paga-a com uma boa nota
com a imagem de Washington.
Descobriste também que Charlie Chaplin, o último
pai da ternura no mundo,
deve fugir, e que os escritores (Howard Fast, etc.),
os sábios e os artistas
em tua terra
devem sentar-se para ser julgados por “un-american” pensamentos
diante dum tribunal de mercadores enriquecidos pela guerra.
Até os últimos confins do mundo chega o medo.
Minha tia lê essas notícias assustada,
e todos os olhos da terra olham
para esses tribunais de vergonha e vingança.
São os estrados dos Babbits sangrentos, `
dos escravagistas, dos assassinos de Lincoln,
são as novas inquisições levantadas agora
não pela cruz (e então era horrível e inexplicável)
mas pelo ouro redondo que bate
nas mesas dos prostíbulos e nos bancos
e que não tem, o direito de julgar.
Em Bogotá uniram-se Moríñigo, Trujillo,
González Videla, Somoza, Dutra, e aplaudiram.
Tu, jovem americano, não os conheces: são
os vampiros sombrios de nosso céu, amarga
é a sombra de suas asas:
prisões,
martírio, morte, ódio: as terras
do sul com petróleo e nitrato
conceberam monstros.
À noite no Chile, em Lota,
na humilde e molhada casa dos mineiros,
chega a ordem do verdugo. Os filhos
acordam chorando.
Milhares deles
encarcerados, pensam.
No Paraguai
a densa sombra florestal esconde
os ossos do patriota assassinado, um tiro
soa
na fosforescência do verão.
Morreu
ali a verdade.
Por que não intervêm
em São Domingos para defender o Ocidente Mr. Vandenberg,
Mr. Armour, Mr. Marshall, Mr. Hearst?
Por que na Nicarágua o senhor presidente,
despertado à noite, atormentado, teve
de fugir para morrer no desterro?
(Ali há bananas a defender e não liberdades,
e para isso basta Somoza.)
As grandes
vitoriosas idéias estão na Grécia
e na China para auxílio
de governos manchados como alfombras imundas.
Ai, soldadinho!
III
Também eu mais além de tuas terras, América,
ando e faço minha casa errante, vôo, passo,
canto e converso através dos dias.
Na Ásia, na URSS, nos Uraís me detenho
e estendo minha alma empapada de soledades e resina.
Amo o quanto nos espaços
a golpes de amor e luta o homem criou.
Ainda rodeia a minha casa nos Urais
a antiga noite dos pinheiros
e o silêncio como uma alta coluna.
Trigo e aço aqui nasceram
da mão do homem, de seu peito.
E um canto de martelos alegra o bosque antigo
como um novo fenômeno azul.
Daqui olho extensas zonas do homem,
geografia de meninos e mulheres, amor,
fábricas e canções, escolas
que brilham como goivos na selva
onde morou até ontem a raposa selvagem.
Daquele ponto abarca a minha mão no mapa
o verde dos prados, o fumo
de mil oficinas, os aromas
têxteis, o assombro
da energia dominada.
Volto nas tardes
pelos novos caminhos recém-traçados
e entro nas cozinhas
onde ferve o repolho e de onde sai
um novo manancial para o mundo.
Também aqui regressaram os rapazes,
mas muitos milhões ficaram atrás,
enganchados, pendurados nas forcas,
queimados em fornos especiais,
destruídos até não ficar deles
mais que o nome na lembrança.
Também foram assassinadas suas povoações:
a terra soviética foi assassinada:
milhões de vidros e ossos se confundiram,
vacas e fábricas, até a primavera
desapareceu tragada pela guerra.
Voltaram os rapazes, no entanto,
e o amor pela pátria construída
se havia mesclado neles com tanto sangue
que Pátria dizem com as veias,
União Soviética cantam com o sangue.
Foi alta a voz dos conquistadores
da Prússia e de Berlim quando voltaram
para que renascessem as cidades,
os animais e a primavera.
Walt Whitman, ergue a tua barba de relva,
olha comigo do bosque,
destas magnitudes perfumadas.
Que vês aí, Walt Whitman?
Vejo, me diz meu irmão profundo,
vejo como trabalham as usinas,
nas cidades que os mortos recordam,
na capital pura,
na resplandecente Stalingrado.
Vejo da planície combatida
do padecimento e do incêndio
nascer na umidade da manhã
um trator rechinante na direção das planuras.
Dá-me a tua voz e peso de teu peito enterrado,
Walt Whitman, e as graves
raízes de teu rosto
para cantar estas reconstruções!
Cantemos juntos o que se levanta
de todas as dores, o que surge
do grande silêncio, da grave
vitória:
Stalingrado, surge a tua voz de aço,
renasce andar por andar a esperança
como uma habitação coletiva,
e há um tremor de novo em marcha
ensinando,
cantando
e construindo.
Do sangue surge Stalingrado
como uma orquestra de água, pedra e ferro
e o pão renasce nas padarias,
a primavera nas escolas,
sobe novos andaimes, novas árvores,
enquanto o velho e férreo Volga palpita.
Estes livros,
em frescas caixas de pinho e cedro,
estão reunidos sobre o túmulo
dos verdugos mortos:
estes teatros feitos nas ruínas
cobrem martírio e resistência:
livros claros como monumentos:
um livro sobre cada herói,
sobre cada milímetro de morte,
sobre cada pétala desta glória imutável.
União Soviética, se juntássemos
todo o sangue derramado em tua luta,
todo o que deste como mãe ao. mundo
para que a liberdade agonizante vivesse,
teríamos um novo oceano,
grande como nenhum outro,
profundo como nenhum outro,
vivente como todos os rios,
ativo como o fogo dos vulcões araucanos.
Neste mar mergulha a tua mão,
homem de todas as terras,
e levanta-a depois para afogar nele
aquele que esqueceu, que ultrajou,
o que mentiu e o que manchou,
o que se uniu com cem pequenos cachorros
da lixeira do Ocidente
para insultar o teu sangue, Mãe dos livres!
Do fragrante odor dos pinheiros urais
olho a biblioteca que nasce
no coração da Rússia,
o laboratório no qual o silêncio
trabalha, olho os trens que levam
madeira e canções a novas cidades,
e nesta paz balsâmica cresce um latejar
como em novo peito:
à estepe moças e pombas
regressam agitando a brancura,
os laranjais se povoam de ouro:
o mercado tem hoje
a cada amanhecer
um novo aroma,
um novo aroma que chega das altas terras
nas quais o martírio foi maior:
os engenheiros fazem tremular o mapa
das planícies com os seus números
e as tubulações se envolvem como longas serpentes
nas terras do novo inverno vaporoso.
Em três aposentos do velho Kremlin
vive um homem chamado José Stálin.
Tarde se apaga a luz de seu quarto.
O mundo e sua pátria não lhe dão repouso.
Outros heróis deram à luz uma pátria,
ele além disso ajudou a conceber a sua,
a edificá-la,
a defendê-la.
Sua imensa pátria é, pois, parte dele mesmo
e não pode descansar porque ela não descansa.
Em outro tempo a neve e a pólvora
o encontraram diante dos velhos bandidos
que quiseram (como agora mais uma vez) reviver
o knut, e a miséria, a angústia dos escravos,
a dor adormecida de milhões de pobres.
Ele esteve contra os que como Wrangel e Denikin
foram enviados do Ocidente para “defender a cultura”.
Lá deixaram o couro aqueles defensores
dos verdugos, e no vasto terreno
da URSS, Stálin trabalhou noite e dia.
Porém mais tarde chegaram numa onda de chumbo
os alemães cevados por Chamberlain.
Stálin os enfrentou em todas as vastas fronteiras,
em todas as retiradas, em todos os assaltos
e até Berlim os seus filhos como um furacão de povos
chegaram e levaram a paz vasta da Rússia.
Molotov e Vorochilov
lá estão, eu os vejo,
com os outros, os altos generais,
os indomáveis.
Firmes como nevadas azinheiras.
Nenhum deles tem palácios.
Nenhum deles tem regimentos de servos.
Nenhum deles se tornou rico na guerra
vendendo sangue.
Nenhum deles vai como um pavão real
ao Rio de Janeiro ou a Bogotá
comandar pequenos sátrapas manchados de tortura:
nenhum deles tem duzentos trajes:
nenhum deles tem ações em fábricas de armamentos,
e todos eles têm
ações
na alegria e na construção
do vasto país onde ressoa a aurora
erguida na noite da morte.
Eles disseram “camarada” ao mundo.
Eles fizeram rei o carpinteiro.
Por essa agulha não entrará um camelo.
Lavaram as aldeias.
Repartiram a terra.
Elevaram o servo.
Apagaram o mendigo.
Aniquilaram os cruéis.
Fizeram luz na espaçosa noite.
Por isso a ti, moça de Arkansas, ou, melhor ainda,
a ti, jovem dourado de West Point, ou, melhor,
a ti, mecânico de Detroit, ou, ainda,
a ti, carregador da velha Orleans, a todos
falo e digo: firma teu passo,
abre teu ouvido ao vasto mundo humano,
não são os elegantes do State Department
nem os ferozes donos do aço
os que te estão falando,
mas um poeta do extremo sul da América,
filho dum ferroviário da Patagônia,
americano como o ar andino,
hoje fugitivo duma pátria na qual
o cárcere, o tormento, a angústia imperam
enquanto o cobre e o petróleo lentamente
se convertem em ouro para reis alheios.
Tu não és
o ídolo que numa mão leva o ouro
e na outra a bomba.
Tu és
o que sou, o que fui, o que devemos
amparar, o fraternal subsolo
da América puríssima, os singelos
homens dos caminhos e das ruas.
Meu irmão Juan vende sapatos
como o teu irmão John,
minha irmã Juana descasca batatas,
como a tua prima Jane,
e meu sangue é mineiro e marinheiro
como o teu sangue, Peter.
Tu e eu vamos abrir as portas
para que passe a brisa dos Urais
através da cortina de tinta,
tu e eu vamos dizer ao furioso:
“My dear guy, daqui não passarás”,
daqui pra cá a terra nos pertence
para que não se ouça a rajada
da metralhadora, porém uma
canção, e outra canção, e outra canção.
IV
Porém se armas as tuas hostes, América do Norte,
para destruir essa fronteira pura
e levar o magarefe de Chicago
ao governo da música e da ordem
que amamos,
sairemos das pedras e do ar
para morder-te:
sairemos da última janela
para derramar-te fogo:
sairemos das ondas mais profundas
para cravar-te com espinhos:
sairemos do eito para que a semente
golpeie como um punho colombiano,
sairemos para negar-te pão e água,
sairemos para queimar-te no inferno.
Não ponhas então o pé, soldado,
na doce França, porque lá estaremos
para que as verdes vinhas dêem vinagre
e as moças pobres te mostrem o local
no qual está fresco o sangue alemão.
Não subas pelas secas serras da Espanha
porque cada pedra se converterá em fogo,
e lá mil anos combaterão os valentes:
não te percas entre os olivais porque
nunca tornarás a Oklahoma, mas não entres
na Grécia, que até o sangue que hoje estás derramando
se levantará da terra para deter-vos.
Não venhais pescar então em Tocopilla
porque o peixe-espada conhecerá vossos despojos
e o obscuro mineiro da Araucania
procurará as antigas flechas cruéis
que esperam enterradas novos conquistadores.
Não confieis no gaúcho cantando uma vidalita,
nem no operário dos frigoríficos. Eles
estarão em todas as partes com olhos e punhos,
como os venezuelanos que vos esperam nessa ocasião
com uma garrafa de petróleo e uma guitarra nas mãos.
Não entres, não entres tampouco na Nicarágua.
Sandino dorme na selva até tal dia,
seu fuzil se encheu de cipós e de chuva,
seu rosto não tem pálpebras,
mas as feridas com que o matastes estão vivas
como as mãos de Porto Rico que esperam
as luzes das facas.
Será implacável o mundo para vós.
Não só as ilhas serão despovoadas, mas o ar
que já conhece as palavras que lhe são queridas.
Não chegues a pedir carne de homem
no alto Peru: na névoa roída dos monumentos
o doce antepassado de nosso sangue afia
contra ti as suas espadas de ametista,
e pelos vales o rouco caracol de batalha
congrega os guerreiros, os fundeiros
filhos de Amaru. Nem pelas cordilheiras mexicanas
busques homens para levá-los a combater a aurora;
os fuzis de Zapata não estão dormidos,
são azeitados e apontados para as terras do Texas.
não entres em Cuba, que do fulgor marinho
dos canaviais suarentos
há um único escuro olhar que te espera
e um único grito até matar ou morrer.
Não chegues
à terra de partisanos na rumorosa
Itália: não passes das filas dos soldados com jacquet
que manténs em Roma, não passes de São Pedro:
além os santos rústicos das aldeias,
os santos marinheiros do pescado
amam o grande país da estepe
no qual floresceu de novo o mundo.
Não toques
nas pontes da Bulgária, não te darão passagem,
os rios da Romênia, jogaremos neles sangue fervendo
para que queimem os invasores:
não cumprimentes o camponês que hoje conhece
os túmulos dos feudais, e vigia
com seu arado e seu rifle: não olhes para ele
porque te queimará como uma estrela.
Não desembarques
na China: já não existirá Chang, o Mercenário,
rodeado de sua apodrecida corte de mandarins:
haverá para esperar-vos uma selva
de foices labregas e um vulcão de pólvora.
Em outras guerras existiram fossos com água
e depois cercas de arame, com puas e garras,
mas este fosso é maior; estas águas mais fundas,
estes arames mais invencíveis que todos os metais.
São um átomo e outro do metal humano,
são um nó e mil nós de vidas e vidas:
são as velhas dores dos povos
de todos os remotos vales e reinos,
de todas as bandeiras e navios,
de todas as covas onde foram amontoados,
de todas as redes que saíram contra a tempestade,
de todas as ásperas rugas da terra,
de todos os infernos nas quentes caldeiras,
de todos os teares e das fundições,
de todas as locomotivas perdidas ou congregadas.
Este arame dá mil voltas no mundo:
parece dividido, desterrado,
e de repente se juntam seus ímãs
para encher a terra.
Porém ainda
mais longe, radiantes e determinados,
acerados, sorridentes,
para cantar ou combater
vos esperam
homens e mulheres da tundra e da taiga,
guerreiros do Volga que venceram a morte,
meninos de Stalingrado, gigantes da Ucrânia,
toda uma vasta e alta parede de pedra e sangue,
ferro e canções, coragem e esperança.
Se tocardes neste muro caireis
queimados como o carvão das usinas
, os sorrisos de Rochester se farão trevas
que logo a neve enterrará a brisa da estepe
e logo a neve enterrará para sempre.
Virão os que lutaram desde Pedro
Até os novos heróis que assombraram a terra
E farão de suas medalhas pequenas balas frias
Que silvarão sem trégua de toda
A vasta terra que hoje é alegria.
E do laboratório coberto de trepadeiras
Sairá também o átomo desencadeado
Na direção de vossas cidades orgulhosas.
V
Que nada disso aconteça.
Que desperte o Lenhador.
Que venha Abraham com seu machado
E com o seu prato de madeira
Para comer com os camponeses.
Que a sua cabeça de córtice,
Seus olhos vistos nas tábuas,
Nas rugas do carvalho,
Voltem a olhar o mundo
Subindo sobre as folhagens,
Mais altos que as sequóias.
Que entre para comprar nas farmácias,
Que tome um ônibus em Tampa,
Que morda uma maçã amarela,
Que entre num cinema, que converse
Com toda a gente simples.
Que desperte o Lenhador.
Que venha Abraham, que faça crescer
Seu velho fermento a terra
Dourada e verde de Illinois,
E levante o machado no meio do seu povo
Contra os novos escravagistas,
Contra o chicote do escravo,
contra o veneno da imprensa,
contra a mercadoria
sangrenta que querem vender.
Que marchem cantando e sorrindo
o jovem branco, o jovem negro,
contra as paredes de ouro,
contra o fabricante de ódio,
contra o mercador de sangue,
cantando, sorrindo e vencendo.
Que desperte o Lenhador.
VI
Paz para os crepúsculos que chegam,
paz para a ponte, paz para o vinho,
paz para as letras que me procuram
e que em meu sangue sobem enredando
v velho canto com terra e amores,
paz para a cidade na manhã
quando desperta o pão, paz para o rio
Mississípi, rio das raízes:
paz para a camisa de meu irmão,
paz para o livro como um selo de aragem,
paz para o grande colcós de Kíev,
paz para as cinzas destes mortos
e destes outros mortos, paz para o ferro
negro de Brooklyn, paz para o carteiro
de casa em casa como o dia,
paz para o coreógrafo que grita
com um megafone, às campanhas,
paz para a minha mão direita,
que só quer escrever Rosario:
paz para o boliviano secreto
como uma pedra de estanho, paz
para que tu te cases, paz para todas
as serrarias de Bío-Bío,
paz para o coração dilacerado
da Espanha guerrilheira:
paz para o pequeno museu de Wyoming,
no qual o mais doce
é um travesseiro com um coração bordado,
paz para o padeiro e seus amores
e paz para a farinha: paz
para todo o trigo que deve nascer,
para todo o amor que buscará folhagem,
paz para todos os que vivem: paz
para todas as terras e todas as águas.
Aqui eu me despeço, volto
para casa, em meus sonhos,
volto para a Patagônia, onde
o vento bate nos estábulos
e respinga e gela o oceano.
Não sou mais que um poeta: amo todos vós,
ando errante pelo mundo que amo:
em minha pátria encarceram mineiros
e os soldados mandam nos juízes.
Porém eu amo até as raízes
de meu pequeno país frio.
Se tivesse que morrer mil vezes
lá quero morrer:
se tivesse de nascer mil vezes
lá quero nascer,
perto da araucária selvagem,
do vendaval do vento sul,
dos sinos recém-comprados.
Que ninguém pense em mim.
Pensemos na terra toda,
batendo com amor na mesa.
Não quero que volte o sangue
a empapar o pão, os feijões,
a música: quero que venha
comigo, o mineiro, a menina,
o advogado, o marinheiro,
o fabricante de bonecas,
que entremos no cinema e saiamos
para beber o vinho mais rubro.
Não venho para resolver nada.
Vim aqui para cantar
e para que cantes comigo.
Bruno Tolentino.
Editora Topbooks
130 páginas • R$ 20
Com quem Bruno Tolentino vai brigar desta vez? Muitos podem estar se fazendo esta pergunta agora, enquanto lêem mais uma reportagem sobre o polêmico autor de "As horas de Katharina".
Faz sentido. Tolentino se especializou em provocar debates inflamados nos jornais. Já discutiu com Caetano Veloso, os irmãos concretistas Haroldo e Augusto de Campos, o ensaísta Antônio Paulo Graça e o poeta Ivan Junqueira. Agora, aproveita o lançamento de um novo livro para desenferrujar a metralhadora giratória.
Sentado à mesa de um restaurante no Centro, Tolentino reza para agradecer o peixe grelhado com batatas antes de começar a falar sobre "A balada do cárcere", livro de poemas que narra a sua experiência numa penitenciária de Londres. O poeta foi preso em 1989, por porte de drogas, passou 22 meses detido e acabou organizando um workshop de criação poética para os outros presos - a maioria semi-analfabeta.
- Foi nessa época que percebi que conseguia escrever sem o auxílio da cocaína - conta Tolentino. - Devo isso à cadeia. Achava que era a droga que me inspirava, porque eu tinha que achar uma explicação para tanta inspiração. Tive um longo envolvimento com o "sublime pó" e ficava espantadíssimo de escrever tão bem, mas depois vi que não era a droga que tornava meus versos magníficos: eles já eram muito bons mesmo.
Poeta diz que será compreendido pela próxima geraçãoNo almoço de duas horas, o auto-elogio aumenta à medida em que o peixe e as batatas vão sumindo do prato. Tolentino não parece se incomodar em ser mais conhecido pelo que fala nos jornais do que pelo que escreve nos livros. Perguntado se sua obra terá fôlego para continuar sendo lida daqui a cem anos, ele disse acreditar que muito antes disso os leitores já terão se rendido ao seu talento:
- Fui bonito, rico, gostoso, inteligente e poliglota, enfim, uma obra-prima - afirma. - A vaidade para mim sempre foi uma coisa natural... Quando descobri que eu também escrevia bem, me pareceu um pouquinho demais, mas era verdade. Mas sempre fui mais orgulhoso do que vaidoso. Sei que vai demorar muito menos que cem anos para eu ser lido e aceito, isso já vai se dar na próxima geração. Vão entender que sou o Fernando Pessoa daqui, que eu trouxe universalidade à nossa poesia.
Tolentino se considera um oásis de talento no deserto da poesia nacional. Acredita que as mulheres de sua geração são muito melhores que os homens, e por isso dedica "A balada do cárcere" a Orides Fontela, Adélia Prado e Neide Archanjo. Ele diz que o título de sua "balada" é um clara citação ao livro homônimo de Oscar Wilde, embora acredite que seus versos são menos pessoais que os do autor inglês.
- Dou voz a um preso, Nick, que matou a mulher. Através dele, falo da cadeia e da experiência com minha própria mulher, de quem tinha me separado um pouco antes. Enquanto escrevia, lembrava da imagem dela, belíssima, me olhando através da janela do trem. Oscar Wilde fala de si mesmo mais diretamente.
Também garante que existem diferenças em relação ao conteúdo homossexual do poema de Wilde. Acusado por Antônio Paulo Graça de ter feito um "opúsculo homossexual", Tolentino conta que ficou isolado na cadeia, por isso não recebeu nenhuma cantada:
- O único contato que tinha com os outros era na hora dos seminários de poesia. Mas lá dá vontade de fazer muita coisa, ainda mais porque minha sentença inicial era de 11 anos. Não sei o que aconteceria se eu ficasse com um daqueles homens na mesma cela. Meu poema tem um mesmo ponto de partida que o de Oscar Wilde: um sujeito que matou a mulher. Mas ele é muito mais pessoal do que eu, embora eu use o poema para refletir sobre a relação com minha mulher.
Elogiado pelo poeta Ferreira Gullar, que assina a quarta capa do livro, "A balada do cárcere" mistura a realidade da cadeia e mitologia grega e recebeu o Prêmio Cruz e Souza de 1995. Meio brincando, meio falando a verdade, Tolentino diz que irá à Academia Brasileira de Letras perguntar se vai receber o Prêmio
Machado de Assis este ano ou no ano que vem. Ele acredita que a crítica literária brasileira vive um de seus piores momentos:
- Não consigo achar nenhum crítico bom - diz ele. - São todos uns canalhas, não destaco ninguém, a não ser para o pelotão de fuzilamento. São todos podres, todos vendidos. Prestam mais atenção em Mano Caê e nos Chicos-chicos no fubá da vida do que nos verdadeiros poetas. Há uma menina que está publicando uma tese feita na Sorbonne sobre a solidão na literatura brasileira vista pela obra de Caetano Veloso. Francamente, um ensaio como esse cabe num bueiro de Liliputh. Mas nossos críticos vão dar atenção, porque não estão interessados em literatura.
O peixe já está no fim, sobram as batatas. Tolentino pede barrigas-de-freira como sobremesa, explicando minuciosamente a um espantado garçom que a culpa da "gravidez das freirinhas" não é dele. Enquanto espera, o poeta mostra que não aposentou o veneno da língua. Diz que soube por outras pessoas que tinha brigado com Ivan Junqueira, mas adorou romper relações com o poeta:
- Ele tinha me chamado para ser jurado de um concurso. Aceitei, mas resolvi sair do júri na última hora, para poder me candidatar ao prêmio. Ele ficou magoado. Tudo bem, isso foi uma bênção. Fiquei livre de uma múmia empolada. O fato de eu escrever muito bem milita contra mim, minha briga com Juju-quequeira vem daí.
Os irmãos Campos são o alvo predileto do poeta, que escreveu o ensaio "Os sapos de ontem" com o único intuito de criticar o concretismo. Para Tolentino, o movimento só pôde existir porque São Paulo é uma terra cheia de pensadores e filósofos - como Sérgio Buarque de Holanda e Sergio Milliet - mas sempre foi pobre de poetas.
- Os paulistas só produziram Vicente de Carvalho e Ribeiro Couto, este um poeta menorzinho - avalia. - Cassiano Ricardo nem comento, porque estamos à mesa. E Mario de Andrade me dá vontade de rir. O concretismo está fazendo 40 anos de farsa.
Haroldo e Augusto ainda não conseguiram ser tão bonitos por dentro quanto são por fora.

vocação política com o interesse pela cultura.
Minha admiração por seu talento transpõe todas as
fronteiras geográficas. SÉRGIO ROUANET, da Academia
Brasileira de Letras.
É fácil observar que as poesias de Ronaldo Cunha Lima
retratam de sobremaneira a nossa realidade, principalmente
quando ele fala do sentimento humano. Ao ler suas poesias,
o homem apaixonado, ou que viveu um grande amor, encontra
o consolo desejado, amenizando mansamente a sua dor.
FLÁVIO SÁTIRO FILHO, advogado, poeta, ex-Secretário-Executivo
da Fundação Casa de José Américo.
Poeta por natureza, Ronaldo Cunha Lima faz da vida uma
poesia e dá vida à poesia que faz. A sua produção lírica
é feita com amor. O poeta não constrói como o pedreiro,
como o engenheiro, como o fabricante ou o industrial.
Não trabalha com ferro e cimento, mas sim com palavras,
sentimentos, emoções, vibrações, quase o êxtase. Ronaldo
domina os verbos e os substantivos, a metrificação, a
prosódia e o léxico, em palavras que ele controla e
conduz como autêntico mestre. O senador-poeta Ronaldo
Cunha Lima é um escravo e um senhor do poema. MURILO
MELLO FILHO, Membro da Academia Norte-Riograndense de
Letras e do PEN CLUBE DO BRASIL.
(Não) Era preciso que, nem poeta, nem maior, porém um tanto exposto à galhofa, girando um pouco em tua atmosfera ou nela aspirando a viver como na poética e essencial atmosfera de sonhos translúcidos.
Era preciso que este pequeno cantor mudo, de ritmos inexistentes, vindo de lugar-nenhum, onde nem nunca se usa gravata, e raro alguém é polido, e a opressão é desestranha, e o heroísmo se banha, também, em ironia, era preciso que atual velho vinte-e-tantos-tombos, preso à tua "gauchice" por filamentos de ternura e vida, viesse ousar falar-te e, fruto imaturo, te visitasse para dizer-te alguns nadas, sobcolor de despoema.
Para dizer-te como os nós te amamos e que nisso, como em nada mais, nossa gente não se parece com qualquer gente do mundo - exclusive os que perderam bondes e esperanças, e voltam pálidos para casa, e cujos corpos transigem na confluência do amor, iludindo a brutalidade e a brutal idade, e que, secretamente, pronunciam tuas palavras de vida e sonho.
Bem sei que o discurso, acalanto freguês, não te esmorece, e esta tua vivência é tua entrevista aos hebdomadários. Não é a saudação dos entusiasmados que te ofereço. Eles existem, mas é a de gente comum em mundo incomum.
Nem faço muita questão da anti-matéria de meu canto, tão abaixo de ti, como uma letra mal sucedida, mandada por vida real ao escritor de todas as cartilhas.
Falam por mim sei quantos, sujos de inexpressåo e gente, levados a refletir, ainda que microssegundo, que te percorreram papel adentro e, em meio ao Palácio das Jóias, descobriram anéis que lhes serviam e se sentiram imensamente ricos.
Falam por mim os que simplesmente simples de coração nunca ouviram falar de ti, ou si, a não ser por adjetivos e nunca por eles mesmos, líricos ou cismarentos, irresponsáveis ou patéticos, cariciosos ou loucos, e os que não chegam a ser nada disso.
II
A noite dissolve os homens, e não te apaga, não, a visão.
A noite é mortal, mas já não o és, mesmo despido de fardões que não te caem bem, deselegante predestinado, condenado à Eternidade, independente de certidões.
Assim, perdida a sábia infância, acumulas a noite na calvície plena e adquires a dimensão do grande e o pedaço vital da trajetória.
E te fazes em frases.
E então sentimos a noite.
Não como trevas, mas como fonte natural de nostalgia e brisa, como se ao contato da tua mensagem voltássemos ao país secreto onde dormem meninos ambiciosos de soltar coisas ocultas no peito.
III
Vazio de sugestões alimentícias, matas a fome dos que foram (ou não) chamados à ceia celeste ou industrial. E notas na toalha da mesa, em plena janta, impurezas no branco - lição de coisas que a vida te ensinou.
IV
E agora, Carlos? Não sossegues.
Teus ombros suportam o mundo, embora tenhas apenas duas mãos e a poesia seja, definitivamente, incomunicável, teu verso é nossa consolação e cachaça.
Oitenta por cento de ferro nas almas e brejo e vontade de amar doem, e o tempo é matéria, definitivamente.
V
Fazendeiro aéreo, habilitado para a noite, carregas no bolso viola eternamente encordoada. És apenas um homem e teu presente inunda nossa vida inteira.
VI
No meio do caminho tinha uma retina que enxergava a pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento.
A pedra que ontem não vi hoje seria avalanche.
Ela repousa na vida, sem esconderijo, enxergada.
No meio do caminho tinha uma retina.
VII
E, ao contrário do que dizes, todos os meninos saltam de tua vida, a restaurar as suas.
Suspeitaste o velho em ti? Sabe o sábio que és, com tuas rugas e tua calva.
Foi bom que te expusésses: meditavas e meditávamos.
E tudo dizias... (ó palavras gastas, entretanto salvas, ditas de novo).
Poder de mais-que-humana voz, inventando novos caminhos, dando sopro aos exaustos; dignidade digna, amor profundo, crispação de ser humano, árvore firme ante desastres ecológicos, ó Carlos, meu e nosso amigo, tua vida e poesia FABRICAM a estrada de pó e esperança.
O próprio poeta Roberto Pontes lembra, em "Nota posterior" a seus poemas de Verbo Encarnado, que "encarnado é sinônimo de vermelho, havendo nas festas populares acirradas disputas entre os partidos azul e encarnado". Aceitando o mote, ressalto que, além da acepção bíblica de "verbo que se fez carne", junta-se à significação do título do livro de Roberto, a idéia da cor vermelha que, no imaginário ocidental, é a cor da paixão, reiterada, no encarnado, pela etimologia ligada à carne. A acepção de encarnado, como aquilo que é representado, ou penetrado por um espírito, o brasileirismo que considera como encarnado aquilo que assedia, importuna, o simbolismo do encarnado como cor dos partidos de esquerda, tudo isso converge para o título da coletânea de poemas que, hoje, chega ao público cearense. O verbo poético de Roberto é verbo vermelho na palavra-luta; é verbo de carne, na palavra-dor e na palavra-paixão, é verbo que nos assedia, ao exigir, em diferentes modulações, a lição da liberdade.
A mesma "Nota posterior", além de informar sobre datas, nomes e fatos ligados à gestação dos poemas, sendo, portanto, um adendo genético, funciona, também, como uma poética do autor. Nela, Roberto afirma que a poesia não é "exercício para narcisos", mas "fala insubmisssa" que age como "resistência" e como "incitação das consciências". Quem viveu a adolescência e a juventude durante "os anos de chumbo" – entre 64 e 84 – e recorda a sensação do medo, da revolta, da impotência da boca amordaçada que nos afligia nessa "página infeliz de nossa história" (na bela expressão de Chico Buarque em seu samba Vai passar), entende que os poemas de Roberto, escritos entre 64 e 83, são intérpretes dessa "memória corporal" e nos fazem não só recordá-la como reencarná-la.
Em Verbo Encarnado, o poeta nega-se o direito de contemplar a própria imagem; nunca é um só, é sempre um entre muitos: é cidadão do mundo em "Soul por Luther King", "Lembrança de Neruda", "O Pássaro Amarelo" (poema dedicado a Ho Chi Minh); cidadão do Nordeste e de Fortaleza, em "Composição sobre a Peixeira", "Os Nossos Meninos Azuis", "Chula da Rendeira", "Poema para Fortaleza" e tantos mais.
O poeta, naqueles tempos de revolta, traveste seu verbo em arma, como em "A Bala do Poema":
A palavra há de ser
a consistência da bala
.....................................
A palavra há de trazer
o peso do chumbo
a quentura
a explosão do peito
enquanto o amor não for reconhecido.
Ou, como em "Dedicatória":
Pixe muros
faça hinos
dê combate à ditadura
enforque em cordas de aço
toda forma de opressão.
Ou, ainda, como em "Definição":
trago um chicote
inquieto na mão
Mas se, em "Ultrapassagem", o poeta canta o momento feliz da fartura contra a guerra, da liberdade contra o medo, do mundo novo sem miséria, esse é o tempo do futuro:
quando o homem se souber
indigno do que até hoje cometeu
Apesar da delicadeza, quase diafaneidade, do poema "Os Ausentes", dedicado a Frei Tito –
Dos ausentes fica sempre um sorriso
como as pinturas recheias
de surpresa, reencontro e irreal.
– e que abre o livro, na versão em francês, o tom dominante de Verbo Encarnado é o que explode nas imagens audaciosas do ciclo apocalíptico, em "Antevéspera", "Véspera" e "O Dia":
e o ágape servido será dor e veneno.
No dia
e após o dia
a vida irá sumindo lentamente
e cheios de medalhas
os cus dos generais apodrecendo.
Essas são as últimas palavras do último poema do livro e, apesar de vertidas no futuro, são as que impregnam a nossa memória do passado que o livro do Roberto nos traz, dolorosamente, ao presente.
ANGELA GUTIÉRREZ é Professora Adjunta de Literatura Brasileira
no Curso de Letras da Universidade Federal do Ceará. Doutora em
Literatura Comparada pela UFMG. Pertence ao quadro de especialistas
da Associação Brasileira de Literatura Comparada – ABRALIC.
Autora de O mundo de Flora (romance) e Vargas Llosa e o Romance
Possível da América Latina (ensaio).

desleixado. ela era boa com os
bilhetes,
escrevia com uma letra grande
e indignada, ela era
boa nisso.
e ela levava sempre a maioria de suas
roupas,
mas eu abria uma garrafa
me sentava e olhava em volta –
e havia um chinelo rosa
embaixo da cama.
eu terminava o drinque
e me enfiava embaixo da cama
para pegar aquele chinelo rosa e
jogá-lo no lixo
e ao lado do chinelo rosa
eu encontrava uma calcinha
manchada de cocô.
e havia grampos de cabelo por todos os cantos:
no cinzeiro, na cômoda, no
banheiro. e suas revistas apareciam
por todos os cantos com suas capas exóticas:
“Homem Estupra Moça, Depois Joga o Corpo de um
Penhasco de 120 Metros.”
“Menino de 9 Anos Estupra 4 Mulheres em Banheiro de
Parada de Ônibus da Greyhound e Coloca Fogo em
Recipientes de Descarte.”
Sally me abandonava de um jeito desleixado.
na gaveta de cima, perto do Kleenex,
eu encontrava todos os bilhetes que eu lhe escrevera,
ordenadamente presos com 3 ou 4 tiras
elásticas.
e ela era desleixada com
as fotos:
eu encontrava uma com nós dois
agachados no capô do nosso
Plymouth 58 –
Sally mostrando bastante das pernas
e arreganhando um sorriso como mulher de bandido em Kansas City
saída dos
anos vinte,
e eu
mostrando as solas dos meus sapatos
com buracos circulares
acenando.
e havia fotos de cachorros,
todos eles nossos,
e fotos de crianças,
a maioria
dela.
a cada uma hora e vinte minutos
o telefone tocava
e era
Sally
e uma canção de jukebox,
certa canção que eu
detestava, e ela ficava falando
e eu escutava vozes
masculinas:
“Sally, Sally, esqueça essa porra de telefone,
volte, venha ficar aqui comigo,
bebê!”
“veja bem”, ela dizia, “existem outros homens no
mundo além de você.”
“essa é só a sua opinião”, eu respondia.
“eu poderia ter amado você pra sempre, Bandini”, ela dizia.
“vai se foder”, eu dizia e
desligava.
Bandini é estrume, óbvio,
mas era também o nome que eu me dera
em homenagem a um personagem um tanto sentimental e um tanto infantil
de um romance escrito por certo
italiano nos anos 1930.
eu servia outro drinque
e enquanto procurava uma tesoura no banheiro
para aparar o cabelo em volta das minhas orelhas
encontrava um sutiã numa das gavetas
e o segurava no alto junto à luz.
o sutiã tinha bom aspecto pelo lado de fora
mas por dentro – havia uma mancha de
suor e sujeira, e a mancha era escurecida,
moldada ali
como se nenhuma lavagem jamais
pudesse
eliminá-la.
eu bebia minha bebida
então começava a aparar o cabelo em volta das minhas orelhas
decidindo que eu era um homem bastante bonito.
mas eu ia levantar pesos
iniciar uma dieta
e me bronzear,
de qualquer maneira.
então o telefone tocava de novo
e eu levantava o fone
desligava
levantava o fone de novo
e o deixava
pendurado
pelo fio.
eu aparava meus pelos dos ouvidos, meu nariz, minhas
sobrancelhas,
bebia por mais uma ou duas horas,
então ia
dormir.
eu era despertado por um som que eu nunca chegara
a escutar antes –
dava uma sensação e soava como um alerta de
ataque atômico.
eu me levantava e procurava pelo som.
era o telefone
ainda fora do gancho
mas o som que vinha dele
lembrava muito mil vespas
morrendo queimadas. eu
pegava o
fone.
“senhor, aqui é o recepcionista. seu telefone está
fora do gancho.”
“certo, sinto muito. vou
desligar.”
“não desligue, senhor. sua esposa está no
elevador.”
“minha esposa?”
“ela afirma ser a sra. Budinski...”
“certo, é
possível...”
“o senhor poderia tirá-la do
elevador? ela não entende os
comandos... a linguagem dela é abusiva para conosco
mas ela afirma que o senhor
vai ajudá-la... e, senhor...”
“sim?”
“não quisemos chamar a
polícia...”
“bom...”
“ela está deitada no piso do
elevador, senhor, e, e... ela...
se urinou
toda...”
“o.k.”, eu dizia e
desligava.
eu saía de calção
drinque na mão
charuto na boca
e apertava o botão
do elevador.
lá vinha ele subindo:
um, dois, três, quatro...
as portas se abriam
e eis ali
Sally... e pequenos, delicados
gotejamentos e ondulantes filetes líquidos
derivando pelo piso do
elevador, e algumas poças
maculadas.
eu terminava o drinque
pegava-a e a carregava
para fora do
elevador.
eu a levava até o apartamento
jogava-a na cama
e tirava suas
calcinhas, saia e meias molhadas.
então eu colocava um drinque na mesinha
perto dela
me sentava no sofá
e eu mesmo tomava
mais um.
de repente ela se sentava ereta e
olhava em volta do
quarto.
“Bandini?”, ela perguntava.
“aqui”, eu
acenava com a mão.
“ah, graças a deus...”
então ela via o drinque e
o engolia de uma só
vez. eu me levantava,
servia outro, colocava cigarros, cinzeiro e
fósforos
ao lado.
então ela se erguia de novo:
“quem tirou as minhas
calcinhas?”
“eu.”
“eu quem?”
“Bandini...”
“Bandini? você não pode
me comer...”
“você se
mijou...”
“quem?”
“você...”
ela se sentava totalmente
ereta:
“Bandini, você dança como uma
bicha, você dança como uma
mulher!”
“vou quebrar o seu maldito
nariz!”
“você quebrou o meu braço, Bandini, não me venha
quebrar o meu nariz...”
então ela colocava a cabeça de volta no
travesseiro: “eu te amo, Bandini, amo
mesmo...”
então ela começava a roncar. eu bebia por mais
uma hora ou duas então
me deitava na cama com
ela. não me dava vontade de tocá-la
no começo. ela precisava de um banho
ao menos. eu botava uma perna em cima de uma dela;
não parecia tão
ruim. eu testava botar a
outra.
eu começava a me lembrar de todos os dias bons e as
noites boas...
deslizava um braço por baixo de seu pescoço,
então passava o outro em volta de sua
barriga e encostava meu pênis bêbado
suavemente em sua
virilha.
seu cabelo caía de volta
e subia por dentro das minhas narinas.
eu a sentia inalando pesadamente, depois
expirando. nós dormíamos desse jeito
pela maior parte da noite e até a
tarde seguinte. então eu me levantava e
ia até o banheiro e vomitava
e então era
a vez dela.
Quando o amor faz dos amantes os "animais enternecidos"de que nos fala o poeta cearense Roberto Pontes em Memória Corporal, esse achado elide a conotação antitética que em outro contexto estaria evidente. E isto ocorre simplesmente porque o amor, tal como o poeta o concebe e revitaliza literariamente, confere ao homem, enquanto bicho-amante, a mais completa e diversificada dimensão humanista. A depuradíssima imagem do enternecimento do animal-homem – uma entre muitas mais – como que sintetiza em seu despojamento calidoscópico metafórico de um discurso que dispensa, por desnecessários, os suportes da veemência usual e convencional dos poemas de amor. O reparo não equivale a repúdio aos que sabem exercitar a veemência de seus arroubos, mas não resta dúvida de que a ruptura aqui assinalada se opera em proveito de uma expressividade de elegância substantiva e sóbria. E não se trata de mera contenção verbal, já que o poeta assume o risco de fazer sua Memória Corporal fluir em liberdade, dentro dos condutos líricos que armou para "esta reflexão amadurecida e vivenciada sobre o amor", conforme escreve Carlos d’Alge nas abas da capa deste livro primorosamente ilustrado por Ana e Paulo Brandão.
O valor do texto de Roberto Pontes está realmente na força da palavra, na versátil inventiva e na amplitude dada ao velho tema. Sente-se, por exemplo, o pulsar do poema nesta confissão do poeta: "Quando me afoguei na região das termas/ bebi da mais profunda natureza." Mas o panteísmo não é o limite da amplitude do projeto poético do autor. Ele vai mais longe na escalada lírica e tece ainda segundo Carlos d’Alge – "um canto geral de integração e de ternura, de paz e realização humana". Tanto quanto a música, como queria Shakespeare, Roberto Pontes quer também a poesia como alimento do amor. E esse alimento ele o distribui sem apelar para a linguagem hiperbólica tão cara aos amantes. Curiosamente até, em certos passos de Memória Corporal o amor se nutre de poesia numa atmosfera de forte realismo imagístico, como no poema "Faltando Leite, Faltando Pão". Daí não ser "excessivo afirmar – com Lúcia helena no prefácio-ensaio intitulado "Sutil Tecido de Sal e Concha" – que a personagem central deste texto desejante é Eros, captado em todos os seus poros e latências".
Roberto Pontes iniciou-se na literatura nos anos 60 através do Grupo SIN (de sincretismo) e teve seu primeiro livro de poesia, Contracanto, publicado em Fortaleza pela Edições SIN, em 1968. O Grupo SIN, fundado por ele, Pedro Lyra, Horácio Dídimo, Linhares Filho e Rogério Bessa, desfez-se em 1969, porém marcou sua efêmera presença com a publicação de uma Sinantologia, reunindo aqueles poetas e alguns outros que haviam aderido ao movimento, cuja meta era a renovação das letras cearenses.
Em 1970 Roberto Pontes teve editado pela Imprensa Universitária do Ceará o volume Lições de Espaço – Teletipos, Módulos e Quânticas, um poema longo que naquele ano conquistou o Prêmio Universidade Federal do ceará. Ainda em 1970 o poeta publica o ensaio Vanguarda Brasileira: Introdução e tese, com que obtém o Pêmio Esso-Jornal de Letras, e no ano seguinte ganha em Brasília o Prêmio Fundação Nacional dos Garimpeiros com o poema Garimpo.
LUIZ F. PAPI é jornalista, poeta, tradutor e crítico.
Por muitos anos militou em O Globo e atualmente
trabalha na agência de notícias UPI. É autor de Arado Branco
(1957), livro apreendido pelos órgãos da repressão, em 1964,
no Rio de Janeiro; Poemas do Ofício (1964), Os Artífices (1967)
Este Ofício (1976) , e Desarvorárvore (1982) , todos de poesia.
Cartilha Anticrítica (1979) reúne artigos literários publicados
em vários órgãos da imprensa brasileira. Traduziu Konstantin Fédin,
Mikhail Cholokov, Jorge Icaza e Juan José Arreola. Militante
político do antigo Partido Comunista Brasileiro, seu nome figura
no mesmo inquérito do DOPS em que também está o de Graciliano Ramos.

Nesta mesa onde cavo e escavo
rodeado de sombras
sobre o branco
abismo
desta página
em busca de uma palavra
escrevo cavo e escavo na cave desta página
atiro o branco sobre o branco
em busca de um rosto
ou folha
ou de um corpo intacto
a figura de um grito
ou às vezes simplesmente
uma pedra
busco no branco o nome do grito
o grito do nome
busco
com uma fúria sedenta
a palavra que seja
a água do corpo o corpo
intacto no silêncio do seu grito
ressurgindo do abismo da sede
com a boca de pedra
com os dentes das letras
com o furor dos punhos
nas pedras
Sou um trabalhador pobre
que escreve palavras pobres quase nulas
às vezes só em busca de uma pedra
uma palavra
violenta e fresca
um encontro talvez com o ínfimo
a orquestra ao rés da erva
um insecto estridente
o nome branco à beira da água
o instante da luz num espaço aberto
Pus de parte as palavras gloriosas
na esperança de encontrar um dia,
o diadema no abismo
a transformação do grito
num corpo
descoberto na página do vento
que sopra deste buraco
desta cinzenta ferida
no deserto
As minhas palavras são frias
têm o frio da página
e da noite
de todas as sombras que me envolvem
são palavras frágeis como insectos
como pulsos
e acumulo pedras sobre pedras
cavo e escavo a página deserta
para encontrar um corpo
entre a vida e a morte
entre o silêncio e o grito
Que tenho eu para dizer mais do que isto
sempre isto desta maneira ou doutra
que procuro eu senão falar
desta busca vã
de um espaço em que respira
a boca de mil bocas
do corpo único no abismo branco
Sou um trabalhador pobre
nesta mina branca
onde todas as palavras estão ressequidas
pelo ardor do deserto
pelo frio do abismo total
Que tenho eu a dizer
neste país
se um homem levanta os braços
e grita com os braços
o que de mais oculto havia
na secreta ternura de uma boca
que era a única boca do seu povo
Que posso eu fazer senão
daqui
deste deserto
em que persisto
chamar-lhe camarada

esse abrir os braços para abraçar
o corpo, ou o sem-corpo, de uma espera
nervosa.
Dezembro, e não te lembra
os que não estão mais para jogar
o jogo repetido da esperança?
Oh, não te faças de amargo.
Joga também, mas chama
ao balcão da memória
e junto do teu corpo
aqueles companheiros dispersados
em não sei que país não mapeado,
pois sem nome e latitude,
onde o tempo sem número é repleto
(ou deserto) de todo pensamento.
E reserva
poltronas especiais para os que ainda há pouco
se foram. Não estão acostumados
ainda ao novo lar, ou somos nós
que de perdê-los não nos demos conta?
Repara: a teu aceno
as perdas deste ano se transformam
em nova relação interior.
Ganhamos o perdido. Vem chegando
cada um no seu passo costumeiro,
no seu modo de ser e de existir.
Esta
é Ana Amélia, rainha sem diadema.
Reina em doçura entre estudantes
e anjos barrocos. Calmos decassílabos
fluem de suas mãos e vão voando
para onde a poesia se concentra
em bondade e beleza:
sinônimo de alma.
Para um instante, Murilo; olha, Miranda,
quanta coisa fizeste na inquietude
de fazer coisas. Pois não basta, homem?
As artes mais as letras te agradecem
quanto penaste por amor de sonhos
culturais, que no esquecimento somem.
Mas que rumor é este, que risada
rouca, feliz, irada, insubmissa,
entre as festas do povo se anuncia?
É carnaval, folclore, são vivências
de um gato, da Amazônia, que sei mais?
O furacão chamado Eneida
tem garras verdes e quedou tranquilo.
Pelo telefone, a voz te pede
a colaboração do suplemento.
Anos a fio, vida a fio.
José Condé faz o jornal,
mas seu coração foge ao plantão
e perfura, no chão natal,
o poço dorido-alegre
de imagens pernambucanas.
Willy Lewin, viola ou violino
afinadíssimo, ouvido apenas
em surdina de câmara e recato.
Que requinte no seu sigilo,
seu desencanto modulado:
a melhor poesia é um signo
abafado.
Brumoso Luís Santa Cruz: a cruz,
entre súcubos a espicaçá-lo,
exorciza lêmures. Vago,
fantasmal ele próprio, ouvindo-lhe
a voz baixa, é o sussurro que ouves
de um mundo abissal, de sombras.
Por último vem teu compadre
e teu irmão Emílio, o doce
mavioso Moura irmão mineiro. Sorrindo,
como a pedir desculpas de uma falta:
“Fui proibido de beber
e de pitar um cigarrinho”
e de outra falta, mais grave:
“Fui-me embora, deixei você falando
sozinho”.
Dezembro, e o que perdido
foi neste ano, volta, iluminado
pelo claro pensar,
e reanima-se
o jogo eterno (e vão?), o jogo
da vida renascendo de si mesma.
02/12/1971

percorrido por João Cabral de Melo Neto durante 40
anos a chave para compreender as emoções do homem
arredio e a sua obra, feita de concisão e racionalidade.
( João Cabral de Melo Neto: o homem sem alma José Castello Rocco, 184 páginas R$ 17,50)
A vida de João Cabral é um livro fechado, e que a custo se deixa entreabrir. Vista de fora - o ângulo preferido do poeta - apresenta tantos atrativos quanto a lista telefônica dos habitantes da Antuérpia. Visitá-la por dentro foi a dura tarefa que se impôs José Castello: extrair da pétrea resistência cabralina algum material propício à construção de uma biografia. É notória a aversão do poeta a tudo que se abeira do confessional. Sua obra deseja camuflar a presença do sujeito pela fixação ostensiva em realidades que lhe sejam fisicamente externas. Agrada-lhe deixar fluir a matéria a fim de ocultar-se em suas dobras e quinas - poesia de quem necessita clamar pelo visível para postar-se, invisível, à sua sombra.
Esse "homem sem alma" atraiu seu biógrafo pela miragem (frustrada, como qualquer miragem) de, afinal, esclarecer como foi possível extrair tanta poesia de um manancial de vida tão contido e distante. É sedutora a hipótese de Castello: não, não se trata de um homem sem alma. Seu esforço para sufocá-la demonstraria, pelo avesso, a existência de um mundo informe e subjetivo, cujo desesperado exorcismo a aparente frieza do verso procuraria efetuar. O biógrafo, numa argumentação persuasiva, não se furta à tentação do "psicanalisar" o biografado, chegando mesmo a falar em "cura" do poeta através da matéria concreta, uma vez que o imaterial seria a fonte de sua angústia. "O sintoma que o atormenta (...) é o medo do incontrolável", afirma à página 23. Após um prefácio em que expôs afetos e temores, Castello controla o ímpeto de privilegiar suas próprias oscilações e concede primazia à elaboração de uma espécie de biografia intelectual do poeta. Seu discurso deriva para um tom mais impessoal, reforçado pela estratgica utilização do presente como tempo narrativo. Assim, o relato reveste de certo distanciamento uma série de episódios já em si afastados do caráter espetacular que a expectativa do leitor, em geral, associa à vida dos grandes artistas.
O biografado ideal seria aquele que cedesse ao apelo implícito dos versos de Berceo, escolhidos por João Cabral para epígrafe de "O rio" (1954): "Quero que componhamos eu e tu uma prosa" - amistosa cumplicidade transformada em texto tramado a duas vozes. Provavelmente não terá sido essa a experiência de Castello na maioria dos 20 encontros que teve com Cabral entre março e dezembro de 1991. Diversos depoimentos concedidos à imprensa foram, no juízo do biógrafo, fontes tão fundamentais para a feitura do livro quanto as 30 horas de entrevista que colheu do poeta. José Castello desfaz, com bastante coragem e algum lamento, a imagem de que pudesse ter sido ungido à condição de interlocutor privilegiado, situando-se, antes, como atento ouvinte e leitor, inclusive de outros leitores cabralinos.
No longo prefácio, o autor se dedica a examinar o ambiente de penumbra e desânimo que cerca o poeta, e sua irreprimível vocação centrífuga, na tentativa de desalojar-se do incômodo de si mesmo e de tornar-se apenas um foco de pura percepção do outro, daquilo que lhe é exterior. O primeiro capítulo reconstitui a infância em Pernambuco, os anos de formação do poeta e sua vinda para o Rio de Janeiro. Já nesta quadra surgem nomes da literatura brasileira que ocuparão para sempre lugar privilegiado no círculo de relações de Cabral: Augusto Frederico Schmidt, Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade e, sobretudo, Vinícius de Moraes, a quem, por mais de uma vez, e por evidentes contrastes (de natureza pessoal e poética), Castello se refere como o "anti-Cabral" por excelência. O segundo capítulo relata a presença avassaladora da Espanha na vida e na obra do poeta, desde os primórdios da experiência em Barcelona a partir de 1947 até um retorno fugaz e algo desencantado em 1994.
Poeta voltou ao Brasil em 1986
João Cabral é definido por José Castello como um homem sob o signo da viagem permanente, "trânsfuga que jamais cessa de fugir", mesmo que a fuga conduza "sempre ao ponto de retorno, pois todo viajante é refém de sua origem"; por aí se pode explicar, em sua obra, a obsessiva analogia Pernambuco/Espanha. O capítulo 3 relata as demais experiências estrangeiras, eventualmente atreladas a reincidências hispânicas, além do retorno compulsório de João Cabral ao Brasil nos anos 50, afastado que fora do Itamaraty sob suspeição de envolvimento com o comunismo. O capítulo seguinte retoma a linha mais interpretativa e menos factual do prefácio, e o epílogo retrata as últimas incursões diplomáticas do poeta, bem como o seu regresso definitivo ao Rio, em 1986. Encerrado o périplo, constatamos que apenas dois lugares, praticamente, não conseguiram despertá-lo para a poesia: o Paraguai e o Rio de Janeiro.
O homem sem alma não traça a vida palpitante de um indivíduo, nem o amplo painel de uma geração. Anti-lírico, João Cabral se quer também antibiografável. Em diversas ocasiões revela desprezo ou antipatia pelo gênero, pelo risco de, nele, a vida sobrepor-se à obra. Paradoxalmente, Cabral nunca se esquivou de conceder entrevistas, que, de certa forma, acabaram por configurar-lhe um nítido perfil. Curiosa tensão entre eximir-se e exibir-se: o poeta expõe-se na prosa da entrevista, e se eclipsa na voz do verso. Como todo criador, Cabral revela o melhor de si naquilo que mais sutilmente resguarda. Na certeira observação do biógrafo, "a verdade, se existe, está na poesia. Jamais fora dela". Por isso, enfatizemos a seriedade e a importância do trabalho realizado por José Castello, mas sem esquecer de levar suas próprias palavras à última consequência: pela poesia, a vida de João Cabral é um livro aberto, e que muito dificilmente se deixará fechar.
Antonio Carlos Secchin é autor de João Cabral: a poesia do menos (Livraria Duas Cidades). Editou os Primeiros poemas de João Cabral (Faculdade de Letras da UFRJ) e organizou os Melhores poemas de João Cabral (Global)
Trechos
1 - Recife
A paisagem nordestina, desenhada em luz lancinante, dissolve rapidamente o luto. O Capibaribe, mesmo sujo, é majestoso. Ao longo de suas águas desfilam areeiros, vacarias, olarias, pescadores e catadores de caranguejos; personagens que povoam as primeiras lembranças de nosso viajante, como figuras pinceladas em uma tela virgem. A visão féerica da seca, que dará o tom de sua obra poética, ainda está distante. A natureza, aqui, é razoável. Comedida, mas generosa, ela abre os espaços de que o homem necessita para viver. A margem do rio está decorada por coqueiros, oitizeiros, mangueiras, sapotizeiros. A miséria fica exposta na fachada dos casebres instáveis e revestidos por lama negra. Há, entre eles, casarões coloniais erguidos com a arrogância de castelos e capelinhas onde a fé toma ares de confeito. E muitos quintais sombrios, armados para o rio e não para a rua, em que a exuberância da natureza se confunde com os dejetos da miséria.
2 Barcelona
Se não está manejando sua prensa, Cabral se concentra em uma só atividade: percorrer Barcelona com a ansiedade própria de um descobridor. O que deseja encontrar? Isso não importa, pois o poeta aceita o que a cidade tiver para lhe oferecer. Devora todos os livros que pode comprar sobre a Catalunha e se entrega a caminhadas de ida e volta pela calle Grandia e pelo paseo de Gracia, onde fica a Livraria Ler, que logo se torna sua favorita. Entre as prateleiras dessa livraria conhece uma figura-chave em sua primeira temporada espanhola: o poeta Joan Edoardo Cirlot é um poeta ligado ao surrealismo, autor de um importante dicionário de símbolos e muito chegado a André Breton, a quem sempre visita em Paris. Por meio dele, Cabral s

O vale das pedras ( 1946)
Hoje caíu, 25 de abril,
sobre os campos de Ovalle,
a chuva esperada, a água de 1946.
Nesta primeira quinta-feira molhada, um dia de vapor
constrói sobre os cerros sua cinzenta ferragem.
É esta quinta-feira das pequenas sementes
que em suas bolsas guardaram os camponeses famintos:
hoje apressadamente furarão a terra e nela
deixarão cair seus grãozinhos de verde vida.
Ainda ontem subi o rio Hurtado acima:
acima, entre os ásperos cerros impertinentes,
eriçados de espinhos, pois o grande cacto andino,
como um cruel candelabro, aqui se estabelece.
E sobre seus agrestes espinhos, como vestimenta
escarlate, ou como uma mancha de terrível arrebol,
como sangue dum corpo arrastado sobre mil puas,
as parasitas acenderam as suas lâmpadas sangrentas.
As rochas são imensas bolsas coaguladas
na idade do fogo, sacos cegos de pedra
que rolaram até se fundirem nestas
implacáveis estátuas que guardam o vale.
O rio leva um doce e agônico rumor
de últimas águas entre o salgueiro escuro
multidão de folhagem, e os álamos
deixam tombar em gotas seu delgado amarelo.
É o outono do Norte Pequeno, o atrasado outono.
Pestaneja mais aqui a luz no cacho.
Como uma mariposa, detém-se mais tempo
o transparente sol até coalhar a uva,
e brilham sobre o vale seus panos moscatéis.
II
Irmão Pablo
Mas hoje os camponeses vêem ver-me: “Irmão,
não tem água, irmão Pablo, não tem água, não choveu.
E a corrente miúda
do rio
sete dias circula, sete dias se seca.
Nossas vacas morreram lá em cima na cordilheira.
E a sede começa a matar crianças.
Lá em cima, muitos não têm o que comer.
Irmão Pablo, você vai falar com o ministro”.
(Sim, o irmão Pablo vai falar com o ministro, mas eles não sabem
como me vêem chegar
essas poltronas de couro ignominioso
e depois a madeira ministerial, esfregada
e polida pela saliva bajulante.
)
Mentirá o ministro, esfregará as mãos,
e o gado do pobre comuneiro
com o burro e o cachorro, pelas esfiapadas
rochas, de fome em fome, tombará lá embaixo.
III
A fome e a ira
Adeus, adeus a tua quinta, à sombra
que ganhaste, ao ramo
transparente, à terra consagrada,
ao boi, adeus, à água avara,
adeus, às vertentes, à música
que não chegou na chuva, ao cinto pálido
da ressaca e da pedregosa aurora.
Juan Ovalle, te dei a mão, mão sem água,
mão de pedra, mão de parede e estiagem.
E te disse: à parda ovelha, às mais ásperas
estrelas, à lua como cardo roxo,
amaldiçoa, ao ramo partido dos lábios nupciais,
mas não toques no homem, não derrames ainda o homem
ferindo-lhe as veias, não tinjas ainda a areia,
não acendas ainda o vale com a árvore
dos tombados ramos arteriais.
Juan Ovalle, não mates.
E tua mão
me respondeu: “Estas terras
querem matar, buscam de noite
vingança, o velho vento ambarino
na amargura é vento de veneno,
e a guitarra é como um quadril
de crime, e o vento é uma faca”.
IV
Tiram-lhes a terra
Porque atrás do vale e da seca,
detrás do rio e da delgada folha,
espreitando o torrão e a colheita,
o ladrão de terras.
Olha que árvore de ressoante púrpura
contempla seu estandarte avermelhado,
e atrás de sua estirpe matutina,
o ladrão de terras.
Ouves como o sal do arrecife
o vento de cristal nas nogueiras,
porém sobre o azul de cada dia
o ladrão de terras.
Sentes entre as capas germinais
pulsar o trigo em sua flecha dourada,
porém entre o pão e o homem há uma máscara:
o ladrão de terras.
V
Aos minerais
Depois, às altas pedras
de sal e de ouro, à enterrada
república dos metais
subi:
eram os doces muros em que uma
pedra se amarra com outra,
com um beijo de barro escuro.
Um beijo entre pedra e pedra
pelos caminhos tutelares,
um beijo de terra e terra
entre as grandes uvas vermelhas,
e como um dente junto a outro dente
a dentadura da terra,
as paredes de matéria pura,
as que levam o interminável
beijo das pedras do rio
aos mil lábios do caminho.
Subamos da agricultura ao ouro.
Tendes aqui os altos pedernais.
O peso da mão é como uma ave.
Um homem, uma ave, uma substância de ar,
de obstinação, de vôo, de agonia,
uma pálpebra talvez, mas um combate.
E de lá no transversal berço do ouro,
em Punitaqui, frente a frente
com os calados sapadores
da picareta, da pá, vem,
Pedro, com tua paz de couro,
vem, Ramírez, com tuas abrasadas
mãos que indagaram o útero
das cerradas minerações,
salve, nas grades, nos
calcários subterrâneos
do ouro, abaixo em suas matrizes,
ficaram as vossas digitais
ferramentas marcadas com fogo.
VI
As flores de Punitaqui
Era dura a pátria lá como antes.
Era um sal perdido o ouro,
era
um peixe enrubescido e no torrão colérico
seu pequeno minuto triturado
nascia, ia nascendo das unhas sangrentas.
Entre a alva corno uma amendoeira fria,
sob os dentes das cordilheiras,
o coração perfura seu buraco,
rastreia, toca, sofre, sobe, e na altura
mais essencial, mais planetária, chega
com a camiseta rasgada.
Irmão de coração queimado,
junta em minha mão esta jornada,
e baixemos uma vez mais às camadas adormecidas
em que tua mão como uma tenaz
agarrou o ouro vivo que queria voar
ainda mais profundo, ainda mais abaixo, ainda.
E lá como umas flores
as mulheres de lá, as chilenas de cima,
as minerais filhas da mina,
um ramo entre as minhas mãos, umas flores
de Punitaqui, umas rubras flores,
gerânios, flores pobres
daquela terra dura,
depositaram em minhas mãos como
se tivessem sido achadas na mina mais funda,
se aquelas flores filhas da água rubra
voltassem lá do fundo sepultado do homem.
Peguei suas mãos e suas flores, terra
despedaçada e mineral, perfume
de pétalas profundas e dores.
Soube ao olhá-las de onde vieram
até a solidão dura do ouro,
me mostraram como gotas de sangue
as vidas derramadas.
Eram em sua pobreza
a fortaleza florescida, o ramo
da ternura e seu metal remoto.
Flores de Punitaqui, artérias, vidas, junto
a meu leito, na noite, vosso aroma
se ergue e me guia pelos mais subterrâneos
corredores do luto
pela altura perfurada, pela neve, e ainda
pelas raízes que só as lágrimas alcançam.
Flores, flores da altura,
flores de mina c pedra, flores
de Punitaqui, filhas
do amargo subsolo: em mim, nunca olvidadas,
ficastes vivas, construindo
a pureza imortal, uma corola
de pedra que não morre.
VII
O ouro
Teve o ouro esse dia de pureza.
Antes de mergulhar de novo sua estrutura
na suja saída que o aguarda,
recém-chegado, recém-desprendido
da solene estátua da terra,
foi depurado pelo fogo, envolto
pelo suor e as mãos do homem.
Lá se despediu o povo do ouro.
E era terrestre o seu contacto, puro
como a matriz cinzenta da esmeralda.
Igual era a mão suarenta
que recolheu o lingote emaranhado
ao cepo de terra reduzida
pela infinita dimensão do tempo,
à cor terrenal das sementes,
ao solo poderoso dos segredos,
à terra que lavra os racimos.
Terras do ouro sem manchar, humanos
materiais, metal imaculado
do povo, virginais minerações,
que se tocam sem se verem na implacável
encruzilhada de seus caminhos:
o homem continuará mordendo o pó,
continuará sendo terra pedregosa,
e ouro subirá sobre seu sangue
até ferir e reinar sobre o ferido.
VIII
O caminho do ouro
Entrai, senhor, comprai pátria e terreno,
casas, bênçãos, ostras,
tudo se vende aqui aonde chegastes.
Não há torre que não caia em vossa pólvora,
não há presidência que rechace nada,
não há rede que não reserve o seu tesouro.
Como somos tão “livres” como o vento,
podeis comprar o vento, a cachoeira,
e na desenrolada celulose
ordenar as impuras opiniões,
ou recolher amor sem alvitre,
destronado no linho mercenário.
O ouro mudou de roupa usando
formas de trapo, de papel puído,
frios fios de lâmina invisível, cinturões de dedos enroscados.
À donzela em seu novo castelo
levou o pai de aberta dentadura
o prato de cédulas
que devorou a bela disputando-o
no chão e a golpes de sorriso.
Ao bispo subiu a investidura
dos séculos de ouro, abriu a porta
dos juízes, manteve as alfombras,
fez tremer a noite nos bordéis,
correu com os cabelos no vento.
(Eu vivi a idade em que reinava.
Eu vi consumida podridão,
pirâmides de esterco angustiadas
pela honra: conduzidos e trazidos
césares da chuva purulenta,
convencidos do peso que punham
nas balanças, rígidos
bonecos da morte, calcinados
por sua cinza dura e devorante.
)
IX
Fui além do ouro:
entrei na greve.
Lá durava o fio delicado
que une os seres, lá o cordão puro
do homem está vivo.
A morte os mordia,
o ouro, ácidos dentes e veneno
lançava para eles, mas o povo
pôs os seus pedernais na porta,
foi torrão solidário que deixava
transcorrer a ternura c o combate
como duas águas paralelas,
fios
das raízes, ondas da estirpe.
Vi a greve nos braços reunidos
que apertam o desvelo
e em uma pausa trêmula de luta
vi pela primeira vez o único vivo!
A unidade das vidas dos homens!
Na cozinha da resistência
com seus fogões pobres, nos olhos
das mulheres, nas mãos insignes
que com torpor se inclinavam
para o ócio de um dia
como em um mar azul desconhecido,
na fraternidade do pão escasso,
na reunião inquebrantável, em todos
os germes de pedra que surgiam,
naquela romã valorosa
elevada no sal do desamparo,
achei por fim a fundação perdida,
a remota cidade da ternura.
X
O poeta
Antes andei pela vida, em meio
a um amor doloroso: antes retive
uma pequena página de quartzo
cravando-me os olhos na vida.
Comprei bondade, estive no mercado
da cobiça, respirei as águas
mais surdas da inveja, a inumana
hostilidade de máscaras e seres.
Vivi um mundo de lamaçal marinho
no qual a flor de súbito, a açucena
me devorava em tremor de espuma,
e onde pus o pé resvalou minha alma
pelas dentaduras do abismo.
Assim nasceu minha poesia, apenas
resgatada de urtigas, empunhada
sobre a solidão como um castigo,
ou apartou no jardim da impudicícia
sua mais secreta flor até enterrá-la.
Asilado assim como a água sombria
que vive em seus profundos corredores,
corri de mão em mão, ao insulamento
de cada ser, ao ódio cotidiano.
Soube que assim viviam, escondendo
a metade dos seres, como peixes
do mais estranho mar, e nas lodosas
imensidades encontrei a morte.
A morte abrindo portas e caminhos.
A morte deslizando pelos muros.
XI
A morte no mundo
A morte ia mandando e recolhendo
em lugares e tumbas seu tributo:
o homem com punhal ou com bolso,
ao meio-dia ou na luz noturna,
esperava matar, ia matando,
ia enterrando seres e ramagens,
assassinando e devorando mortos.
Preparava as suas redes, esmagava,
sangrava, saía nas manhãs
cheirando o sangue da caçada,
e ao voltar de seu triunfo estava envolto
por fragmentos de morte e desamparo,
e então matando-se enterrava
com cerimônia funeral os seus passos.
As casas dos vivos eram mortas.
Escória, tetos rotos, urinóis,
vermiculadas ruelas, covas
acumuladas com o pranto humano.
- Assim deves viver - disse o decreto.
- Apodrece em tua substância - disse o chefe.
- És imundo - arrazoou a Igreja.
- Estende-te no lodo - te disseram.
E uns tantos armaram a cinza
para que ela governasse e decidisse,
enquanto a flor do homem se batia
contra as paredes que lhe construíram.
O cemitério teve pompa e pedra.
Silêncio para todos e estatura
de vegetais altos e afiados.
Por fim estás aqui, por fim nos deixas
um vazio nu meio da selva amarga,
por fim te encontras teso entre paredes
que não transpassarás.
E cada dia
as flores como um rio de perfume
se juntaram ao rio dos mortos.
As flores que a vida não tocava
caíram sobre o vazio que deixaste.
XII
O homem
Aqui encontrei o amor.
Nasceu na areia,
cresceu sem voz, tocou os pedernais
da dureza e resistiu à morte.
Aqui o homem era vida que juntava
a intacta luz, o mar sobrevivente,
e atacava e cantava e combatia
com a mesma unidade dos metais.
Aqui os cemitérios eram terra
apenas erguida, cruzes partidas,
sobre cujas madeiras derretidas
adiantavam-se os ventos arenosos.
XIII
A greve
Estranha era a fábrica inativa.
Um silêncio na planta, uma distância
entre máquinas e homem, como um fio
cortado entre planetas, um vazio
das mãos do homem que consomem
o tempo construindo, e as desnudas
estâncias sem trabalho e sem um som.
Quando o homem deixou as tocas
da turbina, quando desprendeu
os braços da fogueira e decaíram
as entranhas do forno, quando tirou os olhos
da roda e a luz vertiginosa
se deteve em seu círculo invisível,
de todos os poderes poderosos,
dos círculos puros de potência,
da energia surpreendedora,
ficou um montão de inúteis aços
e nas salas sem homem, o ar viúvo,
o solitário aroma do azeite.
Nada existia sem aquele fragmento
batido, sem Ramírez,
sem o homem de roupa rasgada.
Lá estava a pele dos motores,
acumulada em morto poderio,
como negros cetáceos no fundo
pestilento dum mar sem ondulação,
ou montanhas escondidas de repente
sob a solidão dos planetas.
XIV
O povo
Passeava o povo suas bandeiras rubras
e entre eles na pedra que tocaram
estive, na jornada fragorosa
e nas altas canções da luta.
Vi como passo a passo conquistavam.
Somente a resistência dele era caminho,
e isolados eram como troços partidos
duma estrela, sem boca e sem brilho.
Juntos na unidade feita em silêncio,
eram o fogo, o canto indestrutível,
o lento passo do homem na terra
feito profundidades e batalhas.
Eram a dignidade que combatia
o que foi pisoteado, e despertava
como um sistema, a ordem das vidas
que tocavam as portas e se sentavam
na sala central com suas bandeiras.
XV
A letra
Assim foi.
E assim será.
Nas serras
calcárias, à beira
da fumaça, nas oficinas,
há uma mensagem escrita nas paredes
e o povo, só o povo, pode vê-la.
Suas letras transparentes se formaram
com suor e silêncio.
Estão escritas.
Amassaste-as, povo, em teu caminho
e estão sobre a noite como o fogo
abrasador e oculto da aurora.
Entra, povo, nas margens do dia.
Anda como um exército, reunido,
e bate a terra com teus passos
e com a mesma identidade sonora.
Seja uniforme o teu caminho como
é uniforme o suor da batalha,
uniforme o sangue poeirento
do povo fuzilado nos caminhos.
Sobre esta claridade irá nascendo
a granja, a cidade, a mineração,
e sobre esta unidade como a terra
firme e germinadora se há disposto
a criadora permanência, o germe
da nova cidade para as vidas.
Luz dos grêmios maltratados, pátria
amassada por mãos metalúrgicas,
ordem que saiu dos pescadores
como um ramo do mar, muros armados
pela alvenaria transbordante,
escolas cereais, armaduras
de fábricas amadas pelo homem.
Paz desterrada que regressa, pão
compartilhado, aurora, sortilégio
do amor terrenal, edificado
sobre os quatro ventos do planeta.
Um dos temas mais problemáticos da teoria literária contemporânea é a sobrevivência do épico. Dada a natureza por essência histórica deste gênero, creio que o problema não pode ser questionado antes de colocado num determinado tempo. Deste modo, a falência e/ou apogeu do épico se encontram vinculados à existência/inexistência de grandes acontecimentos sociais que, numa certa fase da história humana, ofereçam ou não temas de conteúdo épico.
Por que a Antigüidade e o Renascimento foram tão fecundos neste gênero? Simplesmente: pela ocorrência, nessas épocas, de fatos sociais de grandes implicações humanas no sentido universal. Aplicada a tese ao momento presente, o problema se resolve: não foi o épico que morreu como gênero literário, mas um certo épico de linguagem inadequada ao nosso tempo, um épico de conceituação sedimentada nos limites de uma estética restrita ao ideário clássico – o pomposo e solene épico de Homero, Virgílio, Camões, próprio para as sociedades que o gerararm e consumiram, como só elas poderiam gerá-lo e consumí-lo.
A aparente falência do épico em nossa época se explica por esta evidência: a instabilidade do mundo contemporâneo – este pragmatismo materialesco a que nos atiraram – por um lado nega ao escritor o tempo indispensável para o labor épico (pelo menos, para o labor épico "a la antigua") e, por outro lado, nega também ao leitor essa mesma parcela de tempo necessário para o convívio com os longos poemas que requerem exegese.
Mas o epos está presente em qualquer tempo. E a nossa época é, sem talvez, a mais fecunda de toda a história humana em essência épica: aí estão ainda as radiações atômicas da última guerra mundial e das mais recentes bombas de intimidação e exibição; aí estão as lutas de classe propagando a revolução socialista por todo o globo; aí está o surgimento deste vasto Terceiro Mundo para uma nova realidade mundial; e aí está, por fim, a conquista do espaço, afirmando o domínio do homem sobre o seu universo próximo. Tudo isso, junto ou isolado, se oferece ao poeta contemporâneo como num desafio: um desafio àquele que se proponha a deixar, numa obra de fôlego, uma imagem poética deste tempo desesperado.
Pois bem: um desses temas – o último – acaba de ser tratado, num longo poema, por um jovem poeta cearense: Roberto Pontes, prêmio "Esso–Jornal de Letras" de 1970 (com o ensaio Vanguarda Brasileira: Introdução e Tese), no livro-poema Lições de Espaço: Teletipos, Módulos e Quânticas 1 , premiado pela Universidade Federal no mesmo ano.
Com certeza, podemos vincular este poema à corrente vanguardista da poesia brasileira: vanguarda pelo tema, vanguarda pela linguagem. Nisto, cabe notar que Roberto não circunscreveu o fazer vanguardista ao problema da linguagem: sendo vanguarda o que sugere um passo à frente – o que, incorporando um dado novo ao patrimônio preexistente, aponte um rumo a seguir – ele se situa como vanguardista menos numa perspectiva lingüística do que numa perspectiva social.
Trabalhando exclusivamente com a palavra, Roberto Pontes compreende que tem de explorá-la ao máximo, para compensar a ausência da contribuição não-solicitada ao figurativo. Por isso ele está sempre experimentando, reinventando, neologizando a matéria-prima do verbo. As múltiplas tendências, os vários processos, a polivalência usual da palavra – todas as diretivas da vanguarada vocabular foram amalgamadas em Lições de Espaço por um tenaz esforço pessoal crítico-teórico-criativo em torno de poetas e movimentos vanguardistas, donde resultou um poema antes de tudo pesquisa-informação, atualizadas pela unidade de linguagem conseguida do primeiro ao último verso.
Através da simples leitura do poema é possível notar a familiaridade do autor com os experimentalistas da tradição internacional, como Mallarmé, Pound, Joyce, Cummings, Apollinaire, Maiacovski, ou com os da melhor vertente nacional nacional, como Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral, Haroldo de Campos, Mário Chamie. Através dessa convergência de processos, o autor destas lições de espaço integra-se, via experimentalismo com a palavra, na determinante verbal da vanguarda brasileira – na mesma perspectiva em que Guimarães Rosa também é vanguarda, na prosa.
Ele consegue reinventar o épico através de uma inusitada contenção verbal, de uma fala renovada, de um discurso condensado, na melhor terminologia poundiana. Por isso, sendo os seus blocos de verso uma síntese da cultura humana, eles requerem um nível receptor exigente. Mas é exatamente no nível solicitado que se concentra a melhor poesia.
O poema está dividido em três livros.
O primeiro apresenta, em doze pequenos poemas, a problemática do espaço numa perspectiva regional. O espaço é o Nordeste brasileiro. Os poemas vão abrindo, pouco a pouco, um leque de problemas ecológicos, econômicos, antropológicos e sociais de sua sofrida região, ao mesmo tempo em que anatemiza a conivência que os conserva.
O poeta se define diante dos problemas em apenas um texto, apesar de sempre curto, apresentados numa linguagem tão estéril quanto a própria natureza nordestina. Mais que em qualquer outra parte do poema, é neste primeiro livro que se tem a perfeita adequação da linguagem ao tema focalizado: através da aridez da linguagem chega-se a uma idéia da aridez da vida que ela representa.
No poema
o piso não fabula a verdura
engastada na poeira e no salitre
nem mesmo as próprias raízes
desbebidas no lençol de anidro
o solo ingere as forras tessituras
dessangradas dos folículos e folhas
ele suga a sudorência do granito
seus produtos se arrimam na caliça
a terra não concebe o nobre cepo do cedro
cisma a figura inane do xerófito
o gozo estriado dos fibromas
e a indigência epitelial da citra (p.10)
o poeta descreve esse espaço e revela a natureza do solo naquilo que ele pode germinar. Mas esse solo não germina o que pode – "a terra não concebe" – esterilizado pela incipiência da agricultura:
o fazedeiro
de safras
lavra a dor
e lavrador
lavra dores
dá cifras
e não decifra
a grandeza do lavrar (p.22)
uma agricultura desinstrumentalizada, que explora mais o homem ("lavra a dor") do que a terra, num processo onde o sertanejo, ignorante de sua função social ("dá cifras/ e não decifra/ a grandeza do lavrar"), é o forte que, antes de tudo, ainda depende da chuva, preso a um sistema medievalizado que lhe proporciona uma subsistência de conveniência, como na expressiva síntese práxis-concretista destes dois versos-palavra:
salário
solário (p.18)
O segundo livro apresenta, em quarenta poemas de seis versos em média, a configuração do espaço numa perspectiva planetária. O espaço é a Terra. E, para entendê-lo, o poeta ressalta o uso que o homem faz do raciocínio, da inteligência, da sensibilidade e do seu poder de criação. Com o espaço circundante compreendido, vem a apreensão do universo – tônica do segundo livro. E, numa linguagem agora lírica, o poeta tenta uma definição do planeta, apoiado em informações científicas:
o universo
tem seu porte e suporte
em elétrons nêutrons prótons
é urgência ao poema
a fissão da massa atômica
a micro física quântica
os princípia matemática
tem o limite dos cardos
cortantes da metafísica
estrela sistema cosmos
o fascínio da galáxia
o silêncio da palavra
o carpir em abstrato
cem mil milhares de sóis
igual lote de anos-luz
o poeta assim disserta
premissas e teoremas
de sua esfera anilada
entre parábolas e elipses
que vagam por aí em expansão
burila zumbidos de metal (p. 37-40)
Nesse livro, n
I
"Queimai perfumes, escravas!
Trazei-nos sândalo e flores!
Vinho! do vinho os vap!res
Levem presságios cruéis!
Por Baal! Senhores e donas,
Não morra o prazer da festa!
Por Baal! Por Baal! soe a orquestra,
Tangei, tangei, menestréis!"
As luzes tremem nas salas,
Treme o ouro e a pedraria;
Das ânforas transborda a orgia
Como as espumas do mar:
— "Por Baal! Senhores e donas,
Repete a nobre assembléia,
Ao grande rei da Caldéia!
Ao grande rei Baltasar!"
Rompe a orquestra — e as concubinas,
Com os seios nus, palpitantes,
Entoam febris descanses,
Lasciva, ideal canção;
E em volta ao seu trono de ouro
Nabonid, rei poderoso,
Sente a alma a nadar no gozo,
Em que se afoga a razão.
E ferve, referve a orgia
Ao som da orquestra estridentes
E a lua toca o ocidente,
Sobre a cidade imortal:
Talvez mande a peregrina,
Do monte Efraim pendida,
Um raio por despedida
Do Cedron sobre o cristal.
II
Manda, sim, sobre ruínas
Que aí só resta um montão
Mirando a gentil cativa,
Dileta filha de Abraão:
— "Ai terra de Deus querida!
Ai terra da Promissão!
"Terra, terra bem-fadada,
Outrora — esposa de Arão,
Hoje ruínas dispersas,
Hoje o luto e a escravidão;
— Ai terra de Deus querida!
Ai terra da Promissão!
"Teus filhos gemem distante,
Jamais aqui voltarão...
Murchai, gardênias do prado!
Chorai, divino Jordão:
— Ai terra de Deus querida!
Ai terra da Promissão!
"Onde as endechas saudosas
Dos cantores de Sião?
Aves do céu, vossos carmes
Não solteis mais aqui, não!
— Ai terra de Deus querida!
Ai terra da Promissão!
"Lírio pendido no vale
Varreu-te acaso o tufão?
Nem uma gota de orvalho!
Isaac! Davi! Salomão!
— Ai terra de Deus querida!
Ai terra da Promissão!"
E pela encosta do monte
A tristezinha lá vai,
Mandando um último pranto,
Um doce, sentido ai,
De um lado à imersa Sodoma,
Do outro ao monte Sinai.
III
E cresce, recresce a orgia
Nos salões de Baltasar,
Ondas de pura harmonia,
Ânsias de puro gozar,
— Entanto a cidade dorme
Envolta no manto enorme
Da noite — sono fatal!
E aquele peito gigante
Devora sede arquejante
De vícios, — sede infernal!
Nas salas grato ruído,
Luzes, perfumes e amor;
Lá fora estranho rugido,
Surdo — ao longe — e ameaçador;
No horizonte um fumo denso
Se eleva, bem como o incenso
Nas salas e a embriaguez...
Que importa ao rei o horizonte,
Se as flores ornam-lhe a fronte,
Se o âmbar corre-lhe aos pés?!
"Ao rei! ao rei poderoso!
Ao reino que não tem fim!
Como o Eufrates caudaloso
Corra a onda do festim!"
— "Perdão: as taças, senhores,
Não podem, tão sem lavores,
À festa de um rei convir;
Temos os vasos sagrados,
São soberbos, cinzelados,
Do ouro fino de Ofir.
"Trazei-mos", já vacilante,
Diz o rei: "Viva o Senhor!"
— E ruge o vento distante,
Como um gemido de dor.
Entram luzidos criados
Trazendo os vasos sagrados
Do templo de Salomão...
— E ruge o vento mais forte,
Lançando vascas de morte
Pelos umbrais do salão.
"Transborde o néctar, amigos!
Eis os vasos de Jeová!
Nesses lavores antigos.
Vê-se a cativa Judá."
— E cresce o estranho rugido,
Surdo, rouco, indefinido...
"São os soluços do Irã!"
E ruge, ruge mais perto...
"São os ventos do deserto
Sobre as areias de Omã!"
Nas caçoulas fumegantes,
Arde o mirto e o aloés,
Ao som das notas vibrantes
Sobe, sobe a embriaguez.
— "Por Baal! Por Baal! Pelos Medos!
Quebrem-se as harpas nos dedos,
Trema o teto do salão!"
Horror! ao tinir das taças,
Núncio de eternas desgraças,
Brame na sala um tufão.
"Depressa, luzes, depressa..."
Diz o rei: "longe o terror!
Mas não, e o vaso arremessa,
Recua trêmulo... horror!
— É que, em meio à noite brusca,
Mão, que de brilhos ofusca,
Toda a sala iluminou;
Cometa, a correr ardente,
Estranha cifra candente,
Pelas paredes traçou!
IV
"Meu colar de pedrarias
Àquele que decifrar
Venham magos e adivinhos,
Depressa, Beltisasar.
Ele, o mais sábio de todos,
Pode o mistério explicar!"
E dorme a cidade lassa
Dos vícios na prostração,
E cresce, cresce o rugido
Qual ressonar de um vulcão:
Ou é tremenda borrasca,
Ou é povo em multidão.
Entre os famosos convivas
Mais um conviva aparece,
As sandálias do proscrito
Traz — quem é que o não conhece
Diante do rei se inclina,
Do rei, que ao vê-lo estremece.
"Benvindo sejas, cativo,
Daniel Beltisasar;
Se sabes ler no impossível,
Tens ali — podes falar:
Terás um manto de púrpura,
Terás meu régio colar."
De novo ante o rei se inclina
A cabeça do ancião,
Depois, elevando a fronte
Altiva, e estendendo a mão,
Busca achar na ignota cifra
A divina inspiração.
Nem do Tibre o velho roble!
Nem os cedros do ocidente
A fronte mais alto elevam
Mais nobre, mais imponente!
O gênio é como as estrelas,
Beija os pés do Onipotente.
"Rei! escuta a voz do Eterno,
Que por meus lábios te fala:
O crime mais execrando,
O teu reinado assinala:
Vê, revê tua sentença
Escrita em letras de opala.
"Não ouves bramir confuso
Como o arfar da tempestade?
São os Persas que se arrojam
Sobre os muros da cidade:
Perdeu-te a lascívia impura,
Rei! perdeu-te a impiedade.
"Profanastes os vasos santos
Nas torpezas de um festim,
Teus dias foram contados
Como os da bela Seboim!
Agora o brinde, senhores,
— Ao reino que não tem fim!"
V
Gesto grave, altivo, acerbo,
Assim fala o escravo hebreu,
Soletrando o ardente verbo,
Que mão de raio escreveu:
E depois — braços pendidos,
Olhos de chama incendidos,
Verberando a maldição,
Deixa a sala, onde se espalha,
Como trevosa mortalha,
O terror na escuridão.
E quando o raio primeiro
Do sol, singrando o horizonte,
Rompe o denso nevoeiro
Sobre o cabeço do monte,
Em vez da cidade altiva,
Vê — desgrenhada cativa,
A dissoluta Babel,
E além dos muros colossos,
Daquele povo os destroços
E um homem só — Daniel!

Oú I’on connaitre I’avehir
Sans mourir de connaissance
I
Visitei Père Lachaise para procurar os restos mortais de Apolli
naire no dia em que o Presidente dos Estados Unidos apareceu
na França para a grande conferência dos chefes de estado
é isso aí o aeroporto azul de Orly claridade de primavera no ar de Paris
Eisenhower chegando do seu sepulcro americano
e sobre os túmulos com sapos de Père Lachaise uma ilusória
neblina espessa como fumaça de marijuana
Peter Orlovsky e eu caminhamos suavemente por Père Lachaise
ambos sabíamos que iríamos morrer
e assim nos demos nossas temporárias mãos ternamente numa
eternidade em miniatura como uma cidade
estradas e sinais pedras e colinas e nomes nas casas de todos
procurando o endereço perdido de um notável Francês do Vazio
para cometer nosso terno crime de homenagear seu abandonado menhir e deixar meu temporário Uivo Americano no topo do seu silencioso Calligramme
para que ele o lesse nas entrelinhas com olhos de Raio X de poeta
assim como miraculosamente lera sua própria lírica da morte no Sena
espero que algum garotío pirado deixe seu panfleto no meu túmulo para que assim Deus o leia para mim nas frias
noites de inverno do céu
nossas mãos já sumiram daquele lugar minha mão agora escreve
no quarto de Git-Le-Coeur Paris
Você não pode dirigir automóveis num túmulo de um metro e
oitenta no entanto o universo é um mausoléu suficiente
mente grande para qualquer coisa
o universo é um sepulcro e eu dou voltas sozinho por aqui
sabendo que Apollinaire andou pela mesma rua há 50 anos
sua loucura acaba de dobrar a esquina e Genet está conosco roubando livros
o Oddente está de novo em guerra e de que será o lúcido suicídio que deixará tudo em ordem outra vez
Guillaume Guillaume como invejo sua fama sua contribuição para as letras americanas
seu Zone com suas longas linhas loucas de besteiras sobre a morte
sai para fora do seu túmulo e fala pela porta da minha mente
solta novas séries de imagens hai-kus oceânicos táxis azuis em
Moscou negras estátuas de Buda
reza por mim na gravação fonográfica da sua existência anterior
com uma voz pausada e triste e com versos de uma profunda
música suave triste e estridente como a 1? Guerra Mundial
comi as cenouras azuis que você me mandou do túmulo e a orelha de Van Gogh e o peiote desvairado de Artaud
e caminharei pela ruas de Nova York envolto no manto negro da Poesia Francesa
fazendo improvisos sobre nossa conversa no Père Lachaise em Paris
e o poema do futuro que recebe sua inspiração da luz que escorre para dentro do seu túmulo
II
Aqui em Paris sou teu hóspede Oh sombra amistosa a mão ausente de Max Jacob
Picasso jovem me passa uma bisnaga de Mediterrâneo
eu presente no antigo banquete vermelho de Rousseau eu comi seu violino
grande festa no Bateau Lavoir não mencionada nos livros de texto sobre a Argélia
Huidobro esquecido no ósseo oceano Ungaretti recordando o branco pêlo púbico
Tzara no Bois de Boulogne explicando a alquimia das metralhadoras de cucos
ele chora ao traduzir-me para o sueco
bem vestido de gravata violeta e calças pretas
uma doce barba ruiva que emerge do seu rosto como o musgoque pende pelas paredes do Anarquismo
ele me contou infindavelmente suas brigas com André Breton
a quem um dia ajudara a aparar o bigode dourado
o velho Blaise Cendrars recebeu-me em seu estúdio e falou-me cansado da imensidão da Sibéria
Jacques Vaché convidou-me para examinar sua terrível coleção de pistolas
o pobre Cocteau amargurado por causa do outrora maravilhoso Radiguet diante do seu último pensamento eu desmaiei
Rigaut104 com uma carta de apresentação para a Morte
e Gide que elogiou o telefone e outras notáveis invenções
em princípio concordamos apesar da sua conversa de roupa de baixo de lavanda
mas mesmo assim ele bebeu para valer da erva de Whitman e mostrou-se intrigado por todos os amantes chamados Colorado
príncipes da América chegando com braçadas de Shrapnel e baseball
Ah Guillaume o mundo era tão fácil de combater parecia tio fácil
você sabia que os grandes classicistas políticos iriam invadir Montparnasse
com nenhuma coroa de louro profético para reverdecer suas testas
nenhum ramo verde nos seus travesseiros nenhuma folha das suas guerras —Maiakovski chegou e revoltou-se
III
Voltei sentei-me num túmulo e fiquei encarando teu tosco menhir
um pedaço de granito delgado como um falo inacabado
uma cruz apagada na pedra 2 poemas na lápide um Coeur Renversé
outro Habituez-vous comme moi A ces prodiges que j’annonce
Guillaume Apollinaire de Kostrowitsky
alguém deixou um pote de geléia com margaridas e uma rosa
surrealista de louça de datilografa a 5 ou 10 centavos
alegre túmulo pequeno com flores e coração virado
debaixo de uma delicada árvore musgosa sob a qual me sentei tronco tortuoso
ramagens de verão e cobertura de folhagens sobre o menhir e ninguém lá
Et quelle voix sinistre ulule Guillaume qu’es-tu devenu
seu vizinho ao lado é uma árvore
lá embaixo os ossos cruzados amontoados e talvez o crânio amarelo
e os poemas impressos Ãlcools no meu bolso sua voz no museu
Agora passadas de meia-idade percorrem o cascalho
um homem encara o nome e segue na direção do crematório
o mesmo céu rola entre as nuvens assim como nos dias mediterrâneos da Riviera durante a guerra
enamorado Apoio bebendo comendo ocasionalmente ópio recebendo a luz
Devem ter sentido o choque em St. Germain quando ele partiu Jacob & Picasso tossindo no escuro
uma atadura desenrolada e o crânio largado quieto na cama dedos grossos esticados o mistério e o ego idos
um sino dobra no campanário rua abaixo pássaros gorgeiam nas castanheiras
a Família Bremond dorme ao lado Cristo dependurado peitudo e sexy no túmulo deles
o cigarro queima no meu colo e enche a página de fumaça e chamas
uma formiga percorre minha manga de veludo cotelê a árvore
na qual estou recostado cresce vagarosamente
arbustos e ramagens erguem-se entre os túmulos uma sedosa
teia de aranha reluz no granito
eu estou enterrado aqui e sentado sobre meu sepulcro à sombra de uma árvore
Dentre os livros que, de uma forma ou outra, tomam como assunto exclusivo as questões sócio-econômicas e políticas do nosso tempo, enfocando sobretudo o período negro da ditadura militar recente no Brasil, este Verbo Encarnado se assinala imediatamente pela coerência de propósitos e pela coesão interna.
Coerência que se mostra na atitude severa de combate, denúncia e condenação, mesmo quando não trata das mazelas originárias do golpe militar, mas igualmente das presentes na vida brasileira, principalmente no Nordeste sempre sofrido que o poeta vivencia no sangue e na alma. Coesão que enforma todos os poemas do livro, pois, de certo modo, eles se complementam uns aos outros, lançando luzes novas sobre os problemas dos desvalidos e dos miseráveis, no Brasil e no exterior.
Verbo Encarnado, porém, não representa apenas o desabafo e a revolta. Também reafirma uma posição já assumida na obra anterior do poeta, a sua marca pessoal diante desse mundo em que vivemos, com freqüência hostil e desprezível, mas que poderá vir a ser um dia o universo ideal da espécie humana. Roberto Pontes sabe que reformar o mundo é uma tarefa inglória, senão inútil. Caberia ao indivíduo particular, pela denúncia e pelo combate, contribuir com sua parcela na luta para melhorá-lo. E a parcela do poeta é sua obra poética.
Assim, este livro expõe o que há de errado no contexto sócio-econômico do Brasil, vibra e vergasta os nossos males – mas, acima de tudo, não se esquece de que é um livro de poemas e não um mero folheto panfletário. É importante chamar a atenção para isto, pois essa poesia, tão "datada", não se restringe ao simples fato político-social que a gerou; vai além, impõe-se ao leitor pelo acabamento dos poemas, muito bem cuidados.
E mesmo aí, mostra-se Roberto Pontes um artista acima do mero artesão. Raramente exibe ao leitor um produto bem acabado demais, certinho e sem alcance maior. Em poemas cuja forma fixa é natural – senão obrigatória – não se detém o poeta na medida rigorosa dos versos, antes deixa-os quase sempre a flutuar no balanço de uma ou duas sílabas a mais ou a menos, o que não só contribui para a melodia das linhas, como para o lucro poético do conjunto.
Se poemas como "Verbo Encarnado", "Didática do Homem", "Soul por Luther King", "Fala sobre o Medo" e muitos outros, mostram um poeta bastante afinado com o que acontece no mundo e suas repercussões em cada um de nós, já versos como os da "Chula da Rendeira" e da "Gemedeira da Floreira" provam-no senhor dos ritmos melódicos dos versos, um artista que não se deixa apequenar pelas contingências, antes assimila-as admiravelmente, transformando em matéria poética tudo o que existe de perverso no homem e no mundo. Para o bem da poesia.
FERNANDO PY é tradutor de autores como André Maurois,
Saul Bellow, Marguerite Duras e Marcel Proust. Crítico, colabora
com artigos sobre literatura para jornais e revistas do Rio, São
Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, dos quais alguns foram
reunidos no volume Chão da Crítica (1984). Poeta, autor de
Aurora de Vidro (1962), A Construção e a Crise (1969); Vozes
do Corpo (1981), Dezoito Sextinas para Mulheres de Outrora
(1981), Antiuniverso (1994); participante do livro Quatro Poetas
(1976). Foi organizador das Poesias Completas de Joaquim
Cardozo (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971) e de
Auto-Retrato e Outras Crônicas de Drummond (Rio de Janeiro:
Record, 1981). Membro da Academia Petropolitana de Letras,
dirige juntamente com Camilo Mota o jornal Poiésis/Literatura
em Petrópolis.
Leia Obra Poética de Fernando Py

Talvez, talvez o olvido sobre a terra como uma capa
possa desenvolver o crescimento e alimentar a vida
(pode ser) como o húmus sombrio no bosque.
Talvez, talvez o homem como um ferreiro acode
à brasa, aos golpes do ferro sobre o ferro,
sem entrar nas cegas cidades do carvão.
sem fechar os olhos, precipitar-se abaixo
em fundições, águas minerais, catástrofes.
Talvez, porém meu prato é outro, meu alimento é diverso:
meus olhos não vieram para morder olvido:
meus lábios se abrem sobre todo o tempo, e todo o tempo
não só uma parte do tempo gastou as minhas mãos.
Por isso te falarei destas dores que quisera afastar,
te obrigarei a viver uma vez mais entre suas queimaduras,
não para nos determos coma numa estação, ao partir,
nem tampouco para golpear com o rosto a terra .
nem para enchermos o coração de água salgada,
mas para caminhar conhecendo, para tocar a retidão
com decisões infinitamente carregadas de sentido,
para que a severidade seja uma condição da alegria, para
que assim sejamos invencíveis.
I
Os verdugos
Sáuria, escamosa América enrolada
ao crescimento vegetal, ao mastro
erigido no lamaçal:
amamentaste filhos terríveis
com venenoso leite de serpente,
tórridos berços incubaram
e cobriram de barro amarelo
uma progênie encarniçada.
O gato e a escorpiona fornicaram
na pátria selvática.
Fugiu a luz de ramo em ramo,
mas não acordou o adormecido.
Cheirava à cana o cobertor,
haviam rodado as machadinhas
ao mais arredio lugar da sesta,
e no penacho escasseado
das cantinas escarrava
a sua independência jactanciosa
o jornaleiro sem sapatos.
O Dr.
Francia
O Paraná nas zonas maranhosas,
úmidas, palpitantes de outros rios
onde a rede da água, Yabebiri,
Acaray,, Igurey, jóias gêmeas
tingidas de quebracho, rodeadas
pelas espessas copas do copal,
transcorre para as savanas atlânticas
arrastando o delírio
do nazaret arroxeado, as raízes
do curupay em seu sonho arenoso.
Do lodaçal tépido, dos tronos
do jacaré devorador, ao meio
da pestilência silvestre,
cruzou o Dr.
Rodríguez de Francia
a caminho da poltrona do Paraguai.
E viveu entre os rosetões
de rosada alvenaria
qual estátua sórdida e cesárea
coberta pelos véus da aranha sombria.
Solitária grandeza no salão
cheio de espelhos, espantalho
negro sobre a felpa rubra
e ratazanas assustadas na noite.
Falsa coluna, perversa
academia, agnosticismo
de rei leproso, rodeado
pela extensão da erva-mate
bebendo números platônicos
na forca do justiçado,
contando triângulos de estrelas,
medindo claves estelares,
espreitando o alaranjado
entardecer do Paraguai
com um relógio na agonia
do fuzilado em sua janela,
com uma mão no ferrolho
do crepúsculo manietado.
Os estudos sobre a mesa,
os olhos no acicate
do firmamento, nos emborcados
cristais da geometria,
enquanto o sangue intestinal
do homem morto a coronhadas
escorria pelos degraus
chupado por verdes enxames
de moscas que cintilavam.
Fechou o Paraguai como um ninho
de sua majestade, amarrou
tortura e barro nas fronteiras.
Quando nas ruas sua silhueta
passa, os índios viram
os olhos para o muro:
sua sombra resvala deixando
duas paredes de calafrios.
Quando a morte consegue ver
o Dr.
Francia, ele está mudo,
imóvel, atado a si próprio,
só em sua cova, seguro
pelas cordas da paralisia,
e morre só, sem que ninguém
entre na câmara: ninguém se atreve
a tocar a porta do amo.
E amarrado por suas serpentes,
desbocado, fervido em sua medula,
agoniza e morre perdido
na solidão do palácio,
enquanto a noite estabelecida
como uma cátedra devora
os capitéis miseráveis
salpicados pelo martírio.
Rosas (1829-1849)
É tão difícil ver através da terra
(não do tempo, que ergue sua taça transparente
iluminando o alto resumo do orvalho),
porém a terra espessa de farinhas e rancores,
adega endurecida com mortos e metais,
não me deixa olhar pra baixo, no fundo
em que a entrecruzada solidão me rechaça.
Mas falarei com eles, os meus, os que um dia
para minha bandeira fugiram, quando era a pureza
estrela de cristal em seu tecido.
Sarmiento, Alberdi, Oros, del Carril:
minha pátria pura, logo manchada,
guardou para vós
a luz de sua metálica estreiteza,
e entre pobres e agrícolas adobes
os desterrados pensamentos
foram fiando-se com dura mineração
e aguilhões de açúcar vinhateiro.
O Chile os repartiu em sua fortaleza,
deu-lhes o sal de seu circuito marinho,
e esparziu as sementes desterradas.
Enquanto isso o galope na planície.
A argola partiu-se sobre as fibras
da cabeleira celeste,
e o pampa mordeu as ferraduras
das bestas molhadas e frenéticas.
Punhais, gargalhadas de mazorca
sobre o martírio.
Lua coroada
de rio a rio sobre a brancura
com um penacho de sombra indizível!
A Argentina roubada a coronhadas
no vapor da alba, castigada
até sangrar e enlouquecer, vazia,
cavalgada por azedos capatazes!
Tu fizeste procissão de vinhas rubras,
foste uma máscara, um tremor selado,
e te substituíram na brisa
por uma trágica mão de cera.
Saiu de ti uma noite, corredores,
lousas de pedra enegrecida, escadarias
onde se fundiu o som, encruzilhadas
de carnaval, com mortos e bufões,
e um silêncio de pálpebra que cai
sobre todos os olhos da noite.
Por onde fugiram teus trigos espumosos?
Teu garbo frutal, tua extensa boca,
tudo o que se move por tuas cordas
para cantar, teu couro trepidante
de grande tambor, de estrela sem medida,
emudeceram sob a implacável
solidão da cúpula encerrada.
Planeta, latitude, claridade poderosa,
em tua orla, na cinta pela neve compartida,
recolheu-se o silêncio noturno que chegava
montado sobre um mar vertiginoso,
e onda após onda a água nua relatava,
o vento gris a tremer desatava a sua areia,
a noite nos feria com o seu pranto estépico.
Mas o povo e o trigo se amassaram: aí
alisou-se a cabeça terrenal, pentearam-se
as fibras enterradas da luz, a agonia
provou as portas livres, destroçadas do vento,
e das poeiradas do caminho, uma
a uma, dignidades submersas, escolas,
inteligências, rostos ao pó ascenderam
até se tornarem unidades estreladas,
estátuas da luz, puras pradarias.
Equador
Dispara Tunguragua azeite rubro,
Sangay sobre a neve
derrama mel ardendo,
Imbabura de tuas cimeiras
igrejas nevadas arroja
peixes e plantas, ramos duros
do infinito inacessível,
e nos páramos, acobreada
lua, edificação crepitante,
deixa cair as tuas cicatrizes
como veias sobre Antisana,
na enrugada solidão
de Pumachaca, na sulfúrica
solenidade de Pambamarca,
vulcão e lua, frio e quartzo,
chamas glaciais, movimento
de catástrofes, vaporoso
e ciclônico patrimônio.
Equador; Equador, cauda violeta
de um astro ausente, na irisada
multidão de povos que te cobrem
com infinita pele de frutaria,
ronda a morte com o seu funil,
arde a febre nos povoados pobres,
a fome é um arado
de ásperas puas na terra,
e a misericórdia te fere
o peito com buréis e conventos,
qual uma enfermidade umedecida
nas fermentações das lágrimas.
García Moreno
Dali saiu o tirano.
García Moreno é seu nome.
Chacal enluvado, paciente
morcego de sacristia,
recolhe cinza e tormento
em seu sombreiro de seda
e enfia as unhas no sangue
dos rios equatoriais.
Com os pequenos pés metidos
em escarpins envernizados,
benzendo-se e encerando-se
nas alfombras do altar,
com as fraldas mergulhadas
nas águas processionais,
dança no crime arrastando
cadáveres recém-fuzilados,
dilacera o peito dos mortos,
passeia seus ossos voando
sobre os féretros, vestido
com plumas de pano agourento.
Nas aldeias índias, o sangue
cai sem direção, há medo
em todas as ruas e sombras
(debaixo dos sinos há medo
que ressoa e sai para a noite),
e pesam sobre Quito as grossas
paredes dos monastérios,
retas, imóveis, seladas.
Tudo dorme com os florões
de ouro oxidado nas cornijas,
os anjos dormem pendurados
em seus cabides sacramentais,
tudo dorme qual uma teia
de sacerdócio, tudo sofre
sob a noite membranosa.
Mas não dorme a crueldade.
A crueldade de bigodes brancos
passeia com guantes e garras
e crava escuros corações
sobre as grades do domínio.
Até que um dia entra a luz
como um punhal no palácio
e abre a jaqueta mergulhando um raio
no peitilho imaculado.
Assim saiu García Moreno
do palácio, mais uma vez, voando
para inspecionar as sepulturas,
empenhadamente mortuário,
mas dessa vez rodou até o fundo
dos massacres, retido,
entre as vítimas sem nome,
na umidade do podredouro.
Os bruxos da América
América Central pisoteada pelos mochos,
engordurada por ácidos suores,
antes de entrar em teu jasmim queimado
considera-me fibra da tua nave,
asa de tua madeira combatida
pela espuma gêmea,
e enche-me do arrebatador aroma
pólen e pluma de tua taça,
margens germinais de tuas águas,
linhas frisadas do teu ninho.
Porém os bruxos matam os metais
da ressurreição, fecham as portas
e entrevam a morada
das aves deslumbradoras.
Estrada
Chega talvez Estrada, pequenino,
em seu fraque de antigo anão
e entre uma tosse e outra os muros
da Guatemala fermentam
regados incessantemente
pelas urinas e pelas lágrimas.
Ubico
Ou é Ubico pelas picadas,
atravessando os presídios
de motocicleta, frio
como pedra, mascarado
da hierarquia do medo.
Gómez
Gómez, tremedal da Venezuela,
afoga lentamente rostos,
inteligências, em sua cratera.
O homem cai à noite nela
mexendo os braços, cobrindo
o rosto dos golpes cruéis,
e é tragado pelos atoleiros,
mergulha em adegas subterrâneas,
aparece nas estradas
cavando carregado de ferro,
até morrer despedaçado,
desaparecido, perdido.
Machado
Machado, em Cuba, arreou sua ilha
com máquinas, importou tormentos
feitos nos Estados Unidos,
silvaram as metralhadoras
derrubando a florescência,
o néctar marinho de Cuba,
e o estudante apenas ferido
era lançado à água onde
os tubarões terminavam
a obra do benemérito.
Chegou até o México a mão
do assassino, e rolou Mella
como um discóbolo sangrento
pela rua criminosa
enquanto a ilha ardia, azul,
embrulhada em loteria,
hipotecada com açúcar.
Melgarejo
A Bolívia morre em suas paredes
como uma flor enrarecida:
encarapitam-se em suas montarias
os generais derrotados
e rompem o céu a pistoladas.
Máscara de Melgarejo,
besta bêbada, espumarada
de minerais traídos,
barba da infâmia, barba horrenda
sobre os montes rancorosos,
barba arrastada no delírio,
barba carregada de coágulos,
barba achada nos pesadelos
da gangrena, barba errante
galopada pelos potreiros,
amancebada aos salões,
enquanto o índio e sua carga cruzam
a última savana de oxigênio
trotando pelos corredores
dessangrados da pobreza.
Bolívia (22 de março de 1865)
Belzu venceu.
É de noite.
La Paz arde
com os últimos tiros.
Poeira seca
e dança triste para o alto
sobem entrançadas com álcool lunário
e horrenda púrpura recém-molhada.
Melgarejo caiu, sua cabeça bate de encontro ao fio mineral
do cimo sangrento, os cordões
de ouro, a casaca
tecida de ouro, a camisa
rota empapada de suor maligno,
fazem junto ao detrito do cavalo
e aos miolos do novo fuzilado.
Belzu em palácio, entre as luvas
e as sobrecasacas, recebe sorrisos,
reparte-se o domínio do escuro
povo nas alturas alcoolizadas,
os novos favoritos deslizam
pelos salões encerados
e as luzes de lágrimas e lâmpadas
caem no veludo despenteado
por uns tantos fogachos.
Entre a multidão
vai Melgarejo, tempestuoso espectro
apenas sustentado pela fúria.
Escuta o âmbito que fora o seu,
a massa ensurdecida, o grito
despedaçado, o fogo da fogueira
alto sobre os montes, a janela
do novo vencedor.
Sua vida (pedaço
de força cega e ópera desatada
sobre as crateras e os planaltos,
sonho de regimento, no qual os trajes
derramam-se em terras indefesas
com sabres de papelão, mas há feridas
que mancham, com morte verdadeira
e degolados, as praças rurais,
deixando atrás o coro mascarado,
e os discursos do Eminentíssimo,
esterco de cavalos, seda, sangue
e os mortos de rodízio, rotos, rígidos,
atravessados pelo atroante
disparo dos rápidos carabineiros)
caiu no mais fundo do pó,
do desestimado e do vazio,
de uma talvez morte inundada
de humilhação, porém a derrota
como um touro imperial mostra as fauces,
escarva as metálicas areias
e empurra o bestial passo vacilante
o minotauro boliviano caminhando
para as salas de ouro clamoroso.
Entre a multidão cruza cortando
massa sem nome, escala
pesadamente o trono alienado,
ao vencedor caudilho assalta.
Rola
Belzu, manchado o amido, roto o cristal
que cai derramando a sua luz líquida
esburacado o peito para sempre,
enquanto o assaltante solitário
búfalo ensangüentado do incêndio
sobre o balcão apóia a sua estatura
gritando: “Morreu Belzu”, “Quem vive?”,
“Respondei”, E da praça,
rouco um grito de terra, um grito negro
de pânico e horror responde; “Viva,
sim, Melgarejo, viva Melgarejo”,
a mesma multidão do morto, aquela
que festejou o cadáver a dessangrar-se
na escadaria do palácio: “Viva”,
grita o fantoche colossal, que tapa
todo o balcão com sua roupa rasgada,
barro de acampamento e sangue sujo.
Martínez (1932)
Martínez, o curandeiro
de El Salvador, reparte frascos
de remédios multicores,
que os ministros agradecem
com prosternação e salamaleques.
O bruxinho vegetariano
vive a receitar em palácio
enquanto a fome tormentosa
uiva entre os canaviais.
Martínez então decreta:
e em poucos dias vinte mil
camponeses assassinados
apodrecem nas aldeias
que Martínez manda incendiar
com ordenações de higiene.
De novo em palácio retorna
a seus xaropes, e recebe
as rápidas felicitações
do embaixador norte-americano.
“Está assegurada”, lhe diz,
“a cultura ocidental,
o cristianismo do Ocidente
e ademais os bons negócios,
as concessões de bananas
e os controles alfandegários.
”
E bebem juntos uma longa
taça de champanha, enquanto cai
a chuva tépida nos pútridos
agrupamentos do ossuário.
As satrapias
Trujillo, Somoza, Carías,
até hoje, até este amargo
mês de setembro
do ano de 1948,
com Moríñigo (ou Natalicio)
no Paraguai, hienas vorazes
de nossa história, roedores
das bandeiras conquistadas
com tanto sangue e tanto fogo,
encharcados em suas fazendas,
depredadores infernais,
sátrapas mil vezes vendidos
e vendedores; açulados
pelos lobos de Nova York.
Máquinas famintas de dólares,
manchadas no sacrifício
de seus povos martirizados,
prostituídos mercadores
do pão e do ar americanos,
lodosos verdugos, manada
de prostibulários caciques,
sem outra lei que a tortura
e a fome açoitada do povo.
Doutores honoris causa
da Columbia University,
com a toga sobre as fauces
e sobre o punhal, ferozes
transumantes do Waldorf Astoria
e das câmaras malditas
onde apodrecem as idades
eternas do encarcerado.
Pequenos urubus recebidos
por Mr.
Truman, recobertos
de relógios, condecorados
por “Loyalty”, sangradores
de pátrias, só há um
pior do que vocês, só há um
e este o deu a minha pátria um dia
para desgraça de meu povo.
II
As oligarquias
Não, ainda não secavam as bandeiras,
ainda não dormiam os soldados
quando a liberdade mudou de roupa,
transformou-se em fazendas:
das terras recém-semeadas
saiu uma casta, uma quadrilha
de novos-ricos com escudo,
com polícia c com prisões.
Traçaram uma linha negra:
“Aqui somos nós, porfiristas
do México, caballeros
do Chile, pitucos
do Jockey Club de Buenos Aires,
engomados flibusteiros
do Uruguai, adamados
equatorianos, clericais
señoritos de todas as partes”.
“Lá, vocês, rotos, mamelucos,
pelados do México, gaúchos,
amontoados em pocilgas,
desamparados, esfarrapados,
piolhentos, vagabundos, ralé,
desbaratados, miseráveis,
sujos, preguiçosos, povo.
”
Tudo se construiu sobre a linha.
O arcebispo batizou este muro
e instituiu anátemas incendiários
para o rebelde que ignorasse
a parede da casta.
Queimaram pela mão do verdugo
os livros de Bilbao.
A polícia
guardou a muralha, e no faminto
que se aproximou dos mármores sagrados
bateram com um pau na cabeça
ou o espetaram num cepo agrícola
ou a pontapés o nomearam soldado.
Sentiram-se tranqüilos e seguros.
O povo continuou nas ruas e campinas
a viver amontoado, sem janelas,
sem chão, sem camisa,
sem escola, sem pão.
Anda pela nossa América um fantasma
nutrido de detritos, analfabeto,
errante, igual em nossas latitudes,
saindo dos cárceres lamacentos,
arrabaldeiro e fugitivo, marcado
pelo temível compatriota cheio
de roupas, ordens e gravata-borboleta.
No México produziram pulque
para ele, no Chile
vinho terebinteno de cor violeta,
o envenenaram, rasparam-lhe
a alma pedacinho por pedacinho,
negaram-lhe o livro e a luz,
até que foi tombando no pó,
metido no desvão tuberculoso,
e então não teve enterro
litúrgico: sua cerimônia
foi metê-lo nu entre outras
carniças sem nome.
Promulgação da Lei da Trapaça
Eles se declararam patriotas.
Nos clubes se condecoraram
e foram escrevendo a história.
Os Parlamentos ficaram cheios
de pompa, depois repartiram
entre si a terra, a lei,
as melhores ruas, o ar,
a universidade, os sapatos.
Sua extraordinária iniciativa
foi o Estado erigido dessa
forma, a rígida impostura.
Foi debatido, como sempre,
com solenidade e banquetes,
primeiro em círculos agrícolas,
com militares e advogados.
Por fim levaram ao Congresso
a Lei suprema, a famosa,
a respeitada, a intocável
Lei da Trapaça.
Foi aprovada.
Para o rico a boa mesa.
O lixo para os pobres.
O dinheiro para os ricos.
Para os pobres o trabalho.
Para os ricos a casa grande.
O tugúrio para os pobres.
O foro para o grão ladrão.
O cárcere para quem furta um pão.
Paris, Paris para os señoritos.
O pobre na mina, no deserto.
O Sr.
Rodríguez de la Crota
falou no Senado com voz
melíflua e elegante.
“Esta lei, afinal, estabelece
a hierarquia obrigatória
e, antes de tudo, os princípios
da cristandade.
Era
tão necessária quanto a água.
Só os comunistas, chegados
do inferno, como se sabe,
podem combater este código
do Funil, sábio e severo.
Mas essa oposição asiática,
vinda do sub-homem, é simples
refreá-la: todos na cadeia,
no campo de concentração,
assim ficaremos somente
os cavalheiros distintos
e os amáveis yanaconas
do Partido Radical.
”
Vibraram os aplausos
dos brancos aristocráticos:
que eloqüência, que espiritual
filósofo, que luminar!
E foi cada um encher correndo
os bolsos com seus negócios,
um açambarcando o leite,
outro dando o golpe no arame,
outro roubando no açúcar,
e todos se chamando em coro
patriotas, com o monopólio
do patriotismo, consultado
também na Lei da Trapaça.
Eleição em Chimbarongo (1947)
Em Chimbarongo, no Chile, faz tempo,
fui a uma eleição senatorial.
Vi como eram eleitos os pedestais da pátria.
As onze da manhã
chegaram do campo as carretas
atulhadas de inquilinos.
Foi no inverno, molhados,
sujos, famintos, descalços,
os servos de Chimbarongo
descem das carretas.
Torvos, tostados, esfarrapados,
são apinhados, conduzidos,
com uma cédula na mão,
vigiados e apertados
voltam a cobrar o pagamento,
e outra vez para as carretas,
em fila como cavalos,
são conduzidos.
Mais tarde
lhes atiram uma caneca de vinho
até ficarem bestialmente
envilecidos e esquecidos.
Escutei mais tarde o discurso
do senador assim eleito:
“Nós, os patriotas cristãos,
nós, os defensores da ordem,
nós, os filhos do espírito”.
E sua barriga era balançada
por sua voz de vaca acachaçada,
que parecia tropeçar
como trompa de mamute
nas abóbadas tenebrosas
da uivante pré-história.
A nata
Grotescos, falsos aristocratas
de nossa América, mamíferos
recém-estucados, jovens
estéreis, asnos sensatos, proprietários malignos.
heróis
da bebedeira no clube,
assaltantes de banco e bolsa,
falsos elegantes, grã-finos, bestalhões,
ataviados tigres de embaixada,
pálidas meninas principais,
flores carnívoras, culturas
das cavernas perfumadas,
trepadeiras chupadoras
de sangue, esterco e suor,
cipós estranguladores,
anéis de jibóias feudais.
Enquanto tremiam os prados
com o galope de Bolívar,
ou de O'Higgins (soldados pobres,
povo chicoteado, heróis descalços),
vós formastes as fileiras
do rei, do poço clerical,
da traição às bandeiras,
mas quando o vento arrogante
do povo, agitando suas lanças,
nos deixou a pátria nos braços,
surgistes aramando as terras,
medindo cercas, amontoando
áreas e seres, repartindo
a polícia e os lagos.
O povo voltou das guerras,
afundou-se nas minas, na escura
profundidade dos currais,
caiu nos sulcos pedregosos,
moveu as fábricas engorduradas,
procriando nos prostíbulos.
nos cômodos repletos
de outros seres desgraçados.
Naufragou em vinho até se perder,
abandonado, invadido
por um exército de piolhos
e de vampiros, rodeado
de muros e delegacias,
sem pão, sem música caindo
na solidão desesperada
onde Orfeu mal lhe deixa
uma guitarra para sua alma,
uma guitarra que se cobre
de fitas e rasgões
e canta por cima dos povos
como a ave da pobreza.
Os poetas celestes
Que fizestes vós, gidistas,
intelectualistas, rilkistas,
misterizantes, falsos bruxos
existenciais, papoulas
surrealistas acesas
numa tumba, europeizados
cadáveres da moda,
pálidas lombrigas do queijo
capitalista, que fizestes
ante o reinado da angústia,
frente a este escuro ser humano,
o esta pateada compostura,
a esta cabeça submersa
no esterco, a esta essência
de ásperas vidas pisoteadas?
Não fizestes nada além da fuga:
vendestes amontoados detritos,
buscastes cabelos celestes,
pés covardes, unhas quebradas,
“beleza pura”, “sortilégio”,
obras de pobres assustados
para evadir os olhos, para
emaranhar as delicadas
pupilas, para subsistir
com o prato de restos sujos
que vos lançaram os senhores,
sem ver a pedra em agonia,
sem defender, sem conquistar,
mais cegos que as coroas
do cemitério, quando cai
a chuva sobre as imóveis
flores podres das sepulturas.
Os exploradores
Assim foi devorada,
negada, sujeitada, arranhada, roubada,
jovem América, tua vida.
Dos despenhadeiros da cólera
onde o caudilho pisoteou cinzas
e sorrisos recém-tombados,
até as máscaras patriarcais
dos bigodudos senhores
que presidiram a mesa dando
a bênção aos presentes
e ocultando os verdadeiros
rostos de escura saciedade,
de concupiscência sombria
e cavidades cobiçosas:
fauna de frios mordedores
da cidade, tigres terríveis,
comedores de carne humana,
peritos na caçada
do povo fundido nas névoas,
desamparado nos rincões
e nos porões da terra.
Os pedantes
Entre os miasmas ganadeiros
ou papeleiros, ou coqueteleiros,
viveu o produto azul, a pétala
da podridão altaneira.
Foí o “siútico” do Chile, o Raúl
Aldunatillo (conquistador
de revistas com mãos alheias,
com mãos que mataram índios),
O Tenente Afetado, o Coronel
Negócio, o que compra letras
e se estima letrado, compra
sabre e se crê soldado,
mas não pode comprar pureza
e então escarra como víbora.
Pobre América revendida
nos mercados do sangue
pelos mergulhões enterrados
que ressurgem no salão
de Santiago, de Minas Gerais,
fazendo “elegância”, caninos
cavalheirinhos de boudoir,
peitilhos inúteis, tacos
do golfe da sepultura.
Pobre América, emascarada
por elegantes transitórios,
falsificadores de rostos,
enquanto, abaixo, o vento negro
fere o coração destroçado
e roda o herói do carvão
até o ossário dos pobres,
varrido pela pestilência,
coberto pela escuridão,
deixando sete filhos famintos
que serão lançados nos caminhos.
Os favoritos
No espesso queijo cardão
da tirania amanhece
outro verme: o favorito.
É o covardão arrendado
para louvar as mãos sujas.
É orador ou jornalista.
Acorda rápido cm palácio
e mastiga com entusiasmo
as dejeções do soberano,
elucubrando longamente
sobre seus gestos, enturvando
a água e pescando seus peixes
na laguna purulenta.
Vamos chamá-lo Darío Poblete,
ou Jorge Delano “Coke”.
(Dá na mesma, poderia ter
outro nome, existiu quando
Machado caluniava Mella,
depois de tê-lo assassinado.
)
Ali Poblete teria escrito
sobre os “Vis inimigos”
do “Péricles de Havana”.
Mais tarde Poblete beijava
as ferraduras de Trujillo,
a cavalgadura de Moríñigo,
o ânus de Gabriel González.
Foi o mesmo ontem, recém-saído
da guerrilha, alugado
para mentir, para ocultar
execuções e saques,
e hoje, erguendo sua pena
covarde sobre os tormentos
de Pisagua, sobre a dor
de milhares de homens e mulheres.
Sempre o tirano em nossa negra
geografia martirizada
achou um bacharel lamacento
que repartisse a mentira
e dissesse: El Sereníssimo,
el Constructor, el Gran Repúblico
que nos gobierna, e deslizasse
pela tinta emputecida
suas garras negras de ladrão.
Quando o queijo é consumido
e o tirano cai no inferno,
o Poblete desaparece,
o Delano “Coke” se esfuma,
o verme torna ao esterco,
esperando a roda infame
que afasta e traz as tiranias,
para aparecer sorridente
com um novo discurso escrito
para o déspota que desponta.
Por isso, povo, antes de ninguém,
pega o verme, rompe sua alma
e que seu líquido esmagado,
sua escura matéria viscosa
seja a última escritura,
a despedida de uma tinta
que limparemos da terra.
Os advogados do dólar
Inferno americano, pão nosso
empapado em veneno, há outra
língua em tua pérfida fogueira:
é o advogado nativo
da companhia estrangeira.
É ele que arrebita os grilhões
da escravidão em sua pátria,
e passeia desdenhoso
com a casta dos gerentes
a mirar com ar supremo
nossas bandeiras andrajosas.
Quando chegam de Nova York
as vanguardas imperiais,
engenheiros, calculistas,
agrimensores, peritos,
e medem terra conquistada,
estanho, petróleo, bananas,
nitrato, cobre, manganês,
açúcar, ferro, borracha, terra,
adianta-se um anão obscuro,
com um sorriso amarelo,
e aconselha com suavidade
aos invasores recentes:
Não é preciso pagar tanta
a estes nativos, seria
um crime, meus senhores, elevar
estes salários.
Nem convém.
Estes pobres-diabos, estes mestiços,
iriam só embriagar-se
com tanto dinheiro.
Pelo amor de Deus!
São uns primitivos, quase
umas feras, conheço esta cambada.
Não paguem tanto dinheiro.
É adotado.
Põem-lhe
libré.
Veste como gringo,
cospe como gringo.
Dança
como gringo, e vai subindo.
Tem automóvel, uísque, imprensa,
é eleito juiz e deputado,
é condecorado, é ministro,
e é ouvido no governo.
Sabe ele quem é subornável.
Sabe ele quem é subornado.
Ele lambe, unta, condecora,
afaga, sorri, ameaça.
E assim se esvaziam pelos portos
as repúblicas dessangradas.
Onde mora, perguntareis,
este vírus, este advogado,
este fermento do detrito,
este duro piolho sangüíneo,
engordado de nosso sangue?
Mora nas baixas regiões
equatoriais, o Brasil,
mas sua morada é também
o cinturão central da América.
Podereis encontrá-lo na escarpada
altura de Chuquicamata.
Onde cheira riqueza sobe
os montes, cruza abismos,
com as receitas de seu código
para roubar a terra nossa.
Podereis achá-lo em Puerto Limón,
na Ciudad Trujillo, em Iquique,
em Caracas, Maracaibo,
em Antofagasta, em Honduras,
encarcerando nosso irmão,
acusando seu compatriota.
despojando diaristas, abrindo
portas de juízes e abastados,
comprando imprensa, dirigindo
a polícia, o pau, o rifle
contra sua família esquecida.
Pavoneando-se, vestido
de smoking, nas recepções,
inaugurando monumentos,
com esta frase: Meus senhores,
a pátria, antes da vida,
é a nossa mãe, é o nosso chão,
vamos defender a ordena fazendo
novos presídios, novos cárceres.
E morre glorioso, “o patriota”,
senador, patrício, eminente,
condecorado pelo papa,
ilustre, próspero, temido,
enquanto a trágica ralé
de nossos mortos, os que fundiram
a mão no cobre, arranharam
a terra profunda e severa,
morrem batidos e esquecidos,
postos às pressas
em seus caixões funerários:
um nome, um número na cruz
que o vento sacode, matando
até a cifra dos heróis.
Diplomatas (1948)
Se você nasce bobo na Romênia
segue a carreira de bobo,
se você é bobo em Avignon
sua qualidade é conhecida
pelas velhas pedras de França, pelas escolas e meninada
desrespeitosa das granjas.
Mas se você nasce bobo no Chile
não demoram a fazê-lo embaixador.
Chame-se você bobo Mengano,
bobo Joaquín Fernández, bobo
Fulano de Tal, se for possível
tenha uma barba acrisolada.
É tudo o que se exige
para “entabular negociações”.
Informará depois, sabichão,
sobre a sua espetacular
apresentação de credenciais,
dizendo: Etc.
, o coche,
etc.
, Sua Excelência, etc.
frases, etc.
, benévolas.
Arranje uma voz cava e um tom
de vaca protetora,
condecorando-se mutuamente
com o enviado de Trujillo,
mantenha discretamente
uma garçonnière (“Sabe você
as conveniências destas coisas
para o Tratado de Limites”),
remeta disfarçado em algo
o editorial do jornal
doutoral que leu ao café
anteontem: é um “informe”.
Junte-se com o “fino”
da “sociedade”, com os bobos
daquele país, adquira quanta
prataria puder comprar,
fale nos aniversários
junto aos cavalos de bronze,
dizendo: Ejem, los vínculos,
etc.
, ejem, etc.
,
ejem, los descendientes,
etc.
, la raza, ejem, el puro,
el sacrosanto, ejem, etc.
E fique tranqüilo, tranqüilo:
é você um bom diplomata
do Chile, é você um bobo
condecorado e prodigioso.
Os bordéis
Da prosperidade nasceu o bordel,
acompanhando o estandarte
das cédulas amontoadas:
sentina respeitada
do capital, adega da nave
de meu tempo.
Foram mecanizados
bordéis na cabeleira
de Buenos Aires, carne fresca
exportada pelo infortúnio
das cidades e dos campos
remotos, onde o dinheiro
espreitou os passos do cântaro
e aprisionou a trepadeira.
Rurais lenocínios, à noite,
no inverno, com os cavalos
à porta das aldeias
e as moças aturdidas
que caíram de venda em venda
nas mãos dos magnatas.
Lentos prostíbulos provincianos
em que os abastados do lugar
- ditadores da vindima -
aturdem a noite venérea
com espantosos estertores.
Pelos rincões, escondidas,
grei de rameiras, inconstantes
fantasmas, passageiras
do trem mortal, já vos tomaram,
já caístes na rede enodoada,
já não podeis voltar ao mar,
já vos estreitaram e vos caçaram,
já estais mortas no vazio
do mais vivo desta vida,
já podeis resvalar a sombra
pelas paredes: em nenhum
lugar senão na morte
andam estes muros pela terra.
Procissão em Lima (1947)
Eram muitos, levavam o ídolo
sobre os ombros, era espessa
a cauda da multidão
como uma saída do mar
de roxa fosforescência.
Saltavam dançando, elevando
graves murmúrios mastigados
que se uniam à fritada
e aos tétricos tamborins.
Coletes roxos, sapatos
roxos, chapéus
enchiam de manchas violeta
as avenidas como um rio
de enfermidades pustulentas
que desembocava nas vidraças
inúteis da catedral.
Algo infinitamente lúgubre
como o incenso, a copiosa
aglomeração de chagas
feria os olhos unindo-se
com as chamas afrodisíacas
do apertado rio humano.
Vi o obeso latifundiário
suando nas sobrepelizes,
esfregando os goteirões
de sagrado esperma na nuca.
Vi o andrajoso gusano
das montanhas estéreis,
o índio de rosto perdido
nas vasilhas, o pastor
de lhamas doces, as meninas
cortantes das sacristias,
os professores de aldeia
com rostos azuis e famintos.
Narcotizados dançarinos
em camisões purpurinos
iam os negros esperneando
sobre tambores invisíveis.
E todo o peru batia
no peito mirando a estátua
de uma senhora melindrada,
azul-celeste e rosadinha,
que navegava as cabeças
em seu barco de confeitos
inflado de aragem suarenta.
A Standard Oil Co.
Quando a verruma grossa abriu caminho
pelas furnas pedregosas
e enfiou seu intestino implacável
nas fazendas subterrâneas,
e os anos mortos, os olhos
das idades, as raízes
das plantas encarceradas
e os sistemas escamosos
se fizeram estratos da água,
subiu pelos tubos o fogo
convertido em líquido frio,
na aduana das alturas
à saída de seu mundo
de profundidade tenebrosa,
encontrou um pálido engenheiro
e um titulo de proprietário.
Ainda que se enredem os caminhos
do petróleo, ainda que as napas
mudem seu lugar silencioso
e movam sua soberania
entre os ventres da terra,
quando agita a fonte
sua ramagem de parafina,
antes chegou a Standard Oi1
com seus letrados e suas botas,
com seus cheques e seus fuzis,
com seus governos e seus presos.
Seus obesos imperadores
vivem em Nova York, são suaves
e sorridentes assassinos,
que compram seda, náilon, puros
tiranetes e ditadores.
Compram países, povos, mares,
polícias, deputações,
distantes comarcas onde
os pobres guardam seu milho
como os avaros o ouro:
a Standard Oil os desperta,
uniformiza, lhes designa
qual é o irmão inimigo,
e o paraguaio faz sua guerra
e o boliviano se desfaz
com sua metralhadora na selva.
Um presidente assassinado
por uma gota de petróleo,
uma hipoteca de milhões
de hectares, um fuzilamento
rápido numa manhã
mortal de luz, petrificada,
um novo campo de presos
subversivos, na Patagônia,
uma traição, um tiroteio
sob a lua apetrolada,
uma troca sutil de ministros
na capital, um rumor
de maré de azeite,
e logo o baque da garra, e verás
como brilham, sobre as nuvens,
sobre os mares, em tua casa,
as letras da Standard Oil
iluminando seus domínios.
A Anaconda Copper Mining Co.
Nome enrolado de serpente,
fauce insaciável, monstro verde,
nas alturas agrupadas,
na montaria gasta
de meu país, sob a lua
da dureza, escavadora, abres as crateras lunares
do mineral, as galerias
do cobre virgem, afundado
em suas areias de granito.
Já vi arder na noite eterna
de Chuquicamata, nas alturas,
o fogo dos sacrifícios,
a crepitação desbordante
do ciclope que devorava
a mão, o peso, a cintura
dos chilenos, enrolando-os
sob suas vértebras de cobre.
esvaziando-lhes o sangue morno,
triturando os esqueletos
e cuspindo-os nos montes
dos desertos desolados.
O ar ressoa nas alturas
de Chuquicamata estrelada.
Os socavões aniquilam
com mãos pequeninas de homem
a resistência do planeta,
trepida a ave sulfurosa
das gargantas, amotina-se
o férreo frio do metal
com suas selvagens cicatrizes
e quando troam as buzinas
a terra engole um desfile
de homens minúsculos que descem
às mandíbulas da cratera.
São pequeninos capitães,
sobrinhos meus, filhos meus,
e quando revertem os lingotes
para os mares, e limpam
a cara e voltam trepidando
no último calafrio,
a grande serpente os devora,
e diminui, e os tritura,
e os cobre de baba maligna,
e os atira pelos caminhos,
e os mata com a polícia,
e os faz apodrecer em Pisagua,
e os encarcera, e os cospe,
compra um presidente traidor
que os insulta e persegue,
e os mata de fome nas planuras
da imensidade arenosa.
E há uma que outra cruz torcida
nas ladeiras infernais
como única lenha dispersa
da árvore da mineração
A United Fruit Co.
Quando soou a trombeta, ficou
tudo preparado na terra,
e Jeová repartiu o mundo
entre a Coca-Cola, a Anaconda,
Ford Motors, e outras entidades:
a Compañía Frutera Inc.
reservou para si o mais suculento,
a costa central de minha terra,
a doce cintura da América.
Batizou de novo suas terras
como “Repúblicas Bananas”,
e sobre os mortos adormecidos,
sobre os heróis inquietos
que conquistaram a grandeza,
a liberdade e as bandeiras,
estabeleceu a ópera-bufa:
alienou os arbítrios,
presenteou coroas de César,
desembainhou a inveja, atraiu
a ditadura das moscas,
moscas Trujíllo, moscas Tachos,
moscas Carías, moscas Martínez,
moscas Ubico, moscas úmidas
de sangue humilde e marmelada,
moscas bêbadas que zumbem
sobre as tumbas populares,
moscas de circo, sábias moscas
entendidas em tirania.
Entre as moscas sanguinárias
a Frutera desembarca,
arrasando o café e as frutas,
em seus barcos que deslizaram
como bandejas o tesouro
de nossas terras submersas.
Enquanto isso, pelos abismos
açucarados dos portos,
caíam índios sepultados
no vapor da manhã:
um corpo roda, uma coisa
sem nome, um número caído,
um ramo de fruta morta
derramada no monturo.
As terras e os homens
Velhos latifundiários incrustados
na terra como ossos
de pavorosos animais,
supersticiosos herdeiros
da encomenda, imperadores
duma terra escura, fechada
com ódio e arame farpado.
Entre as cercas o estame
do ser humano foi afogado,
o menino foi enterrado vivo,
negou-se-lhe o pão e a letra,
foi marcado como inquilino
e condenado aos currais,
Pobre peão infortunado
entre as sarças, amarrado
à não-existência, à sombra
das pradarias selvagens.
Sem livro foste carne inerme,
e em seguida insensato esqueleto,
comptado de uma vida a outra,
rechaçado na porta branca
sem outro amor que uma guitarra
despedaçadora em sua tristeza
e o baile apenas aceso
com rajada molhada.
Não foi porém só nos campos
a ferida do homem, mais longe,
mais perto, mais fundo cravaram:
na cidade, junto ao palácio,
cresceu o cortiço leproso,
pululante de porcaria,
com a sua acusadora gangrena.
Eu vi nos agros recantos
de Talcahuano, nas encharcadas
cinzas dos morros,
ferver as pétalas imundas
da pobreza, a maçaroca
de corações degradados,
a pústula aberta na sombra
do entardecer submarino,
a cicatriz dos farrapos,
e a substância envelhecida
do homem hirsuto e espancado.
Eu entrei nas casas profundas,
como covas de ratos, úmidas
de salitre e de sal apodrecido,
vi seres famintos se arrastarem,
obscuridades desdentadas,
que procuravam me sorrir
através do ar amaldiçoado.
Me atravessaram as dores
de meu povo, se enredaram em mim
como aramados em minh'alma:
me crisparam o coração:
saí a gritar pelos caminhos,
saí a chorar envolto em fumo,
toquei as portas e me feriram
como facas espinhosas,
chamei os rostos impassíveis
que antes adorei como estrelas
e me mostraram seu vazio.
E então me fiz soldado:
número obscuro, regimento,
ordem de punhos combatentes,
sistema da inteligência,
fibra do tempo inumerável,
árvore armada, indestrutível
caminho do homem na terra.
E vi quantos éramos, quantos
estavam a meu lado, não eram
ninguém, eram todos os homens,
não tinham rosto, eram povo,
eram metal, eram caminhos.
E caminhei com os mesmos passos
da primavera pelo mundo.
Os mendigos
Junto às catedrais, atados
ao muro, carrearam
seus pés, seus vultos, seus olhos negros,
seus crescimentos lívidos de gárgulas,
suas latas andrajosas de comida,
e daí, da dura
santidade da pedra,
se fizeram flora da rua, errantes
flores de legais pestilências.
O parque tem seus mendigos
como suas árvores de torturadas
ramagens e raízes:
nos pés do jardim vive o escravo,
como no fim do homem, feito lixo,
aceitada sua impura simetria,
pronto para vassoura da morte.
A caridade o enterra
em seu buraco de terra leprosa:
serve de exemplo ao homem de meus dias.
Deve aprender a pisotear, a afogar
a espécie nos pântanos do desprezo,
a pôr os sapatos na frente
do ser com uniforme de vencido,
ou pelo menos deve compreendê-lo
nos produtos da natureza.
Mendigo americano, filho do ano
de 1948, neto
de catedrais, eu não te venero,
eu não vou colocar marfim antigo,
barbas de rei em tua escrita figura,
como te justificam nos livros,
eu vou te apagar com esperança:
não entrarás em meu amor organizado,
não entrarás em meu peito com os teus,
com os que te criaram cuspindo
tua forma degradada,
eu apartarei tua argila da terra
até que te construam os metais
e saias a brilhar como uma espada.
Os índios
O índio fugiu de sua pele ao fundo
de antiga imensidade de onde um dia
subiu como as ilhas: derrotado,
transformou-se em atmosfera invisível,
foi-se abrindo na terra, derramando
sua secreta marca sobre a areia.
Ele que gastou a lua, ele que penteava
a misteriosa solidão do mundo,
ele que não transcorreu sem erguer-se
em altas pedras coroadas de aragem,
ele que durou como a luz celeste
sob a magnitude de seu arvoredo,
gastou-se de repente até ser fio,
converteu-se em rugas,
esmiuçou suas torres torrenciais
e recebeu seu pacote de farrapos.
Eu o vi nas alturas imantadas
de Amatitlán, roendo as margens
da água impenetrável: andou um dia
sobre a majestade esmagadora
do monte boliviano, com seus restos
de pássaro e raiz.
Eu vi chorar
meu irmão de louca poesia,
Alberti, nos recintos araucanos,
quando o rodearam como a Ercilla
e eram, em lugar daqueles deuses rubros,
uma corrente de mortos cor de cardo.
Mais longe, na rede de água selvagem
da Terra do Fogo,
eu os vi subir, ó mestiços, desgrenhados,
às pirogas rotas
para mendigar o pão no oceano.
Aí foram matando cada fibra
de seus desérticos domínios,
e o caçador de índios recebia
notas sujas para trazer cabeças,
dos donos do ar, dos reis
da nevada solidão antártica.
Os que pagaram os crimes se sentam
hoje no Parlamento, matriculam
seus matrimônios nas presidências,
vivem com os cardeais e os gerentes,
e sobre a garganta apunhalada
dos donos do sul crescem as flores,
Já da Araucania os penachos
foram desbaratados pelo vinho,
puídos pela tasca,
enegrecidos pelos advogados
a serviço do roubo de seu reino,
e aos que fuzilaram a terra,
aos que nos caminhos defendidos
pelo gladiador deslumbrante
de nossa própria orla
entraram disparando e negociando,
chamaram “Pacificadores”
e lhes multiplicaram as dragonas.
Assim perdeu sem ver, assim invisível
foi para o índio o desmoronamento
de sua herdade; não viu os estandartes,
não lançou a girar a flecha ensangüentada,
apenas o roeram pouco a pouco,
magistrados, ratoneiros, abastados,
todos tomaram sua imperial doçura,
todos o enredaram na manta
até que o lançaram a sangrar
aos últimos lamaçais da América.
E das verdes lâminas, do céu
inumerável e puro da folhagem,
da imortal morada construída
com pétalas pesadas de granito,
foi conduzido à cabana rota,
ao árido esgoto da miséria.
Da sua fulgurante desnudez,
dourados peitos, pálida cintura,
ou dos ornamentos minerais
que uniram à sua pele todo o rocio,
foi levado até o fio do andrajo,
repartiram entre eles calças mortas
e assim passeou sua majestade remendada
pela brisa do mundo que foi seu.
Assim foi cometido este tormento.
O feito foi invisível como entrada
de traidor, como impalpável câncer,
até que foi humilhado o nosso pai,
até que o doutrinaram a fantasma
e entrou pela única porta que lhe abriram,
a porta de todos os outros pobres, a de todos
os chicoteados pobres desta terra.
Os juízes
Pelo alto Peru, por Nicarágua,
sobre a Patagônia, nas cidades,
não tiveste razão, não tens nada:
taça de miséria, abandonado
filho das Américas, não há
lei, não há juiz que te proteja
a terra, a casinhola com seus milhos.
Quando chegou a casta dos teus,
dos senhores teus, já esquecido
o sonho antigo de garras e facas,
veio a lei para despovoar teu céu,
para arrancar-te torrões adorados,
para discutir a água dos rios,
para roubar-te o reinado do arvoredo.
Te testemunharam, te puseram selos
na camisa, te forraram
o coração de folhas e papéis,
te sepultaram em éditos frios,
e quando despertaste na fronteira
da mais despenhada desventura,
despossuído, solitário, errante,
te deram calabouço, te amarraram,
te manietaram para que nadando
não saísses da água dos pobres,
mas te afogasses esperneando.
O juiz benigno te lê o inciso
número Quatro Mil, parágrafo Terceiro,
o mesmo usado em toda
a geografia azul que libertaram
outros que foram como tu e tombaram,
e te institui, por seu codicilo
e sem apelação, cão sarnento.
Diz teu sangue, como se entreteceram
o rico e a lei? Com que tecido
de ferro sulfuroso, como foram
caindo os pobres no julgado?
Como se fez a terra tão amarga
para os pobres filhos, duramente
amamentados com pedras e dores?
Assim foi e assim o deixo escrito.
As vidas escreveram-no na minha testa.
III
Os mortos da praça (28 de janeiro de 1946, Santiago do Chile)
Eu não venho chorar aqui onde tombaram:
venho a vós, acudo aos que vivem.
Acudo a ti e a mim e em teu peito bato.
Antes outros tombaram.
Lembras? Sim, lembras.
Outros que os mesmos nomes e sobrenomes tiveram.
Em San Gregorio, em Lonquimay chuvoso,
em Ranquil, derramados pelo vento,
em Iquique, enterrados na areia,
ao longo do mar e do deserto
ao longo da fumaça e da chuva,
dos pampas aos arquipélagos,
foram assassinados outros homens,
outros que se chamavam Antonio como tu
e que eram como tu pescadores ou ferreiros:
carne do Chile, rostos
cicatrizados pelo vento,
martirizados pelo pampa,
firmados pelo sofrimento.
Encontrei pelos muros da pátria,
junto à neve e sua cristalaria,
atrás do rio de ramagem verde,
debaixo do nitrato e da espiga,
uma gota de sangue de meu povo
e cada gota, como o fogo, ardia.
Os massacres
Mas aí o sangue foi escondido
atrás das raízes, foi lavado
e negado
(foi tão longe), a chuva do sul limpou a terra
(tão longe foi), o salitre o devorou no pampa:
e a morte do povo foi como sempre tem sido:
como se não morresse ninguém, nada,
como se fossem pedras que caem
sobre a terra, ou água sobre água.
De norte a sul, onde trituraram
ou queimaram os mortos,
foram nas trevas sepultados,
ou na noite queimados em silêncio,
acumulados numa escarpa
ou no mar cuspidos os seus ossos:
ninguém sabe onde estão agora,
não têm túmulo, estão dispersos
nas raízes da pátria
seus martirizados dedos:
são fuzilados seus corações:
o sorriso dos chilenos:
os valores do pampa:
os capitães do silêncio.
Ninguém sabe onde enterraram
os assassinos estes corpos,
porém sairão da terra
para cobrar o sangue derramado
na ressurreição do povo.
No meio da praça foi o crime.
Não escondeu o matagal o sangue puro
do povo, nem o tragou a areia do pampa.
Ninguém escondeu este crime.
O crime foi no meio da Pátria.
Os homens do nitrato
Eu estava no salitre, com os heróis obscuros,
com o que cava neve fertilizante e fina
na casca dura do planeta,
e apertei com orgulho suas mãos de terra.
Me disseram; “Olha,
irmão, como vivemos
aqui em `Humberstone', aqui em `Mapocho',
em `Ricaventura', em `Paloma',
em `Pan de Azúcar', em `Piojillo' “.
E me mostraram suas rações
de miseráveis alimentos,
seu piso de terra nas casas,
o sol, o pó, os percevejos,
e a solidão imensa.
Vi o trabalho dos raspadores,
que deixam afundada, no cabo
da madeira da pá,
a marca toda de suas mãos.
Escutei uma voz que vinha
do fundo estreito da escarpa,
como de um útero infernal,
e depois assomar em cima
uma criatura sem rosto,
uma máscara poeirenta
de suor, de sangue e pó.
E este me disse: “Aonde fores,
fala destes tormentos,
fala tu, irmão, de teu irmão
que vive embaixo, no inferno”.
A morte
Povo, aqui decidiste dar a tua mão
ao perseguido operário do pampa, e chamaste,
chamaste o homem, a mulher, a criança,
há um ano, até esta praça.
E aqui caiu teu sangue.
No meio da pátria foi vertido,
em frente ao palácio, no meio da rua,
para que todo o mundo o visse
e não pudesse limpá-lo ninguém,
e ficaram suas manchas vermelhas
como planetas implacáveis.
Foi quando mão e mão de chileno
alongaram seus dedos pelo pampa,
e com o coração inteiro
iria a unidade de suas palavras:
foi quando ias, povo, a cantar
uma velha canção com lágrimas,
com esperança e com dores:
veio a mão do verdugo
e empapou de sangue a praça!
Como nascem as bandeiras
Estão assim até hoje nossas bandeiras.
O povo as bordou com sua ternura,
coseu os trapos com seu sofrimento.
Cravou a estrela com sua mão ardente.
E cortou, de camisa ou firmamento,
azul para a estrela da pátria.
O vermelho, gota a gota, ia nascendo.
Eu os chamo
Um por um falarei com eles esta tarde.
Um por um, chegais à recordação,
esta tarde, nesta praça.
Manuel Antonio López,
camarada.
Lisboa Calderón,
outros te traíram, nós continuamos tua jornada.
Alejandro Gutiérrez,
o estandarte que caiu contigo
sobre toda a terra se levanta.
César Tapia,
teu coração está nestas bandeiras,
palpita hoje o vento da praça.
Filomeno Chávez,
nunca apertei a tua mão, mas aqui está a tua mão:
é uma mão pura que a morte não mata.
Ramona Parra, jovem
estrela iluminada,
Ramona Parra, frágil heroína,
Ramona Parra, flor ensangüentada,
amiga nossa, coração valente,
menina exemplar, guerrilheira dourada:
juramos em teu nome continuar esta luta
para que assim floresça teu sangue derramado.
Os inimigos
Aqui eles trouxeram os fuzis repletos
de pólvora, eles comandaram o acerbo extermínio,
eles aqui encontraram um povo que cantava,
um povo por dever e por amor reunido,
e a delgada menina caiu com a sua bandeira,
e o jovem sorridente girou a seu lado ferido,
e o estupor do povo viu os mortos tombarem
com fúria e dor.
Então, no lugar
onde tombaram os assassinados,
baixaram as bandeiras para se empaparem de sangue
para se erguerem de novo diante dos assassinos.
Por estes mortos, nossos mortos,
peço castigo.
Para os que salpicaram a pátria de sangue,
peço castigo.
Para o verdugo que ordenou esta morte,
peço castigo.
Para o traidor que ascendeu sobre o crime,
peço castigo.
Para o que deu a ordem de agonia,
peço castigo.
Para os que defenderam este crime,
peço castigo.
Não quero que me dêem a mão
empapada de nosso sangue.
Peço castigo.
Não vos quero como embaixadores,
tampouco em casa tranqüilos,
quero ver-vos aqui julgados,
nesta praça, neste lugar.
Quero castigo.
Estão aqui
Hei de chamar aqui como se aqui estivessem.
Irmãos: sabei que a nossa luta
continuará na terra.
Continuará na fábrica, no campo,
na rua, na salitreira.
Na cratera do cobre verde e rubro,
no carvão e sua terrível cova.
Estará a nossa luta em todas as partes,
e em nosso coração, estas bandeiras
que presenciaram vossa morte,
que se empaparam em vosso sangue,
serão multiplicadas como as folhas
da infinita primavera.
Sempre
Ainda que as passadas toquem mil anos este lugar,
não apagarão o sangue dos que aqui tombaram.
E não se extinguirá a hora em que tombastes,
ainda que milhares de vozes cruzem este silêncio.
A chuva há de empapar as pedras da praça,
mas não apagará vossos nomes de fogo.
Mil noites cairão com as suas asas escuras,
sem destruir o dia que esperam estes mortos.
O dia que esperamos ao longo do mundo
tantos homens, o dia final do sofrimento.
Um dia de justiça conquistada na luta,
e vós, irmãos tombados, em silêncio,
estareis conosco nesse vasto dia
da luta final, nesse dia imenso.
IV
Crônica de 1948 (América)
Ano ruim, ano de ratos, ano impuro!
Alta e metálica é a tua linha
na beira do oceano
e do ar, como um arame
de tempestades e tensão.
Porém, América, também és
noturna, azul e pantanosa:
lamaçal e céu, uma agonia
de corações esmagados
como negras laranjas estragadas
em teu silêncio de adega.
Paraguai
Desenfreado Paraguai!
De que serviu a lua pura
iluminando os papéis
da geometria dourada?
Para que serviu o pensamento
herdado das colunas
e dos números solenes?
Para este buraco oprimido
de sangue apodrecido, para
este fígado equinocial
arrebatado pela morte.
Para Moríñigo reinante,
sentado sobre as prisões
em seu açude de parafina,
enquanto as penas escarlates
dos colibris elétricos
voam e fulguram sobre
os pobres mortos da selva.
Mau ano, ano de rosas deterioradas,
ano de carabinas, mira, sob teus olhos
não te cegue
o alumínio do avião, a música
de sua velocidade seca e sonora:
mira teu pão, tua terra, tua multidão gasta,
tua estirpe rota!
Vês esse vale
verde e cinza do alta do céu?
Pálida agricultura, mineração
em farrapos, silêncio e pranto
corno a trigo, caindo
e nascendo
em uma eternidade malvada.
Brasil
Brasil, o Dutra, o pavoroso
Peru das terras quentes,
Engordado pelos amargos
Ramos do ar venenoso:
Sapo dos negros lameiros
De nossa lua americana:
Botões dourados, olhinhos
De rato cinzento arroxeado:
Ó Senhor, dos intestinos
De nossa pobre mãe faminta,
De tanto sonho e resplandescentes
Libertadores, de tanto
Suor sobre os buracos
Da mina, de tanta e tanta
Solidão pelas plantações,
América, ergues subitamente
A tua claridade planetária
Um Dutra arrancado ao fundo
De teus répteis, de tua surda
Profundidade e pré-história.
E assim foi!
Pedreiros
Do Brasil, golpeai a fronteira,
Pescadores, chorai a noite
Sobre as águas litorâneas,
Enquanto Dutra, com seus pequenos
Olhos de porco-do-mato,
Quebra a imprensa de machadinha,
Queima os livros na praça,
Encarcera, persegue e fustiga
Até que o silêncio se faz
Em nossa noite tenebrosa.
Cuba
Em cuba estão assassinando!
Já têm Jesús Menéndez
Num caixão recém-comprado
Ele saiu, como um rei, do povo,
e andou espiando raízes,
detendo os transeuntes,
batendo no peito dos adormecidos,
estabelecendo as idades,
compondo as almas partidas,
e levantando do açúcar
os sangrentos canaviais,
o suor que apodrece as pedras,
perguntando pelas cozinhas
pobres: quem és? quanto comes?,
tocando este braço, esta ferida,
e acumulando estes silêncios
numa única voz, a rouca
voz entrecortada de Cuba.
Assassinou-o um capitãozinho,
um generalzinho: num trem
lhe disse: vem, e pelas costas
fez fogo o generalzinho,
para que calasse a voz
rouca dos canaviais.
América Central
Mau ano, vês além da espessa
sombra de matagais a cintura
de nossa geografia?
Uma onda estrela,
como una favo, suas abelhas azuis
de encontro à cesta e voam os clarões
do duplo mar sobre a terra estreita.
.
.
Delgada terra como um látego,
açoitada como um tormento,
teu passo em Honduras, teu sangue
cm São Domingos, à noite,
teus olhos em Nicarágua,
me tocam, me chamam, me exigem,
e pela terra americana
toco as portas para falar,
toco as línguas amarradas,
levanto as cortinas, afundo
a mão dentro no sangue:
Oh, dores
de minha terra, oh, estertores
do grande silêncio estabelecido,
oh, povos de longa agonia,
oh, cintura de soluços.
Porto Rico
Mr.
Truman chega à ilha
de Porto Rico,
vem à água
azul de nossos mares puros
para lavar seus dedos sangrentos.
Acaba de ordenar a morte
de duzentos jovens gregos,
suas metralhadoras funcionam
estritamente,
cada dia
por suas ordens as cabeças
dóricas - uva e azeitona -,
olhos do mar antigo, pétalas
da corola corintiana,
tombam no pó grego.
Os assassinos
erguem a taça
doce de Chipre com os
peritos norte-americanos,
entre grandes gargalhadas, com
os bigodes gotejantes
de azeite frito e sangue grego.
Truman a nossas águas chega
para lavar as mãos vermelhas
de sangue longínquo.
Enquanto
decreta, prega e sorri
na universidade, em seu idioma,
fecha a boca castelhana,
cobre a luz das palavras
que ali circularam como um
rio de estirpe cristalina
e estatui: “Morte para a tua língua,
Porto Rico”.
Grécia
(O sangue grego
desce a esta hora.
Amanhece
nas colinas.
É um simples
arroio entre o pó e as pedras:
os pastores pisam o sangue
de outros pastores:
é um simples
fio delgado que desce
dos montes para o mar,
até o mar que ele conhece e canta.
)
.
.
.
A tua terra, a teu mar volta os olhos,
olha a claridade nas austrais
águas e neves, constrói o sol as uvas,
brilha o deserto, o mar do Chile surge
com sua linha ferida.
.
.
Em Lota estão as baixas minas
do carvão: é um porto frio,
do grave inverno austral, a chuva
cai e cai sobre os tetos, asas
de gaivotas cor de névoa,
e sob o mar sombrio o homem
cava e cava o recinto negro.
A vida do homem é escura
como o carvão, noite andrajosa,
pão miserável, duro dia.
Eu pelo mundo andei longamente,
porém jamais pelos caminhos
ou pelas cidades, jamais vi
homens mais maltratados.
Doze dormem num quarto.
As habitações têm
tetos de restos sem nome:
pedaços de latas, pedras,
papelões, papéis molhados.
Crianças e cães, no vapor
úmido da estação fria,
se juntam até se dar o fogo
da pobre vida um dia
será outra vez fome e trevas.
Os tormentos
Uma greve mais, os salários
Não dão, as mulheres choram
Nas cozinhas, os mineiros
Juntam uma a uma suas mãos
E sua dores.
É a greve
Dos que sob o mar escavaram,
Estendidos na cova úmida,
E extraíram com sangue e força
O torrão negro das minas.
Desta vez vieram soldados.
Arrebentaram suas casas, à noite,
E os conduziram para as minas
Como a um presídio e saquearam
A pobre farinha que guardavam,
O grão de arroz dos filhos.
Depois, batendo nas paredes,
Os exilaram, os afogaram,
Os encurralaram, marcando-os
Como bestas, e pelos caminhos
Num êxodo de dores,
Os capitães do carvão
Viram seus filhos expulsos,
Derrubadas suas mulheres,
E centenas de mineiros
Trasladados, encarcerados
Na Patagônia, no frio antártico,
Ou nos desertos de Pisagua.
O traidor
E por cima destas desventuras
Um tirano que sorria
Cuspindo nas esperanças
Dos mineiros traídos.
Cada povo com suas dores.
cada luta com seus tormentos,
mas vinde aqui dizer-me
se entre os sanguinários,
entre todos os desmandados
déspotas, coroados de ódio,
com cetros de látegos verdes,
foi algum como o do Chile?
Este traiu pisoteando
suas promessas e seus sorrisos,
este do asco fez o seu cetro,
este bailou sobre as dores
de seu pobre povo cuspido.
E quando nas prisões cheias
por seus desleais decretos
se acumularam olhos negros
de agravados e ofendidos,
ele dançava em Viña del Mar,
rodeado de jóias e taças.
Mas os olhos negros olham
através da noite negra.
Que fizeste tu? Não veio tua palavra
para o irmão das minas profundas,
para a dor dos atraiçoados,
não veio a ti a sílaba de chamas
para defender e clamar por teu povo?
Acuso
Acusei então o que havia
estrangulado a esperança,
chamei os rincões da América
e pus seu nome na cova
das desonras.
Então crimes
me reprocharam, a matilha
dos vendidos e alugados:
os “secretários do governo”,
os polícias, escreveram
com piche seu espesso insulto
contra mim, mas as paredes
miravam quando os traidores
escreviam com grandes letras
meu nome, e a noite apagava, com suas mãos inumeráveis,
mãos do povo e da noite,
a ignomínia que em vão
quiseram lançar em meu canto.
Foram à noite então queimar
minha casa (o fogo marca agora
o nome de quem os enviara),
e os juízes se uniram todos
para condenar-me, buscando-me,
para crucificar minhas palavras
e castigar estas verdades.
Fecharam as cordilheiras
do Chile para que eu não partisse
a contar o que aqui acontece,
e quando o México abriu suas portas
para receber-me e guardar-me,
Torres Bodet, pobre poeta,
ordenou que me entregassem
aos carcereiros furiosos.
Mas minha palavra está viva,
e meu livre coração acusa.
Que acontecerá? Que acontecerá? Na noite
de Pisagua, o cárcere, as cadeias,
o silêncio, a pátria envilecida,
e este mau ano, ano de ratazanas cegas,
este mau ano de ira e de rancores,
que acontecerá, perguntas, me perguntas?
O povo vitorioso
Está meu coração nesta luta.
Meu povo vencerá.
Todos os povos
vencerão, um por um.
Estas dores
se espremerão como lenços até
esmagar tantas lágrimas vertidas
em socavões do deserto, em túmulos,
em escalões do martírio humano.
Mas perto está o tempo vitorioso.
Que sirva o ódio para que não tremam
as mãos do castigo,
que a hora
chegue a seu horário no instante puro,
e o povo encha as ruas vazias
com suas frescas e firmes dimensões.
Aqui está minha ternura para então.
Vós a conheceis.
Não tenho outra bandeira.
V González Videla, o traidor do Chile (epílogo) (1949)
Das antigas cordilheiras saíram os verdugos,
como ossos, como espinhos americanos no hirsuto lombo
duma genealogia de catástrofes: estabelecidos foram,
enquistados na miséria de nossas povoações.
Cada dia o sangue manchou seus alamares.
Das cordilheiras como bestas ossudas
foram procriados por nossa argila negra.
Aqueles foram os sáurios tigres, os dinastas glaciais,
recém-saídos de nossas cavernas e de nossas derrotas.
Assim desenterraram os maxilares de Gómez
sob os caminhos manchados por cinqüenta anos de nosso sangue.
A besta escurecia as terras com suas costelas
quando depois das execuções retorcia os bigodes
junto ao embaixador norte-americano que lhe servia o chá.
Os monstros envileceram, mas não foram vis.
Agora no rincão que a luz reservou à pureza,
na nevada pátria branca de Araucania,
um traidor sorri sobre um trono apodrecido.
Em minha pátria preside a vileza.
É González Videla a ratazana que sacode
o seu pelame cheio de esterco e de sangue
sobre a terra minha que vendeu.
Cada dia
tira de seus bolsos as moedas roubadas
e pensa se amanhã venderá terras ou sangue.
Tudo traiu.
Subiu como um rato aos ombros do povo
e dali, roendo a bandeira sagrada
de meu país, ondula sua cauda roedora
dizendo ao abastado, ao estrangeiro, dono
do subsolo do Chile: “Bebei o sangue todo
deste povo, eu sou o mordomo dos suplícios”.
Triste clown, miserável
mescla de mono e rato, cujo rabo
penteiam em Wall Street com pomada de ouro,
não passarão os dias sem que caias do galho
e passes a ser o montão de imundície evidente
que o transeunte evita pisar nas esquinas!
Assim foi.
A traição foi governo do Chile.
Um traidor deixou seu nome em nossa história.
Judas arvorando dentes de caveira
vendeu o meu irmão,
deu veneno a minha pátria,
fundou Pisagua, demoliu nossa estrela,
cuspiu nas cores duma bandeira pura.
Gabriel González Videla.
Aqui deixo seu nome,
para que, quando o tempo haja apagado
a ignomínia, quando minha pátria limpar
seu tosto iluminado pelo trigo e pela neve,
mais tarde, os que aqui buscarem a herança
que nestas linhas deixo como uma brasa verde
encontrem também o nome do traidor que trouxe
a taça de agonia que rechaçou o meu povo.
Meu povo, povo meu, ergue teu destino!
Rompe o cárcere, abre os muros que te encerram!
Esmaga o passo torvo da ratazana que comanda
do palácio: ergue tuas lanças à aurora,
e no mais alto deixa que a tua estrela iracunda
fulgure, iluminando os caminhos da América.

Eu passeava à hora mais movimentada, na parte baixa da cidade.
Era a minha cidade, a cidade onde vivo, de que tão bem conheço as ruas e casas, os labirintos, os nomes, a secreta matemática dos fluxos e refluxos, as temperaturas.
Não é preciso ser estrangeiro — tomar comboios ou aviões, atravessar as águas.
O inferno é o último segredo do nosso conhecimento quotidiano.
A multidão andava de um lado para outro, era primavera.
A luz varria o ar.
Eu olhava as pessoas envolvidas exaltantemente por essa luz pura.
Pensava no corpo das pessoas, a alegria fervia dentro dos corpos — via-se isso.
A alegria passava de dentro dos corpos para fora, para os vestidos e fatos — e as ruas e prédios pareciam levitar.
Eu procurava palavras, para oferecer às alegrias das coisas, e uma palavra para a geral alegria do mundo.
Estava a olhar uma mulher, segui-a um pouco pela rua principal da cidade, vi-a desaparecer numa tabacaria.
Hesitei, parei à porta, estive a examinar as revistas expostas na entrada.
Via a mancha branca da mulher, lá dentro, junto ao balcão.
Pensava nos nomes.
Ocorriam-me: Corpo — Idade do Ouro — Liberdade.
De repente, eu recuperara a inocência.
Pensei: o saber doloroso dos anos, as mortes dia a dia, a profundeza das noites onde se acumularam todos os silêncios desembocam aqui, quase inexplicavelmente, nesta inocência que me faz tremer.
Nas capas das revistas havia cores explosivas, primitivas.
As letras saltavam como pequenos animais cheios de respiração e circulações de sangue.
Entrei na tabacaria e surpreendi-me por lá não ver a mulher.
Pensei: saiu sem que eu desse por isso.
Mas eu já perdera a inocência.
É assim: por uma distracção, por querer olhar para todos os lados da inocência, a gente perde a inocência.
Comprei cigarros, saí.
Mas as capas das revistas já não eram as mesmas.
Estavam mortas e sobre elas respirava agora ferozmente um alfabeto sombrio e indecifrável.
Salvação, pensei, preciso salvar-me, preciso ressuscitar no meio desta cidade branca, elevar-me aos nomes justos, ao conhecimento dos corpos ambulatórios.
Mas aquela rua não era já a rua principal da cidade de que eu conhecia a matemática e a meteorologia, as imagens e os altos sons vivos.
Andei pela rua, olhando os rostos desconhecidos, e as vozes diziam palavras de uma língua estrangeira.
Em que cidade de que país deambulava um homem perdido, de súbito órfão dos seres e das coisas, dos vocabulários e gestos — órfão do seu contexto diário?
E voltei atrás, procurando a mesma tabacaria, uma referência no caos — um ponto sólido neste espaço inimigo.
Mas já nada reconhecia, e a tabacaria em que entrei era diferente da outra.
Ao fundo havia uma porta onde me pareceu ver escrita, na minha língua, a palavra: ENTRE.
E então entrei.
Atravessei um corredor, desci escadas, percorri novos corredores, e uma exaltação maligna obrigava-me a um enredamento cada vez mais desesperado em escadas e corredores.
Sim, os labirintos sempre me fascinaram.
E de novo a alegria, mas agora uma espécie de alegria negra, brotava não sei de que obscuros lugares da minha já grande idade.
Porque, pensando, eu era velho, velho, os meus anos acumulavam-se num tempo indeciso, e estavam cheios de coisas monstruosas.
Encontrava-me eu então num subterrâneo de pedra, cercado de prateleiras onde se alinhavam muitos recipientes de forma rectangular.
Nesse instante revelou-se-me o verdadeiro silêncio.
Não aquela pausa feita para se reconhecer o valor da voz que parou ou que se erguerá, mas um silêncio sem vozes antes ou depois: o silêncio.
Contudo, alguma coisa riscava esse silêncio.
Parecia-me o ruído de pequenas rodas metálicas no chão de pedra.
Uma enfermeira empurrava um carrinho de criança e, quando se aproximou de mim, vi que sobre o carrinho estava colocado um recipiente igual aos que se encontravam nas prateleiras.
Um ser inqualificável metido em gelo, ele próprio uma vaga forma azulada, congelada, com escamas, uma espécie de peixe.
Estava na caixa rectangular.
Apenas a cabeça fora relativamente salvaguardada.
Tinha guelras, sim, e a boca era uma boca de peixe desesperado — uma boca que quisesse falar, não pudesse falar.
A boca abria-se e fechava-se, sim, como a de um peixe fora de água, as guelras batiam.
Procuravam o idioma, a água.
Alguma coisa fora salvaguardada.
Era uma cabeça quase humana.
Havia o cabelo, os olhos aterrorizados, a testa nobre dos homens.
E então gritei: não — gritei: não, não.
Porque eu sabia: aquilo era a loucura.
Com uma facilidade extraordinária, a mulher levantou o recipiente do carrinho e arrumou-o numa prateleira.
Agora chegavam enfermeiras de todos os lados, empurrando carrinhos.
Ouvia-se o bater das bocas e das guelras dos peixes.
Eu procurava fugir, mas estava cercado pelos muros de pedra, não havia portas.
Via aqueles paralelepípedos de gelo em que seres fusiformes batiam a boca sem voz.
Não, não.
Mas uma das enfermeiras solicitava-me doce e energicamente.
Era persuasiva, a enfermeira.
E eu meti-me dentro do recipiente onde a água principiava a gelar.
O meu corpo transformava-se no de um peixe, sentia escamas nascerem na carne, formarem-se dentro de mim e rebentarem para fora, duras, frias, azuladas, insensíveis.
A intensidade do corpo diminuía, diminuía.
Mal o sentia, agora.
Não, pensava ainda, mas a carne mergulhara no gelo, e eu não tinha braços e pernas, nem tinha coxas, nem pénis, nem ventre, nem peito.
Só a cabeça saía do pescoço de gelo, a boca batia desalmadamente, sem linguagem.
Eu estava morto, e toda a antiga intensidade das mãos, dos pés, do sexo e do coração — todo o fogo dos órgãos trepidantes subira à cabeça.
Eu estava morto, mas atrozmente vivo pela cabeça — pensando a uma velocidade terrível, com força, com muita força.
Encerrado num subterrâneo, numa caixa de gelo, batendo a boca de peixe, sem um só nome para a louca e brutal multiplicidade dos pensamentos, com toda a minha delirante inteligência, sob o doce sorriso de uma enfermeira antisséptica.

nos baús familiares
um perdido testamento.
Encontro cartas, provérbios em Esperanto,
pensamentos de Raumsol e a caligrafia de meu pai.
Homem de fé, rezava nos cemitérios.
Expulsou demônios em Uberlândia
e alta madrugada enfrentou o diabo
cara a cara em Carangola.
Nenhum dos filhos a tempo o entendeu.
Mas ele, esperantista,
esperava as cartas da Holanda,
as vacas gordas de José,
e o fim da Torre de Babel.
Meu pai, cidadão do mundo,
pobre professor de Esperanto
à beira do Paraibuna.
Lia, lia, lia. Havia sempre
um livro em sua mão.
E chegavam missivas
e selos fraternais
– mia caro samiedano –
Polônia, China,
Bélgica e Japão.
Maçom, grau 33,
letra caprichosa,
bordava atas da confraria,
falava-nos de bodes e caveiras,
liturgias impenetráveis
e um dia trouxe-nos a espada
que entre os maçons usava.
Aos domingos, à mesa
refastelava-se de Salmos:
lia os mais compridos
ante a fria macarronada,
mas sua flauta domingueira
apascentava meu desejo
de pecar lá no quintal
e arrebanhava as dívidas
despertas na segunda-feira.
Esteve em três revoluções.
Não sei se dava tiros
e medalhas nunca foi buscar.
Capitão de milícias
aposentado por desacato ao superior
discutia política sem muito empenho.
Votava com os pobres: PTB-PSD.
Tio Ernesto era udenista
e cobrava-lhe rigor.
Levou-me a ver Getúlio
num desfile militar.
No bolso, uma carta
expondo ao Presidente
penosa situação:
injustiças militares,
necessidade de abono
e pedia uma pasta de livros
pro meu irmão.
Isto posto, era capaz de esperar
semanas e meses
sem desconfiar, que ao chorar
ouvindo novelas
da Rádio Nacional
era ele próprio personagem,
porque se, como diz García Márquez,
ninguém escreve ao coronel,
o ditador jamais escreveria ao capitão.
Noivo contrariado,
fugiu com minha mãe
e com ela trocou cartas, que vi,
escritas com o próprio sangue.
Brigou com um carroceiro
que chicoteava uma besta
diante de nossa porta.
E quando a tarde crepusculava,
tomava a filha paralítica no colo
passeando seu calvário pelas ruas
do interior.
Certa vez, como os irmãos
pusessem em mim trinta apelidos
querendo me degradar
chamando-me de “guga”
“tora”, “manduca” e “júpiter”,
certa noite, notando-me a tristeza
levou-me pro quintal
entre couves e chuchus:
mostrou-me Júpiter, a enorme estrela
e outras constelações: peixes
touros, centauros, ursas maiores e menores
tudo a brilhar em mim
estrelas que com ele eu distinguia
e desde aquela noite
nunca mais pude encontrar.

Chegam pelas ilhas (1493)
Os carniceiros desolaram as ilhas.
Guanahaní foi a primeira
nesta história de martírios.
Os filhos da argila viram partido
seu sorriso, ferida
sua frágil estatura de gamos,
e nem mesmo na morte entendiam.
Foram amarrados c feridos,
foram queimados e abrasados,
foram mordidos e enterrados.
E quando o tempo deu sua volta de valsa
dançando nas palmeiras,
o salão verde estava vazio.
Só ficavam ossos
rigidamente colocados
em forma de cruz, para maior
glória de Deus e dos homens.
Das gredas ancestrais
e da ramagem de sotavento
até as agrupadas coralinas
foi cortando a faca de Narváez.
Aqui a cruz, ali o rosário,
aqui a Virgem do Garrote.
A jóia de Colombo, Cuba fosfórica,
recebeu o estandarte e os joelhos
em sua areia molhada.
II Agora é Cuba
E foi logo o sangue e a cinza.
Depois ficaram as palmeiras sozinhas.
Cuba, meu amor, te amarraram ao potro,
te cortaram a cara,
te apartaram as pernas de ouro pálido,
te partiram o sexo de romã,
te atravessaram de facas,
te dividiram, te queimaram.
Pelos vales da doçura
desceram os exterminadores,
e nos altos montes a cimeira
de teus filhos se perdeu na névoa,
mas ali foram atingidos
um por um até a morte,
despedaçados no tormento
sem sua terra tépida de flores
que fugia sob os seus pés.
Cuba, meu amor, que calafrio
te sacudiu de espuma a espuma,
até que te fizeste pureza,
solidão, silêncio, mato,
e os ossinhos de teus filhos
fossem disputados pelos caranguejos.
III
Chegam ao Mar do México (1519)
A Veracruz vai o vento assassino.
Em Veracruz desembarcaram os cavalos.
As barcas vão atochadas de garras
e barbas vermelhas de Castela.
São Arias, Reyes, Rojas, Maldonados,
filhos do desamparo castelhano,
conhecedores da fome no inverno
e dos piolhos nos albergues.
Que olham debruçados nos navios?
Quanto do que vem e do perdido
passado, do errante
vento feudal na pátria açoitada?
Não deixaram os portos do sul
para colocar as mãos do povo
no saque e na morte:
eles enxergam terras verdes, liberdades,
cadeias rompidas, construções,
e do alto do navio as ondas que se extinguem
sobre as costas do compacto mistério.
Iriam morrer ou reviver atrás
das palmeiras no ar quente
que, como um forno estranho, a total baforada
para eles dirigem as terras abrasadoras?
Eram povo, cabeças hirsutas de Montiel,
mãos duras e quebradas de Ocaña e Piedrahita,
braços de ferreiros, olhos de meninos
a mirar o sol terrível e as palmeiras.
A fome antiga da Europa, fome como a cauda
dum planeta mortal, povoava o brigue,
a fome lá estava, desmantelada,
errante machado frio, madrasta
dos povos, a fome lança os dados
na navegação, sopra as velas:
“Mais além, senão te como, mais além,
senão regressas
à mãe, ao irmão, ao juiz e ao cura,
aos inquisidores, ao inferno, à peste.
Mais além, mais além, longe do piolho
do chicote feudal, do calabouço,
das galeras cheias de excremento”.
E os olhos de Núñez e Bernales
fixavam na ilimitada
luz o repouso,
uma vida, outra vida,
a inumerável e castigada
família dos pobres do mundo.
IV
Cortés
Cortés não tem povo, é raio frio,
coração morto na armadura.
“Ferazes terras, meu Senhor e Rei,
templos em que o ouro, coalhado
está por mãos de índio.
”
E avança mergulhando punhais, ferindo
as terras baixas, as escarvantes
cordilheiras dos perfumes,
parando a sua tropa entre orquídeas
e coroações de pinheiros,
atropelando os jasmins,
até as portas de Tlaxcala.
(Irmão aterrado, não tomes
por amigo o abutre cor-de-rosa:
do musgo te falo, das
raízes de nosso reino.
Vai chover sangue amanhã,
as lágrimas serão capazes
de formar névoa, vapor, rios,
até derreteres os teus olhos.
)
Cortés recebe uma pomba,
recebe um faisão, uma cítara
dos músicos do monarca
mas quer a câmara do ouro,
quer mais um passo e tudo cai
nas arcas dos vorazes.
O rei assoma aos balcões:
“É meu irmão”, diz.
As pedras
do povo voam respondendo,
e Cortés afia punhais
sobre os beijos traídos.
Volta a Tlaxcala, o vento trouxe
um surdo rumor de dores.
V
Cholula
Em Cholula os jovens vestem
seu melhor tecido, ouro e plumagens,
e calçados para o festival
interrogam o invasor.
A morte lhes deu resposta.
Lá estão milhares de mortos.
Corações assassinados
que ali palpitam estendidos
e que, na úmida furna que abriram,
guardam o fio daquele dia.
(Entraram matando a cavalo,
cortaram a mão que fazia
a homenagem de ouro e flores,
fecharam a praça, cansaram
os braços até o arrocho,
matando a flor do reinado,
metidos até os cotovelos no sangue
de meus irmãos surpreendidos.
)
VI
Alvarado
Alvarado, com garras e facas,
caiu sobre as choupanas, arrasou
o patrimônio do ourives,
raptou a rosa nupcial da tribo,
agrediu raças, prédios, religiões,
foi a caixa caudal dos ladrões,
o falcão clandestino da morte.
Até o grande rio verde, o Papaloapan,
rio das Borboletas, foi mais tarde
levando sangue em seu estandarte.
O grave rio viu os seus filhos
morrerem ou sobreviverem escravos,
viu arder nas fogueiras perto d'água
raça e razão, cabeças juvenis.
Mas não se esgotaram as dores
como à sua passagem endurecida
para novas capitanias.
VII
Guatemala
Guatemala, a doce, cada laje
de tua mansão leva uma gota
de sangue antigo devorado
pelo focinho dos tigres.
Alvarado massacrou tua estirpe,
violou as estrelas austrais,
espojou-se em seus martírios.
Em Yucatán entrou o bispo
atrás dos pálidos tigres.
Reuniu a sabedoria
mais profunda ouvida no ar
do primeiro dia do mundo,
quando o primeiro maia escreveu
anotando o tremor do rio,
a ciência do pólen, a ira
dos Deuses do Envoltório,
as migrações através
dos primeiros universos,
as leis da colméia,
o segredo da ave verde,
o idioma das estrelas,
segredos do dia e da noite
colhidos nas margens
da evolução terrestre!
VIII
Um bispo
O bispo ergueu o braço,
queimou os livros na praça
em nome de seu Deus pequeno
tornando em fumaça as velhas folhas
gastas pelo tempo escuro.
E a fumaça não volta do céu.
IX
A cabeça num pau
Balboa, morte e garra
levaste aos rincões da doce
terra central, e entre os cães
caçadores, o teu era a tua alma:
leãozinho de beiço sangrento
apanhou o escravo que fugia,
enfiou caninos espanhóis
nas gargantas palpitantes,
e das, unhas dos cachorros
saía a carne para o martírio
e a jóia caía na bolsa.
Malditos sejam cão e homem,
o uivo infame na selva
original, a desafiante
passagem de ferro do bandido.
Maldita seja a espinhenta
Coroa da sarça agreste
que não saltou como um ouriço
para defender o berço invadido.
Mas entre os capitães
sangüinários se ergueu na sombra
a justiça dos punhais,
o acerbo ramo da inveja.
No regresso estava a meio
de teu caminho o apelido
de Pedrarias qual uma corda.
Te julgaram entre os latidos
de cães matadores de índios.
Agora que morres, ouves
o silêncio puro, partido
por teus lebréus açulados?
Agora que morres nas mãos
dos torvos chefes,
sentes o aroma dourado
do reino destruído?
Quando cortaram a cabeça
de Balboa, ficou enfiada
num pau.
Seus olhos mortos
decompuseram seu relâmpago
e rolaram pela lança
numa grande gota de imundice
que desapareceu na terra.
X
Homenagem a Balboa
Descobridor, o vasto mar, minha espuma,
latitude da lua, império da água,
depois de séculos te fala pela minha boca.
Tua plenitude chegou antes da morte.
Ergueste até o céu a fadiga,
e da noite dura das árvores
conduziu-te o suor até a beira
da soma do mar, do grande oceano.
Em teu olhar se fez o matrimônio
da luz estendida e do pequeno
coração do homem, encheu-se a taça
jamais antes erguida, uma semente
de relâmpagos chegou contigo
e um trovão torrencial encheu a terra.
Balboa, capitão, quão diminuta
a tua mão na viseira, misterioso
boneco do sal descobridor,
noivo da oceânica doçura,
filho do novo útero do mundo.
Por teus olhos entrou como um galope
de flores de laranjeira o aroma escuro
da roubada majestade marinha,
caiu em teu sangue uma aurora arrogante
até povoar-te a alma, possesso!
Quando voltaste às terras rudes,
sonâmbulo do mar, capitão verde,
eras um morto que esperava
a terra para receber os teus ossos.
Noivo mortal, a traição cumpria-se.
Não em vão pela história
entrava o crime espezinhado, o falcão devorava
seu ninho e se juntavam as serpentes
que se atacavam com línguas de ouro.
Entraste no crepúsculo frenético
e os passos perdidos que levavas,
ainda empapado de profundidades,
vestido de fulgor e desposado
pela maior espuma, te traziam
às praias de outro mar: a morte.
XI
Dorme um soldado
Extraviado nas fronteiras espessas
chegou o soldado.
Era total fadiga
e caiu entre os cipós e as folhas
ao pé do grande deus emplumado:
este
estava só com o seu mundo mal
surgido da selva.
Olhou o soldado,
estranho nascido do oceano.
Olhou seus olhos, sua barba sangrenta,
sua espada, o brilho negro
da armadura, o cansaço tombado
como bruma sobre essa cabeça
de menino carniceiro.
Quantas zonas
de obscuridade para que o Deus de Pluma
nascesse e enroscasse seu volume
sobre os bosques, na pedra rosada,
quanta desordem de águas loucas
e de noite selvagem, o transbordado
leito da luz sem nascer, o fermento raivoso
das vicias, a destruição, a farinha
da fertilidade e logo a ordem.
a ordem da planta e da seita,
a elevação das rochas cortadas.
a fumaça das lâmpadas rituais,
a firmeza do solo para o homem,
a fundação das tribos,
o tribunal dos deuses terrestres.
Palpitou cada escama da pedra,
Sentiu o pavor que tombou
Como uma invasão de insetos,
Recolheu todo o seu poderio,
fez chegar a chuva às raízes,
falou com as correntezas da terra,
escuro em sua vestimenta
de pedra cósmica imobilizada,
e não pôde mover nem garras nem dentes,
nem rios, nem tremores.
nem meteoros que silvaram
na abóbada do reinado,
e ali ficam, pedra imóvel, silêncio,
enquanto Beltrán de Córdoba dormia.
XII
Ximénez de Quesada (1536)
Tá vão, já vão, já chegam,
coração meu, olha as naus,
as naus pelo Magdalena,
as naus de Gonzalo Jiménez
já chegam, já chegam as naus,
detém-nas, rio, fecha
tuas margens devoradoras,
submerge-as em teu palpitar,
arrebata-lhes a cobiça,
lança-lhes tua trompa de fogo,
teus vertebrados sanguinários,
tuas enguias comedoras de olhos,
atravessa o jacaré espesso
com os seus dentes cor de lodo
c sua primitiva armadura,
estende-o como ponte
sobre tuas águas arenosas,
dispara o fogo do jaguar
do alto das árvores, nascidas
de tuas sementes, rio mãe,
atira-lhes moscas de sangue,
cega-os com estercos negro,
afunda-os em teu hemisfério,
submete-os entre as raízes
na escuridão de teu leito,
apodrece-lhes o sangue todo
devorando-lhes os pulmões
e os lábios com teus caranguejos.
Já entraram na floresta:
já roubam, já mordem, já matam.
Ó Colômbia! Defende o véu
de tua secreta selva rubra.
Já ergueram o punhal
sobre o oratório de Iraka,
agora agarram o cacique,
agora o amarram.
“Entrega
as jóias do deus antigo”,
e brincavam com o orvalho
da manhã da Colômbia.
Agora atormentam o príncipe.
Degolaram-no, sua cabeça
me espia com olhos que ninguém
pode fechar, olhos amados
de minha pátria verde e nua.
Agora queimam a casa solene,
agora seguem os cavalos,
os tormentos, as espadas,
agora restam umas brasas
e entre as cinzas os olhos
do príncipe que não se fecharam.
XIII
Encontro de corvos
No Panamá uniram-se os demônios.
Foi aí o pacto dos furões.
Uma vela apenas iluminava
quando os três chegaram por um.
Primeiro chegou Almagro antigo e torto,
Pizarro, o velho porcino
e o frade Luque, cônego entendido
em trevas.
Cada um
escondia o punhal para as costas
do associado, cada um
com ensebado olhar nas escuras
paredes adivinhava sangue,
e o ouro do longínquo império os atraía
como a lua às pedras malditas.
Quando pactuaram, Luque ergueu
a hóstia na eucaristia,
os três ladrões amassaram
a obréia com torvo sorriso.
“Deus foi dividido, irmãos,
entre nós”, garantiu o cônego,
e os carniceiros de dentes
roxos disseram “Amém”.
Bateram na mesa cuspindo.
Como não sabiam de letras
encheram de cruzes a mesa,
o papel, os bancos, os muros.
O Peru, escuro, submerso,
estava marcado de cruzes,
pequenas, negras, negras cruzes
pelo sul saíram navegando:
cruzes para as agonias,
cruzes peludas e afiadas,
cruzes com ganchos de réptil,
cruzes salpicadas de pústulas,
cruzes como pernas de aranha,
sombrias cruzes caçadoras.
XIV
As agonias
Em Cajamarca começou a agonia.
O jovem Atahualpa, estame azul,
árvore insigne, ouviu o vento
trazer rumor de aço.
Era um confuso
brilho e tremor desde a costa,
um incrível galope
- patear e poderio -
de ferro e ferro entre a relva.
Chegaram os capitães.
O Inca saiu da música
rodeado pelos senhores.
As visitas
de outro planeta suadas e barbudas,
iam prestar reverência.
O capelão
Valverde, coração traidor, chacal podre,
avança um estranho objeto, um pedaço
de cesto, um fruto
talvez daquele planeta
de onde vieram os cavalos.
Atahualpa o segura.
Não sabe
de que se trata: não brilha, não soa,
e o deixa cair sorrindo.
“Morte,
vingança, matai, que vos absolvo”,
grita o chacal da cruz assassina.
O trovão acode aos bandoleiros.
Nosso sangue em seu berço é derramado.
Os príncipes rodeiam como um coro
o Inca, na hora agonizante.
Dez mil peruanos caem
debaixo de cruzes e espadas, o sangue
molha as vestimentas de Atahualpa.
Pizarro, o porco cruel de Extremadura,
faz amarrar os delicados braços
do Inca.
A noite desceu
sobre o Peru como brasa negra.
XV
A linha avermelhada
Mais tarde ergueu a fatigada
mão o monarca, e acima
das caras dos bandidos,
tocou os muros.
Aí traçaram
a linha avermelhada.
Três câmaras
era preciso encher de ouro e prata,
até essa linha de seu sangue.
Rodou a roda de ouro, noite e noite.
A roda do martírio dia e noite.
Arranharam a terra, retiraram
jóias feitas com amor e espuma,
arrancaram o bracelete da noiva,
desampararam os seus deuses.
O lavrador entregou a sua medalha,
o pescador sua gota de ouro,
e as relhas tremeram respondendo
enquanto voz e mensagem nas alturas
ia a roda de ouro rodando.
Aí tigre e tigre se juntaram
e repartiram o sangue e as lágrimas.
Atahualpa esperava levemente
triste no escarpado dia andino.
Não se abriram as portas.
Até a última
jóia os abutres dividiram:
as turquesas rituais, salpicadas
pela carnificina, o vestido
laminado de prata: as unhas bandoleiras
iam medindo e a gargalhada
do frade entre os verdugos
o rei escutava com tristeza.
Era seu coração um vaso cheio
de uma angústia amarga como
a essência amarga da quina.
Pensou em suas fruteiras, no alto Cuzco,
nas princesas, em sua idade,
no calafrio de seu reino.
Maduro estava por dentro, sua paz
desesperada era tristeza.
Pensou em Huáscar.
Viriam dele os estrangeiros?
Tudo era enigma, tudo era faca.
Tudo era solidão, só a linha rubra
palpitava vivente,
tragando as entranhas amarelas
do reino emudecido que morria.
Entrou Valverde então com a morte.
“Te chamarás Juan”, lhe disse
enquanto preparavam a fogueira.
Gravemente respondeu: “Juan,
Juan me chamo até morrer”,
já sem compreender nem mesmo a morte.
Ataram-lhe o pescoço e um gancho
penetrou na alma do Peru.
XVI
Elegia
Só, nas soledades
quero chorar como os rios, quero
escurecer, dormir
como tua antiga noite mineral.
Por que chegaram as chaves radiantes
até às mãos do bandido? Levanta-te,
materna Oello, descansa teu segredo
na fadiga longa desta noite
e deita em minhas veias teu conselho.
Não te peço ainda o sol do Yupanquis.
Te falo adormecido, chamando
de terra a terra, mãe
peruana, matriz, cordilheira.
Como entrou em teu arenoso recinto
a avalanche dos punhais?
Imóvel em tuas mãos,
sinto estenderem-se os metais
nos canais do subsolo.
Estou feito de tuas raízes,
mas não entendo, não me entrega
a terra a sua sabedoria.
Vejo apenas noite e noite
sob as terras estreladas.
Que sonho sem sentido, de serpente,
arrastou-se até a linha avermelhada?
Olhos do luto, planta tenebrosa.
Como chegaste a este vento vinagre,
como entre os penhascos da ira
não ergueu Capac a sua tiara
de argila deslumbrante?
Deixai-me sob os pavilhões
padecer e afundar-me como
a raiz curta que não dará esplendor.
Sob a dura noite dura
descerei pela terra até chegar
à boca do ouro.
Quero estender-me na pedra noturna.
Quero chegar aí com a desgraça.
XVII
As guerras
Mais tarde ao Relógio de Granito
chegou uma chama incendiária.
Almagros e Pizarros e Valverdes,
Castillos e Urías e Beltranes
se apunhalaram repartindo
as traições adquiridas,
se roubavam a mulher e o ouro,
disputavam a dinastia.
Enforcavam-se nos currais,
debulhavam-se na praça,
agarravam-se aos Cabildos.
Tombava a árvore do saque
entre estocadas e gangrena.
Desse galope de Pizarros
nos territórios linhosos
nasceu um silêncio estupefato.
Estava tudo cheio de morte
e sobre a agonia arrasada
de seus filhos desventurados,
no território (roído
até os ossos pelas ratazanas),
sujeitavam-se as entranhas
antes de matar e se matarem.
Magarefes de cólera e força,
centauros tombados na lama
da cobiça, ídolos
partidos pela luz do ouro,
exterminastes vossa própria
estirpe de unhas sanguinárias
e junto às rochas murais
do alto Cuzco coroado.
diante do sol de espigas mais altas,
representastes no pó
dourado do Inca, o teatro
dos infernos imperiais:
a Rapina de focinho verde,
a Luxúria azeitada em sangue,
a Cobiça de unhas de ouro,
a Traição, avessa dentadura,
a Cruz como um réptil rapace,
a Forca mm fundo de neve,
e a Morte fina como o ar
imóvel em sua armadura.
XVIII Descobridores do Chile
Do norte trouxe Almagro sua rugosa centelha.
E sobre o território, entre explosão e ocaso,
inclinou-se dia e noite como sobre uma carta
Sombra de espinhos, sombra de cardo e cera,
o espanhol reunido com a sua seca figura,
mirando as sombrias estratégias do solo.
Noite, neve e areia fazem a forma
de minha pátria delgada,
todo o silêncio está em sua longa linha,
toda a espuma sai de sua barba marinha,
todo o carvão a enche de beijos misteriosos.
Como brasa o ouro arde em seus dedos
e a prata ilumina como lua verde
sua endurecida forma de tétrico planeta.
O espanhol sentado junto à rosa um dia,
junto ao azeite, junto ao vinho, junto ao antigo céu,
não imaginou este ponto de colérica pedra
nascer sob o esterco da águia marinha.
XIX
A terra combatente
Primeiro resistiu a terra.
A neve araucana queimou
como uma fogueira de brancura
a marcha dos invasores.
Caíam de frio os dedos,
as mãos, os pés de Almagro
e as garras que devoraram
e sepultaram monarquias
eram na neve um ponto
de carne gelada, eram silêncio.
Foi no mar das cordilheiras.
O ar chileno chicoteava
marcando estrelas, derrubando
cobiças e cavalarias.
Cedo, a fome andou atrás
de Almagro como invisível
mandíbula que atacava.
Os cavalos eram comidos
naquela festa glacial.
E a morte do sul debulhou
o galope dos Almagros,
até que voltou seu cavalo
para o Peru, onde esperava
o descobridor rechaçado,
a morte do norte, sentada
no caminho, com um machado.
XX
Unem-se a Terra e o Homem
Araucania ramo de carvalhos torrenciais,
c5 Pátria despiedosa, amada escura,
solitária em teu reino chuvoso:
eras apenas gargantas minerais,
mãos de frio, punhos
acostumados a cortar penhascos,
eras, Pátria, a paz da dureza
e teus homens eram rumor,
áspera aparição, vento bravio.
Não tiveram os meus pais araucanos
elmos de plumagem luminosa,
não descansaram em flores nupciais,
não fiaram ouro para o sacerdote:
eram pedra e árvore, raízes
dos matagais sacudidos,
folhas com forma de lança,
cabeças de metal guerreiro.
Pais, apenas levantastes
a orelha ao galope, apenas no cimo
dos montes, cruzou
o raio de Araucania.
Tornaram-se sombra os pais de pedra,
ataram-se ao bosque, às trevas
naturais, tornaram-se luz de gelo,
asperezas de terras e espinhos,
e assim esperaram nas profundezas
da solidão indomável:
um era uma árvore vermelha que olhava,
outro um fragmento de metal que ouvia,
outro uma lufada de vento e verruma,
outro tinha a cor do caminho.
Pátria, nave de neve,
folhagem endurecida:
aí nasceste, quando o homem teu
pediu à terra o seu estandarte,
e quando terra e ar e pedra e chuva,
folha, raiz, uivo, perfume,
cobriram como um manto o filho
que amaram e defenderam.
Assim nasceu a pátria unânime:
a unidade antes do combate.
XXI
Valdivia (1544)
Mas voltaram (Pedro se chamava).
Valdivia, o capitão intruso,
cortou minha terra com a espada
entre ladrões: “Isto é teu,
isto é teu.
Valdés, Montero,
isto é teu, Inés, este lugar
é o cabido”.
Dividiram minha pátria
como sé fosse um asno morto.
“Leva
este pedaço de lua e arvoredo,
devora este rio com crepúsculo”,
enquanto a grande cordilheira
erguia bronze e brancura.
Assomou Arauco.
Adobes, torres,
ruas, o silencioso
dono da casa levantou sorrindo.
Trabalhou com as mãos empapadas
de sua água e de seu barro, trouxe
a greda e verteu a água andina:
mas não pôde ser escravo.
Então Valdivia, o verdugo,
atacou a fogo e morte.
Assim começou o sangue,
o sangue de três séculos, o sangue oceano,
o sangue atmosfera que cobriu a minha terra
e o tempo imenso, como guerra nenhuma.
Saiu o abutre iracundo
da armadura enlutada
e mordeu o chefe, rompeu
o pacto escrito no silêncio
de Huelén, no ar andino.
Arauco começou a ferver seu prato
De sangue e pedras.
Sete príncipes
vieram para lamentar.
Foram presos.
Diante dos olhos da Araucania,
cortaram as cabeças dos caciques.
Animavam-se os verdugos.
Toda
empapada de vísceras, uivando,
Inés Suárez, a mercenária,
subjugava os pescoços imperiais
com os seus joelhos de infernal harpia.
E as lançou sobre a paliçada,
banhando-se de sangue nobre,
cobrindo-se de barro escarlate.
Acreditaram assim dominar Arauco.
Porém aqui a unidade sombria
de árvore e pedra, lança e rosto,
transmitiu o crime ao vento.
Soube disso a árvore da fronteira,
o pescador, o rei, o mago,
soube disso o lavrador antártico,
souberam-no as águas mães
do Bío-Bío.
Assim nasceu a guerra pátria.
Valdivia enfiou a lança gotejante
nas entranhas pedregosas
de Arauco, meteu a mão
no palpitar, apertou os dedos
no coração araucano,
derramou as veias silvestres
dos labregos,
exterminou
o amanhecer pastoril,
ordenou martírio
ao rei do bosque, incendiou
a casa do dono do bosque,
cortou as mãos do cacique,
devolveu os prisioneiros
com orelhas e narizes cortados,
empalou o toqui, assassinou
a moça guerrilheira
e com a sua luva ensangüentada
marcou as pedras da pátria,
deixando-a cheia de mortos
e solidão e cicatrizes.
XXII
Ercilla
Pedras de Arauco e desatadas rosas
fluviais, territórios de raízes,
encontraram-se com o homem que chegou de Espanha.
Invadem a sua armadura com gigantesco líquen.
Atropelam a sua espada as sombras do feto.
A hera original põe mãos azuis
no recém-chegado silêncio do planeta.
Homem, Ercilla sonoro, ouço o pulso da água
de teu primeiro amanhecer, um frenesi de pássaros
e um trovão na folhagem.
Deixa, deixa a tua pegada
de águia rubra, destroça
a tua face contra o milho silvestre,
tudo será na terra devorado.
Sonoro, somente tu não beberás a taça
de sangue, sonoro, só ao rápido
fulgor de ti nascido
cm vão chegará a boca secreta do tempo
para dizer-te: em vão.
Em vão, em vão
sangue pelas ramagens de cristal salpicado,
em vão pelas noites do puma
o desafiador passo do soldado,
as ordens,
os passos
do ferido.
Tudo torna ao silêncio coroado de plumas
onde um rei remoto devora trepadeiras.
XXIII
Enterram-se as lanças
Assim ficou repartido o patrimônio.
O sangue dividiu a pátria inteira.
(Contarei em outras linhas
a luta do meu povo.
)
Mas foi cortada a terra
pelas facas invasoras.
Depois vieram povoar a herança
usurário de Euzkadi, netos
de Loyola.
Da cordilheira
do oceano
dividiram com árvores e corpos
a sombra recostada do planeta.
As comendas sobre a terra
sacudida, ferida, incendiada,
o reparte de selva e água
nos bolsos, os Errázuriz
que chegam com seu escudo de armas:
um chicote e uma alpargata.
XXIV
O coração magalhânico (1519)
De onde sou, às vezes me pergunto, de que diabos
venho, que dia é hoje, que acontece,
ronco, no meio do sonho, da árvore, da noite,
e uma onda se levanta como pálpebra, um dia
dela nasce, um relâmpago com focinho de tigre.
Desperto de repente na noite pensando no extremo sul
Vem o dia e me diz: “Ouves
a água lenta, a água
sobre a Patagônia?”
E eu respondo: “Sim, senhor, escuto”.
Vem o dia e me diz: “Uma ovelha selvagem,
longe, na região, lambe a cor gelada
duma pedra.
Não escutas o balido, não reconheces
o vendaval azul em cujas mãos
a lua é uma taça, não vês a tropa, o dedo
rancoroso do vento
tocar a onda e a vida com o seu anel vazio?”
Recordo a solidão do estreito
A longa noite, o pinheiro, vêm aonde vou.
E se transtorna o ácido surdo, a fadiga,
a tampa do tonel, quanto tenho na vida.
Uma gota de neve chora e chora à minha porta
mostrando o seu vestido claro e desatado
de pequeno cometa que me procura e soluça.
Ninguém olha a lufada, a extensão, o uivo
do ar nas pradarias.
Me aproximo e digo: vamos.
Toco o sul, desemboco
na areia, vejo a planta seca e negra, toda raiz e rocha,
as ilhas arranhadas pela água e pelo céu,
o Rio da Fome, o Coração de Cinza,
o Pátio do Mar Lúgubre, e onde assovia
a solitária serpente, onde cava
o último zorro ferido e esconde seu tesouro sangrento
encontro a tempestade e sua voz de ruptura,
sua voz de velho livro, sua boca de cem lábios,
algo me diz, algo que o ar devora cada dia.
Os descobridores da América aparecem e deles nada fica
Recorda a água quanto aconteceu ao navio.
A dura terra estranha guarda as suas caveiras
que soam no pânico austral como cornetas
e olhos de homem e de boi dão ao dia o seu vazio,
o seu anel, o seu ressoar de implacável sulco.
O velho céu busca a vela, ninguém
já sobrevive: o brigue destruído
vive com a cinza do marinheiro amargo,
e dos entrepostos de ouro, das casas de couro
do trigo pestilento, e da
chama fria das navegações
(quanto golpe noite [rocha e baixel] no casa,)
fica apenas o domínio queimado e sem cadáveres,
a incessante intempérie apenas partida
por um negro fragmento
de fogo falecido.
Só se impõe a desolação
Esfera que destroça lentamente a noite, a água, o gelo,
extensão combatida pelo tempo e pelo fim,
com sua marca violeta, com o final azul
do arco-íris selvagem
se afogam os pés de minha pátria em tua sombra
e uiva e agoniza a rosa triturada.
Recordo o velho descobridor
Pelo canal navega novamente
o cereal gelado, a barca do combate,
0 outono glacial, o transitório ferido.
Com ele, com o antigo, com o morto,
com o destituído pela água raivosa,
com ele em sua tormenta, com seu rosto.
Ainda o segue o albatroz c a soga de couro
comida, com os olhos fora do olhar
e o rato devorado cegamente olhando
entre paus partidos o esplendor iracundo,
enquanto no vazio o anel e o osso
caem, resvalam pela vaca-marinha.
Magalhães
Qual é o deus que passa? Olhai sua barba cheia de vermes
e seus calções aos quais a espessa atmosfera
se agarra e morde como um cão náufrago:
e tem peso de âncora maldita a sua estatura,
e silva o pélago e o aquilão acorre
até seus pés molhados.
Caracol da escura
sombra do tempo, espora
carcomida, velho senhor de luto litoral, caçador
sem estirpe, manchado manancial, o esterco
do estreiro te manda,
e de cruz tem o seu peito só um grito
do mar, um grito branco, de luz marinha,
e de tenaz, de tombo em tombo, de aguilhão demolido.
Chega ao Pacífico
Porque o sinistro dia do mar termina um dia,
e a mão noturna corta seus dedos um a um
até não ser, até que o homem nasce
e o capitão descobre dentro de si o aço
e a América sobe a soa borbulha
e a costa levanta o seu pálido arrecife
sujo de aurora, turvo de nascimento
até que da nau sai um grito e se afoga
e outro grito e a alba que nasce da espuma.
Todos morreram
Irmãos de água e piolho, de planeta carnívoro:
vistes, enfim, a árvore do mastro encolhida
pela tormenta? Vistes a pedra esmagada
sob a louca neve brusca da lufada?
Enfim, já tendes o vosso paraíso perdido,
enfim, tendes a vossa guarnição maldizente,
enfim, vossos fantasmas atravessados pelo ar
beijam sobre a areia o rasto da foca.
Enfim, a vossos dedos sem anel
chega o pequeno sal do páramo, o dia morto,
tremendo, em seu hospital de ondas e pedras.
XXV
Apesar da ira
Roídos elmos, ferraduras mortas!
Mas através do fogo e da ferradura
como de um manancial iluminado
pelo sangue sombrio,
com o metal fundido no tormento
derramou-se uma luz sobre a terra:
número, nome, linha e estrutura.
Página de água, claro poderio
de idiomas rumorosos, doces gotas
elaboradas como cachos de uvas,
sílabas de platina na ternura
de uns peitos puros aljofarados,
e uma clássica boca de diamantes
deu seu fulgor nevado ao território.
Já longe a estátua depunha
seu mármore morto, e na primavera
do mundo, amanheceu a maquinaria.
A técnica elevava o seu domínio
e o tempo foi velocidade e lufada
na bandeira dos mercadores.
Lua de geografia
que descobriu a planta e o planeta
estendendo geométrica formosura
em seu desenvolvido movimento.
Ásia entregou o seu virginal aroma.
A inteligência com um fio gelado
foi atrás do sangue a fiar o dia.
O papel repartiu a pele nua
guardada nas trevas.
Um vôo
de pombal saiu da pintura
com arrebol e azul ultramarino.
E as línguas do homem se juntaram
na primeira ira, antes do canto.
Assim, com o sangrento
titã de pedra,
falcão encarniçado,
não só chegou o sangue mas o trigo.
A luz veio apesar dos punhais.
Aquele começo de urbanização do único logradouro público de convívio e lazer — início inevitável de dezenas de novas famílias e que se resumia ao quadrado de cimento, postes orna-mentais e mudas crescentes de fícus em cada canto — é o cartão-postal que mais evoca a in-fância na remota e esquecida Caldas Novas das boas imagens. O despertar para o turismo nos anos 20 de mim, ou, se preferirem, a casa do tempo que vai de 1965 a 1975, foi significativo. Amadureceu o homem, transfigurou a cidadela.
Hoje, a lembrança dos anos verdes não confere com o cartão-postal que lhe deveria equivaler. As lembranças da paisagem são re-motas. Ficou o recordar do modo de sentir, do jeito de crescer. Há a lembrança das histórias contadas por minha mãe e que serviam para evocar o sono, um livro de páginas amareladas e capa dura, os Contos da Carochinha lidos com voz de acalanto, o beijo na testa, a oração de pedir que Deus nos protegesse e de esperar per-dão pelo dia de alegrias, como se fosse pecado ser criança e feliz.
Desde os mais tenros anos, os acordes em saraus musicais e suas inevitáveis conseqüênci-as, as serenatas, mostravam a carícia dos versos, vestidos em vestes as mais nobres, quais sejam as linhas melódicas. Era ainda um tempo de re-viver preciosidades de Chiquinha Gonzaga, Er-nesto Nazaré, Zequinha de Abreu, Noel Rosa e Lamartine Babo, mas sem desprezar as novida-des, e a novidade mais interessante era Luiz Gonzaga, cantando versos de Humberto Teixei-ra.
A esse ambiente, atribuo a razão de fugir das escalações para o joguinho de bola ao lado da igreja, preferindo dedicar-me a um novo e solitário passatempo, a leitura de imensas pilhas de gibis, descobertos entre os tesouros do primo Rogério, estudante interno em Araguari. Aquele acervo me convenceria, anos depois, que seu dono não teria sido um aluno 0brilhante, mas sempre o respeitaria por ser o responsável, entre outras qualidades e valores morais, pelo prazer descoberto do manuseio dessas coisas feitas em papel e tinta, pelas inebriantes viagens pelo des-conhecido e pelo inusitado a partir das páginas dos livros.
Tanta delonga sobre a infância para tentar justificar o ofício de escriba, a qualidade que me permitiu a sobrevivência nesta terra em que o berro do boi e a extensão monótona dos arais e dos vergéis valem mais que o cultivo das letras.
Acredito nas letras e nas mulheres e ho-mens de letras. E essa crença remonta aos anos dos primeiros aprendizados. Sou do tempo em que estudar os versos era indispensável, mas versejar era considerado uma prática afeminada. Nos primórdios do curso ginasial, no sempre amado Colégio Pedro II, questionava esse con-ceito ao observar que os versos que nos davam de beber foram, em sua quase totalidade abso-luta, criados por homens. E homens que tiveram força na história e geraram famílias que deles se orgulhavam. Já naquela época, no chacoalhar do trem de todos os dias a caminho do colégio, o ritmo das rodas duras sobre os rijos trilhos e o jogar inquieto dos vagões insinuavam versos. Imaginava-me Bandeira a criar a onomotopéia: "Café-com-pão, café-com-pão, café-com-pão... Voa fumaça, corre cerca, ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso muita força, muita força, muita força..."
Sim, o menino precisava força. Não a for-ça dos tenazes conquistadores de espaços geo-gráficos, nem a força dos que erguem obras físi-cas ou constroem impérios. Geógrafo de forma-ção, parece que nasci para historiar. E como a força de que precisava não era para construir maravilhas da engenharia, o jornalismo foi cres-cendo como opção e prazer, tornando-se profis-são pouco após ter vindo a lume meu livro de estréia.
Leitor de colunistas como Adalgiza Nery, Stanislaw Ponte Preta e Nelson Rodrigues, em tempos da vivência adolescente na velha capital federal, encontrei em Anatole Ramos e Carmo Bernardes meus preferidos após o retorno ao Planalto Central, ambos cronistas no semanário Cinco de Março, depois no matutino O Popu-lar, teimosos em contestar o regime, hábeis em dizer pensamentos em letras de forma de modo a engambelar os censores.
Com o tempo, aprenderia a apreciar ou-tros notáveis homens de letras de nossa terra, em textos de jornais e de livros, e vou restringi-los aos membros desta Casa para não fazer desta peça, escrita para a fala, um enfadonho desfilar de nomes a que sou grato pelo bem que me fizeram ao espírito e pelo aprendizado. Fi-quemos, pois, em Bariani, Eli, Bernardo, Castro Quinta, os irmãos Mendonça Teles, meu velho amigo Coelho Vaz, meu quase irmão Brasigóis, Eliézer Penna — meu editor no já citado Cinco de Março —, Asmar e Bittencourt — compa-nheiros na Folha de Goiaz — e Eurico Barbosa — com quem convivi no Diário da Manhã.
A Carmo Bernardes atribuo o ato da pro-vocação para que me oferecesse ante as senho-ras e os senhores membros desta Academia. Demorei-me a tomar a decisão, e o fiz no mo-mento em que vagava a Cadeira número 8, do meu velho mestre José Sizenando Jayme, sendo vencido pelo notável Isócrates de Oliveira, vigá-rio de minha infância na pacata Caldas Novas. Naquela disputa, uma certeza nos norteava — assegurar um lampejo de continuidade na Cadei-ra, pois que o eleito, como seu antecessor, nas-ceram em Pirenópolis, cidade natal de meu pai e meu torrão preferido pelo sedimento das ori-gens.
Acredito que o fato de vir a ocupar a Ca-deira número 10, a mesma que ocupava Carmo Bernardes, cumpre uma ação de destino. Acom-panhei seus escritos de resistência desde os primórdios de 1963; preocupei-me quando de seu exílio nas lezírias do Araguaia, nos tempos tumultuados do golpe militar de 1964, e pude rir, feliz, ao ouvir que o general Riograndino Kruel, um dos líderes do sectário golpe, o teve por guia de pescaria, sem saber de sua vida. So-zinhos, na solidão dos lagos piscosos do Bana-nal, no limitado espaço de uma canoa, tendo entre ambos não mais que varas, linhas, iscas e molinete e uma espingarda. Talvez providencial, fosse Carmo sanguinário.
Carmo Bernardes trazia na índole a tradi-ção do bom mineiro, o homem da terra, o caipi-ra, na mais pura das acepções do termo, o ho-mem silencioso, observador, que pisa com segu-rança o terreno porque sabe que o mato reserva surpresas ao pé descalço. Mas corajoso o bas-tante para expor sua opinião, espalhar ao mundo sua indignação e mostrar aos que se julgam po-derosos que o poder de verdade é maior que a chance que conseguem alguns de manipular o patrimônio público a bel-prazer. A estes, a his-tória reserva a verdade de suas naturezas; a ho-mens como Carmo, fica assegurado o lugar que lhes cabe por direito de vida, qual seja o reco-nhecimento e o respeito de seus pósteros.
Não gostaria de biografá-lo; muito já se escreveu sobre ele.
Não tenho estatura crítica para apreciar sua obra, e isto já se fez no âmbito acadêmico, até mesmo em redações de mestrado e teses de doutorado. Nunca fui mais que um mero leitor , aprendiz de sua verve. Com ele, em suas crôni-cas e artigos da década de 60, tive excelentes lições de jornalismo — a principal delas talvez seja a prática que cultivo de não pôr em letras de forma o nome de quem não o mereça.
Por patrono, tenho o também jornalista Moisés Augusto de Santana. Vilaboense, nasci-do no dia 7 de fevereiro de 1879, quis ser mili-tar. O temperamento irrequieto e a indisciplina de homem
Na era da Comunicação
global, do derrube de fronteiras imposto pelas sociedades da informação,
em que o poder prevalecente é o da imagem, coloca-se a questão
de saber que lugar ocupa a palavra escrita e consequentemente o livro,
nas culturas de massificação.
O
acervo de informação à disposição
de uma considerável parte da humanidade, pelo menos da que vive
em sociedades que dispõe de condições que permitem
aos seus cidadãos o acesso aos meios massificados da informação,
não nos pode fazer esquecer que uma outra fatia, não menos
considerável da humanidade, das estepes à Ásia
e ao grande continente africano, permanece analfabeta.
A
universalização e democratização do ensino,
tendo diminuído o fosso entre letrados e iletrados, não
nos conduziu necessariamente a um estágio de maior conhecimento:
a humanidade não se revela mais sábia, apesar de termos
as mais consagradas bibliotecas ao alcance da mão, na comodidade
de nossas casas, os museus mais conceituados do mundo ou os dados mais
recentes da ciência, disponíveis nas redes informáticas
e a que acedemos através de um simples click.
Em
grandes discursos de meras intenções políticas,
os que governam os destinos do mundo elevam suas vozes, tanto em defesa
do ambiente que ao ritmo de poluição a que está
sujeito, acabará sufocando e nós com ele, como da necessidade
de tornar universal o acesso ao conhecimento, e da escola como meio
privilegiado da formação dos indivíduos, portanto
de cidadãos. Educar para a cidadania, implicaria dar de novo
ênfase e importância a determinadas áreas de formação,
que tanto gregos como romanos – para de algum modo apelar a dois dos
grandes pilares de nossa estrutura civilizacional – sublinhavam como
as traves-mestras do edifício educacional do habitante da "polis".
As áreas de formação cívica, ao longo das
ultimas décadas foram sendo despromovidas em favor das áreas
tecnológicas e cientificas, sem sombra de dúvida caminhos
de evolução e progresso, para a humanidade, mas não
os únicos.
Pensar
que no dealbar do um novo milênio, as manchas de pobreza no planeta
se alargam, que o anafabetismo, não foi irradicado, que os nacionalismos
mais ferozes ainda matam, que a carta magna dos Direitos Universais
do Homem, é letra morta, para milhares de homens, mulheres e
crianças que conhecem a condição infra-humana da
existência, deveriam fazer pensar. Progresso é um
conceito que nos traz à memória um processo de eliminação
da bárbarie, e por todo o planeta há sinais de que ela
tende a crescer e de que os conceitos de progresso e evolução
deveriam ser revistos.
Educar
para a cidadania deveria ser o lema de quem dirige os destinos de um
país, porque é no ensino que se aposta positivamente no
futuro, ou pelo contrário o individamos. Progresso está
intimamente ligado a um outro conceito: EDUCAR!
Porque
falamos de ensino, é pertinaz lembrar que em nossas escolas parece
surgir como um verdadeiro drama as relações quase traumáticas
que uma elevada percentagem de alunos vive com algumas disciplinas,
nomeadamente a matemática e a língua materna. De uma forma
geral as pessoas falam cada vez pior, e a formação de
uma mente racional e lógica também se perde, pelas dificuldades
que enfrentam nossos estudantes.
O
sucesso escolar, e a aquisição do conhecimento, que se
realiza durante a passagem pela escola, ou faculdade, está diretamente
ligado à boa preparação dos docentes, que mais
do que ensinar se deveriam preocupar com a capacidade de incutir o gosto
por aprender e o insucesso escolar liga-se quer a fraca preparação
dos professores como á escolha de um conjunto de matérias
ministradas aos vários níveis do ensino que desmotivam
o aluno pela fraca relação que estabelecem entre a escola
e a vida. Motor por excelência da formação dos indivíduos,
a escola veio gradualmente desvalorizando as disciplinas das áreas
ditas cívicas ou humanistas ao longo das últimas décadas
em favor das tecnologias e áreas cientificas. Desde quando a
ética, o conhecimento, formação do indivíduo
para a cidadania, e formação de um espirito abrangente
e critico sobre o seu meio, se revelou incompatível com o ensino
das ciências? Porquê então a excessiva cientifização
do curriculuns escolares em detrimento da formação humanistica
dos alunos? Exigências de uma sociedade, que deixou de colocar
o Homem no seu centro. A crise de valores de que tanto se fala, poderá,
quem sabe de algum modo explicar-se à luz da questão acabada
de colocar.
Uma
sociedade crescendo em globalização, promovendo métodos
de organização cada vez mais uniformizadores, e contraditoriamente
parecendo dar uma ênfase particular ao indivíduo, vem criando
condições para a produção de um homem-padrão,
essencialmente movido pela idéia de sucesso, que se tornou um
dos ícones endeusados de nossos tempos. Os mídia e os
interesses por si veiculados têm operado "maravilhas" no tocante
a esta questão: o bombardeio diário da falácia
de um mundo de bem-estar ao alcance de todos, a velocidade vertiginosa
a que a informação corre sem permitir uma digestão
crítica das mensagens subliminares, a desvirtualização
da função primeira dos meios de comunicação,
informar, vai-nos transformando em meros receptores passivos e prontos
para a filosofia consumista e as sociedades do "Fast".
Mais
do que servir os públicos e informar, a televisão que
dispõe de um meio de incomensurável poder, quer pelos
públicos que atinge, quer pela influencia que exerce sobre eles,
se parece preocupar mais com os picos de audiências. Neste jogo
do vale tudo, a imagem "shock" vence ao knock-out a palavra,
ou não fosse tão popular, e certamente eficaz, a expressão
corrente: "uma imagem vale por mil palavras". Parece, pois, que os meios
que por excelência poderiam estar ao serviço da informação
e formação dos indivíduos, se encontram enredados
numa lógica de sobrevivência, em que os fins justificam
os meios.
Seria
importante lembrar que nossas sociedades e nossas culturas se ergueram
e mantiveram pela palavra: pela oralidade que durante milhares de anos
foi passando de homem a homem, tribo a tribo os conhecimentos dos mais
velhos, a memória e a História ciosamente guardadas pela
escrita, em pedras, papiros, e papel. A palavra, desde os tempos dos
cidadãos livres helênicos ao "corner speacher" do Hide
Park em Londres, tem sido utensílio de explicitação
do mundo, de expressão livre de idéias, de passagem de
testemunhos e de saber ao longo do tempo.
Sabemos
que o domínio da palavra, a capacidade de "manipular" e concatenar
conceitos é sobremaneira revelador de inteligência e que
a verborreia, o lugar comum que nada traduzem de novo, antes
reproduzem a mesmidade e a uniformização, em si mesmos
são empobrecedores. O fenômeno da globalização
e a atual caraterística das sociedades atuais me parecem estar
contribuindo de forma rápida e decisiva para este estado de coisas.
E
é neste contexto das sociedades "Fast", que vamos perdendo a
capacidade de entender a história que perpassa cada contexto
ou conjuntura temporal, e de ao jeito de Janus, com sua cabeça
bifurcada, encarar o futuro sem deixar de olhar para o passado que nos
explica o presente.
É
um momento único na História da
Não posso escrever uma letra sem ouvir
o vento que vem de seu nome.
Sua forma irregular a faz mais bela
porque dão desejos de formá-la, de fazê-la
como a uma criança a quem se ensina a falar,
a dizer palavras ternas e verdadeiras,
a quem se lhe mostram os perigos do mundo.
Minha pátria é altíssima.
Por isso digo que seu nome se descompõe
em milhões de coisas para recordá-la.
O hei ouvido soar nos caracóis incessantes.
Vinha nos cavalos e nos fogos
que meus olhos hão visto e admirado.
O traziam as moças formosas na voz
e em uma guitarra.
Minha pátria é altíssima.
Não posso imaginá-la abaixo do mar
ou escondendo-se embaixo de sua própria sombra.
Por isso digo que mais além do homem,
do amor que nos dão em conhecimento,
da presença viva do cadáver,
está ardendo o nome da pátria.

nos trilhos limpos,
foi matar a menina de vermelho.
Bastou um grito para o espanto
fixar-se na tarde.
Desceu gente de longe,
homens pisaram pedras,
mulheres jogaram noites na pressa,
os pais surgiram de súbito.
Um sangue ungia rodas e trilhos,
pedaço de vestido repousava em dormente.
Lanternas acesas na lida em vôo,
foram examinar a máquina,
o freio intacto,
as peças nuas,
a chaminé parada em pânico.
Rodara só
nos trilhos limpos.
Em desvio de falas,
colheram saudades da menina,
assistiram ao desfile das pausas,
contaram casos de nascimento.
A manhã parou na máquina,
os homens trouxeram cadeiras,
fizeram um círculo de vozes,
ergueram pedaços do crime.
Depois, tomaram café,
deram seus votos
e fitaram, em rápida apreensão,
a máquina condenada.
Levaram-na para um desvio,
destruíram os trilhos de um lado e de outro,
fundaram cerca de arame ao redor,
deixaram placa de madeira
com letras em quase cruz.
Quando as outras máquinas passam
nos trilhos mais longe
apitam avisos,
rodam mandadas,
contemplam a cela tênue,
plantas agora buscando as fendas
da quieta locomotiva.
não goza, em seu cabedal,
o saber de um tempo argüido:
seu irônico juízo
no que investiga retorna
e o que investiga é retorno
do que então se parodia
do que então potencializa
um saber examinar-se
no outro que está do outro
sem imagem conferida
mas que pressupõe ao pôr
radicais inexistências
sob metódico senso
de crítica e de raciocínio
para então comprometer
a base — seu fundamento —
do círculo que vira dia
que se vive sem teoria
o que lhe permite ser tempo
é não contar sua história
é não ter sequer história
é ser o avesso da história
a própria falta — seu ser
de insuportável sentido —
satura de perdas a vida
e a explode como história
aí é preciso viver
de sobrevida aparente
nas sobras do apalavrado
reconduzido ao vazio
e nesta sede excluída
do homem desprende-se o tempo
demolindo o quê de si
sobrevive em seus sistemas
que permanecem percursos
de quebras fendas rupturas
são como um não-rio
os afluentes do tempo
(faz flutuar periódicas
minas de água parada)
que cai por brutas clivagens
como evidências sem fala
ou conflui estimulando
econômicas miragens
que precipitam o invisível
nas influências do visto
e trazem a forma adiante
das margens que nos espiam
sem olhar antecipando
múltiplos fluxos sem rio
é de poesia que
o tempo se alimenta
de sua força estratégica
sua premente ameaça
pois quanto mais fortifica
com mais defesas desata
e obriga ao tempo o adiante
de formas desmoronadas
obriga a viagem das horas
às suas fronteiras perdidas
a descobrir demasiados
possíveis de não rendição
mal começada a jornada
chegam arquitetos do não
tem o passado uma fome
do retomo do que falta
fome de raiz-além
desse longo ignorado
e rumina arruinando
a forma não digerida
tem a fome de uma espera
por horizonte não vindo
se morde o passo do onde
se gera a fome do tempo
enquanto rumina o presente
escape por entre os dentes
quando céu e terra se fizeram uno
o grande tempo moldou todas as coisas
de uma só vez
aos homens transmitiu a técnica
de não esperar
nenhum posterior, absoluto ou relativo
se pressupôs:
a consciência das clepisidras e das ampulhetas
desapareceu
perderam-se as sucessões e os recortes
irreversivelmente
o grande tempo fundiu os homens
na geografia do outro
e já não houve marcas de propriedade
e já não houve Estados
quando céu e terra se fizeram uno
o presente pôde ser lembrado
os configurados do tempo
marinheiros e megáricos
na volta não viram a margem
fazer porto no outro lado
fazer com poucos relógios
este contorno marinho
por lençóis curvos de água
canais de vida ou de linho
(mil canais de travessia
não chegam ao tempo visado
se o ângulo em que se projetam
não vaga em tua memória
se não te apreendem no agora
rasgos de incertos indícios)
a paciência da tribo
faz que dorme
faz que sonhem seus conceitos vagos
com cristais
quase nada extrai da falta
de origem ou fim
a paciência da tribo
retira-se do tempo com malas e bagagens
e põe-se a salvo
como duração e morte
quase nada deixa
de sua imprópria matéria
sem horizonte indagado
a paciência da tribo não se acaba
talvez porque seu puro escape
dispense o eterno
como os cristais às datas
no instante do bote
o tempo masca
não marcha
como os cadetes do colégio militar
a cobra-macha do tempo
não bate os calcanhares que não tem
nem se perfila ou bate continência
a cobra-marcha do tempo apenas rumina
o seu azul pairado
sobre alas, sobre balas.
no instante exato do bote
a cobra do tempo fuma
e o verde desfile dos passos para sempre
passa
como uma falta de ser
se imagina desejada
ou quanto a letra se quer
mais lida se mais apagada
a consciência propaga
sua força de abafada
que mal ultrapassa a falha
escandaliza o que falta
e perturba porque gasta
a razão da ultrapassagem
ao propagar o querer
doutras forças sufocadas
que mais apagadas se avivam
como letras desejadas
de uma escrita em que falta
tua imagem recortada
tua vida recordada
Por um apagado de charge
o único tempo é o tempo
que fora de si inexiste
como existe o que expulsa
de sua reserva incontente
expulsa do homem o ganho
ou pior, contabiliza
sua fome de um ser tempo
de ter no tempo o seu prumo
e este homem sem divisas
quer do tempo seu insumo
cobra incentivos e lucros
por vida a mais de consumo
mas o tempo acerta o trato
desconhecendo o rumo
quem rói de ti os fantasmas
de que se cobre a razão
lendo o antes da memória
que escapa à imaginação
que examina pela falta
as marcas da contradição
que ousa escritos vazios
sobre raspas predatórias
quem desconcentra a razão
para firmá-la no instável
como solta resistência
que se faz tão maleável
que nenhuma norma nova
fixa a ferida da margem
a tinta encarnada do teu
manuscrito sem história
se entranha na letra como
palavra arrancada à traça
se entranha em calar dobrado
como história dos silêncios
que a letra arranca aos pedaços
desta carne de azurado
a tinta dos manuscritos
come a tua mão pesada
com gratos garfos que vexam
o menos papel do prato
para abrir com suas chaves
o trauma de novos achados
escrevo palavras que calam
o meu objeto é o tempo
não fala
mas guarda em si monumentos
que sem vestígios
abalam
e o seu mudo testamento
fende infinito o fragmento
que age
escrevo à margem do efeito
leitor da ávida ausência
que apaga
e não consulto memórias
meu dicionário é o átimo
que indaga
deixa se possível um oco
para que o tempo arrebente
tuas mordaças sem corpo
o teu silêncio de ovo
teu fio sem interior
que tece os teus desenlaces
com mordidas ou amarras
famintas da tua nudez
derrama o rigor do silêncio
na veia oblíqua do novo
os tempos geraram os tempos
que geram de si os tempos
que geram os tempos de novo
como uma trama bastarda
os laços de parentesco
perdido no que se ligam
tecem o mito e a fenda
saber de que é feito o tempo
desses tempos sem história
é ter por familiares
homônimos desconhecidos
que no entanto evoluem
no seu poder de expurgar
incógnitas biografias
nos interiores das bibliotecas
o teu vizinho vive os anos vinte
um de meia-idade atrás de ti
parte uma galáxia
nos interiores da rua
cada palavra circula
com reais multiplicados
pelos becos mais dispersos
das páginas e

Caminhando a passos lentos, voltando do trabalho muito mais tarde do que eu queria, senti a garganta arranhar, estava muito frio e eu parecia que adoeceria muito em breve. "Mais essa agora!" Pensei. Como se já não bastasse as pilhas de relatorios para revisar inadiavelmente, eu ficaria doente e dolorido. Meus resfriados sempre eram fortes e me deixam muito mal.
As ruas da minha cidade são muito escuras e eu ando sempre a pé. Meu dinheiro é curto e eu tenho que sustentar a mim e ao meu filho, o Felipe. Felipe tem só cinco anos e sente muito a falta da mãe. Minha querida e amada Julia, que Deus a tenha.
Chegando perto de casa eu sempre vejo a luzinha da Tv ligada da janela, já passam das nove e meia da noite e Felipe sabe que já devia estar dormindo. A babá só fica até as oito então ele aproveita pra fazer suas travessuras quando ela sai. Sempre que ele ouve o barulho do velho portão de metal rangir eu vejo a luzinha da TV apagar, e como num passe de magica, quando eu entro em casa ele deita na cama e finge estar dormindo.
Menino travesso,o meu, mas eu prefiro que seja assim, pelo menos não é uma criança triste.
Esta noite em especial eu cheguei e o Felipe não fingiu dormir, ao invez disso ele desligou a TV e me esperou na porta. Parecia chateado.
- Papai! Eu fiquei com medo.
Ele abraçou minhas pernas com força e pareceu choramingar.
Meu coração estava partido, o que tinha feito meu garotinho levado chorar?
Eu acariciei seus cabelos escuros e me pareceram suados e oleosos. Afastei-o devagar e com delicadeza e me agachei para nivelar a altura.
-Do que você teve medo filho? Aconteceu alguma coisa?
Ele esfregou os olhinhos molhados e avermelhados de sono. Seus olhos eram verdes, iguais os da Julia, lembrava muito a mãe.
-A Bárbara, foi embora muito cedo, eu não gosto de ficar sozinho aqui.
Eu fiquei confuso, Bárbara era a babá, sempre foi muito confiável, e ela sempre me avisava quando tinha de sair antes do horário, não me lembrava dela ter dito nada a mim hoje.
-Como assim filho? A Bárbara sempre sai ás oito, quando a lua começa a aparecer lembra? E minutinhos depois o papai chega, só hoje que eu me atrasei um pouquinho.
-Sim Papai! Mas hoje ela saiu quando ainda tinha sol, fiquei muito tempo sozinho, você não chegava nunca mais, achei que você tivesse ido embora.
Felipinho desabou a chorar, e aquilo deixou meu coração em frangalhos, ao mesmo tempo que me deixou enfurecido. Como a Bárbara pode fazer isso sem avisar, deixar meu pequeno sozinho sem mais nem menos.A que horas ela saiu?
-Filho, calma, você já tomou banho?
-Não. Ela saiu sem me dar banho.
Ela sempre da banho no Felipe por volta das seis, antes de ele fazer a lição, jantar e ir pra cama, se ela saiu sem dar banho nele, significava que ela havia saído no meio da tarde. Eu fiquei extremamente zangado. Respirei fundo, não podia transparecer minha fúria a uma criança.
-Vamos para o banheiro, papai vai te dar banho e aí a gente vai dormir, ta bom?
- Ta bom, mas eu posso dormir com você hoje pai? Só hoje!
Tinha um nó na minha garganta. Engoli meu choro.
-Pode sim meu anjo.
Dei um banho no Felipe, ele estava bem sujinho, talvez de tanto brincar, ele pareceu mais alegre naquela hora, fazia muito tempo que eu não dava banho nele e ele gargalhava fazendo espuma pra todo lado. Coloquei ele na cama e acho que não demorou nem cinco minutos para que ele pegasse no sono, o pobrezinho parecia exausto.
Deitei na cama ao lado dele, mas não podia dormir, não sem uma explicação, Levantei e sai do quarto silenciosamente, encostei a porta.
Fui até a cozinha e peguei meu celular. Liguei pra Bárbara. Ela atendeu ao terceiro toque.
-Alô.
-Alô, Bárbara, aqui é o Gregório.
-Ah, seu Gregório, oi.
-Bárbara, o Felipe me disse que você saiu mais cedo hoje, o que foi isso? Aconteceu alguma coisa? Não me lembro de você ter dito nada.
-Não. É que na verdade eu não vou mais.
-Como assim não vem mais? E o nosso contrato? O que aconteceu?
-Eu não posso é que .... Não consigo, não da.
- Como assim? Por que não?
-Essas pessoas estranhas paradas aí na frente da casa o dia todo, é perturbador, eu não posso com isso, to muito apavorada e .... Não vou, não mesmo.
Eu não conseguia processar o que ela estava falando, não estava entendendo bulhufas.
- Que pessoas, menina? Não tem ninguem aqui, do que você ta falando?
- Desculpa, seu Gregório, me desculpa mesmo, manda o Beijo pro Felipinho, fala que eu adoro ele tá?
- O que? Não, espera, como assim?
Ela desligou.
Que porra Bárbara!
Joguei o celular no chão. Estava desamparado. E agora o que eu iria fazer? Ela esteve cuidando do Felipinho por dois anos, como eu iria achar uma substituta tão em cima da hora?
Sentei na cadeira e dei uma respirada. Pequei meu notebook e mandei um e-mail pro meu chefe, não poderia ir trabalhar no dia seguinte, ficaria cuidando do meu filho.
As palavras dela não me saiam da cabeça. De que pessoas ela estava falando?
Levantei e fui até a janela da cozinha, abri só uma pequena fenda da cortina, do outro lado da rua quatro figuras encapuzadas estavam paradas olhando pra casa, quando me perceberam espiar, acenaram pra mim.
Acordei meio suado, parecia já ser tarde, só me lembrava de ter ido me deitar ao lado do meu filho, eu estava apavorado e me perguntando quem seriam aquelas pessoas estranhas em frente à minha casa. Esfreguei os olhos tentando despertar, rolei para o lado e a cama meio bagunçada estava vazia. O Felipe não estava ali.
Levantei de supetão, estava tremendo, não sei se de frio ou de nervoso. Talvez fosse os dois. Procurei no banheiro, nada. Chamei meu filho e não houve resposta.
Estava atordoado, meu deus, meu filho. Fui correndo até a varanda dos fundos e vi o Bolinha, nosso cachorro comendo um pedaço enorme de carne. Estranhei aquilo, eu não havia dado nada a ele, tinha acabado de acordar. Não dei muita importância, precisava achar meu filho.
Corri para a sala, estava vazia, da forma que estava na noite anterior. Estava ofegante, parecia que eu ia desmaiar quando ouvi um barulho de talher na cozinha.
Corri até lá desesperado, entrei pela porta escorregando no piso por causa das meias, e vi meu filho, sentado à mesa, que estava farta, cheia de frutas e doces caseiros. Foi um alivio enorme, tão grande que minhas pernas amoleceram, soltei todo o ar dos pulmões.
-Filho! Não ouviu o papai te chamar?
Ele com toda a sua tranquilidade de criança, balançando as perninhas na cadeira terminou de mastigar uma colherada de cereal com fruta.
-Não ouvi papai, desculpe.
Eu não sabia o que dizer, estava ficando paranoico, dei um beijo na testa dele e fui pegar uma xícara de café, estava aliviado. Enchi uma xícara bem cheia de café e me escorei no balcão, fui dar um gole e me virei para mesa e só então me dei conta. Quem havia preparado aquilo tudo?
Meus olhos arregalaram, meu coração palpitou, me senti tremer novamente, coloquei de vagar a xícara em cima do bancão e vagarosamente me aproximei do Felipe, meu corpo em choque tentando entender, olhei para ele e perguntei pausadamente, engolindo em seco.
-Felipe.
-hum?
-Quem preparou isso tudo pra você?
Ele me olhou confuso.
-Você?
Eu esfreguei a mão na testa, não estava conseguindo conter meu nervosismo.
-Não filho, o pai tava dormindo.
Ele fez uma expressão pensativa, entendo que pra ele deveria estar ainda mais difícil de compreender.
-humm, a Bárbara?
Ele estava tentando adivinhar.
-Não querido, a Bárbara não veio hoje. Você viu alguém aqui hoje cedo? Quero dizer, fazendo alguma coisa?
-Não. Já tava aqui. Ah! Você deixou a porta aberta ontem pai. tava tudo frio aqui.
Eu senti tontura, parecia que eu ia enfartar. "não eu não deixei". Pensei. Me apoiei na mesa para me manter de pé.
-Sim, claro, me esqueci, Obrigado.
Fui até a porta da frente, andando meio duro, parecia um robô inexpressivo, em choque. Olhei para fora com medo do que eu veria, mas para minha surpresa não havia nada estranho, aquelas pessoas da noite passada não estavam mais lá, olhei para a rua cima a baixo, procurando nem eu sei o que, e não vi absolutamente nada fora do normal. Quando já estava quase fechando a porta vi no chão um papel meio amassado, resolvi desamassar para ver o que tinha ali, e para meu espanto, desenhado à lápis havia um símbolo estranho, um pentágono com uma estrela de seis pontas no meio, e quatro assustadores olhos desenhados no centro da estrela, havia também outro pedaço de papel colado no canto da folha com o carimbo de um ponto de interrogação.
O que essas aberrações estavam querendo me dizer? Eu estava surtando, guardei o papel no bolso do pijama, dei mais uma olhada para fora e fechei a porta. Tranquei.
Coloquei um agasalho no Felipe e me aprontei para pegar o ônibus rumo a biblioteca municipal, eu vou scannear essa porcaria e fazer uma busca na internet para ver se eu acho alguma coisa que faça sentido, se eu tiver sorte pode ser que seja alguma piada de mal gosto que se tornou viral.
Estávamos aguardando no ponto quando eu vejo de longe um golzinho velho vermelho se aproximando e parando bem perto de nós, a janela do carro se abriu devagar e fazendo um rangido estranho.
-Falaa Greg!
Era o Barba, meu amigo do trabalho, o apelido dele é esse por causa da barba comprida que ele mantem e cuida igual cabelo de mulher. A maioria do pessoal até já esqueceu o nome dele de verdade, eu mesmo que o conheço desde que entramos juntos na empresa me esqueço as vezes, O nome dele é Jurandir, então Barba, pega mais fácil.
-Eae Barba!-Respondi.
Ele olhou para o Felipe, que estava distraído.
-Oi Felipinho, como você ta campeão?
O Felipe adora o Barba, ao perceber que era ele ficou todo agitado.
-Oi Tio Barba! Eu cresci um tanto assim - Ele fez um sinal exagerado de tamanho com os braços.-
-Tudo isso rapaz? desse jeito vai bater a cabeça nas nuvens eim.
-Uau! Eu acho que eu vou sim, dai eu vou comer um pedaço delas, porque elas são de algodão doce, só que branco.
Levei a mão na testa, que imaginação era aquela, rimos muito.
-Mas eai Senhor Gregório, pra onde você ta indo? Fiquei sabendo do que a Barbara fez, ela não é disso cara, que foda.
-Eu to indo na biblioteca agora. Pois é cara, sacanagem, acontece que ...
-Não, não, me conta no caminho, vou dar uma carona pra vocês entra aí.
Ele jogou umas tralhas pro canto do banco de trás e eu acomodei o Felipe no assento. No caminho até a biblioteca contei tudo o que tinha acontecido pro Barba, ele não falou nada até eu terminar, só balançava a cabeça.
-Uff. - ele soltou o ar como se fosse algo pesado.- Mano, que porra de história bizarra que tu acabou de me contar. Verídico mesmo?
-É claro que é caramba! Da onde que eu ia inventar um troço desse? Você me conhece, sou quadradão demais pra isso de inventar coisa.
-Mas assim, os caras, deixaram o desenho e PUFF desapareceram no ar?
-O que? Não! -Eu estava frustrado, ela não estava me levando a sério-. Eles só deixaram lá e foram embora, seja lá pra onde gente estranha mora.
-Eu vou te ajudar a resolver essa fita aí.
-Não precisa, deve ser bobeira.
-E daí se for bobeira? Agora eu quero saber, sou doido nesse negócio de teoria da conspiração, meu sonho investigar essas paradas.
-Cara, não é teoria da conspiração.
-Não corta o meu barato, falou? Pra mim é sim, esses negócios existem em toda parte irmão, ou você acha que o homem foi mesmo pra lua? Não se iluda!
-Ta bom. -Ri-. Mas eai, porque você não foi trabalhar hoje?
-Peguei atestado, doido.
-Você ta doente?
-To, doente daquele monte de relatório, deus me livre.
-Não acredito, O Marcelo vai ter que fazer tudo sozinho?
-Vai. - Ele me deu um olhar maléfico e demos uma gargalhada juntos.- Aquele mala vive puxando o saco do Afonso, ele que se vire, não é o senhor prestativo, senso de dono da empresa? Se vi-re.
-Bem feito.
Chegamos em nosso destino, eu já mais descontraído por causa da conversa com o Barba. A biblioteca municipal é um lugar enorme, deve ter sido construído lá por mil oitocentos e pouco, porque tem um aspecto bem antigo. Estacionamos o carro e subimos a longa escadaria até a porta. Chegando lá me virei pro meu filho.
-Filho, o papai vi ter que procurar umas coisas e pode ser que demore um pouquinho, lá dentro tem uma sala de joguinhos e uma tia bem simpática que vai cuidar de você, você promete que vai se comportar?
Ele balançou a cabeça em sinal de sim e saiu correndo para a entrada da sala de jogos.
Me aproximei da moça da recepção. Era uma mulher bonita, cerca de 30 anos, morena.
-Quanto tá a hora da salinha? - Perguntei pra ela-.
-São 20 reais, senhor.
Meu bolso doeu, aqueles homens misteriosos estavam me custando os olhos da cara.
-Me ve 1 hora então, por favor.
-Nome?
-Gregório Aparecido Boulevard.
-Nome da criança?
-Felipe de Alcântara Boulevard.
-Vamos anotar o telefone do senhor para contato.
Ela retirou uma fitinha com o nome do meu filho, amarrou no pulso dele e girou a catraca, Felipe saiu correndo feito um doido e sumiu no meio das crianças e dos brinquedos.
Não pude conter minha preocupação, não gostava de deixa-lo sozinho assim, mas desta vez foi preciso. Parece que transpareci demais, o Barba percebeu.
-Relaxa, a recepcionista bonitona vai cuidar dele.
Eu ri.
-Deixa só a Cristina ouvir isso.
-Deus o livre, ela arranca meu couro.
Adentramos a imensa biblioteca e fomos confiantes rumo a nossa caçada ao desconhecido.
Digitalizei o pedaço de papel e fiz uma busca rápida na internet. Nada.
Olhei para o Barba que assim como eu se sentiu frustrado. Resolvi fazer uma busca em livros de papel. Imprimi uma cópia do símbolo para o barba e pedi para ele seguir pelo lado esquerdo da biblioteca e procurar por livros de simbologia ou qualquer coisa que remetesse ainda que vagamente aquilo. Eu segui pelo lado direito.
Voltamos minutos depois, ambos com os braços cheios de livros pesados, colocamos sobre a bancada.
Depois de quase uma hora folheando páginas e mais páginas e sem sucesso algum, me senti exausto, estava quase na hora do Felipe sair da salinha de jogos e eu decidi fazer uma última busca desesperada. Sai entremeio as imensas prateleiras lendo os títulos nas bordas dos livros o mais rápido quanto podia, quando um deles em especial chamou minha atenção, era um livro velho de capa de couro cujo título era "Os lugares mais misteriosos do Brasil e suas histórias".
Me aproximei dele, e retirei da prateleira pela borda, analisei a capa em busca de algo que indicasse se aquilo tinha alguma relação ainda que mínima com meu símbolo misterioso, como não encontrei nada concreto olhei novamente para prateleira na intenção de colocá-lo no lugar, mas o que vi, me fez tremer os ossos. Do outro lado, no espaço vazio que o livro deixara havia um homem parado, cujo o olho estava posicionado perfeitamente na brecha, um homem de pele escura e olhos verdes como folha.
Eu travei, não sabia mais falar, gritar nem me mover, com muito custo consegui chamar o Barba que estava apenas a alguns passos de mim.
Ele parou ao meu lado confuso e olhou para prateleira, ao perceber aquele homem ali, ele entendeu o motivo do meu pavor. Barba sempre foi mais destemido que eu, e resolveu enfrentar a figura que viamos.
-Ei! Ei cara, o que você ta querendo, meu irmão?
O homem moveu-se saiu do nosso campo de visão, mas ouvimos sua voz grave e calma quando ele disse do outro lado:
-Aquele que com aplicação procura, sempre acha.
Barba puxou meu braço, me tirando do meu estado de choque.
-Vamos Greg! Vamos caramba. Vamos pegar esse cara.
Caminhamos a passos rápidos até o fim do corredor para dar a volta e nos encontrarmos com nosso colega misterioso, mas quando dobramos a esquina não encontramos nada incomum. Do outro lado só havia um grupo de estudantes de cerca de vinte anos sentados em volta de uma grande mesa.
Barba se aproximou de um deles e questionou:
-Desculpa interromper, pessoal, mas vocês viram um cara grandão, pele escura, olhos verdes por aqui?
O garoto olhou para os colegas como quem refazia a pergunta a todos e como ninguém se manifestou, respondeu:
-Foi mal, não prestamos atenção não.
Barba deu dois tapinhas no ombro do rapaz como quem diz um obrigado silencioso.
Nos afastamos andando lentamente, confusos e decepcionados. Peguei o Felipe na saída da salinha e só então me dei conta que ainda estava com o livro na mão. Dei meia volta, na intenção de retornar à prateleira para devolve-lo quando ouvi um grito e um alarme soou. No alto falante um rapaz repetia freneticamente. "incêndio na sessão 7, incêndio na sessão 7. Repito. Isso não é um teste, incêndio na sessão 7. Todos os leitores e funcionários favor dirijam-se para a saída mais próxima. Repito(...)"
Coloquei o livro dentro do meu casaco, pequei meu filho no colo e fomos até a saída principal. Atrás de nós um caos de pessoas saindo apressadas e desnorteadas.
Em silencio andamos até o estacionamento e entramos no carro.
Barba suspirou forte, e soltou um palavrão em tom animado e incrédulo.
-Que merda foi essa meu amigo? Caraaaaalho, que isso? Mano, sessão sete não era a que a gente estava? Caraaaalho, isso foi insano.
Eu estava com o olhar fixo a minha frente, era muito para processar, estava nervoso.
-Barba, e-eu roubei um livro da biblioteca municipal!
-O que
-E-eu nunca roubei nada na vida, nem bala, uma vez a moça me deu um real a mais no supermercado e eu devolvi. Eu roubei um livro da caralha da biblioteca municipal!
-Você ta fumado Gregório? Me atualiza aí que eu não to entendendo porcaria nenhuma do que você ta falando.
Abri o casaco, retirei o livro de dentro dele e apontei para o Barba. Estava eufórico.
O Barba olhou pra ele, processou por alguns segundos. Soltou uma gargalhada e ligou o carro.
-Ora, ora, parece que temos um grande ladrão entre nós. Próxima parada, Banco Central.
-Cala sua boca!- Ri.
O transito naquela área estava péssimo por conta do fuzuê do incêndio. Caminhões de bombeiro pra todo lado, curiosos dirigindo devagar e policiais isolando a área. Pedi pro barba ligar o rádio do carro pra gente saber o que os repórteres estavam falando sobre o acontecido.
Em várias estações de rádio, ouvimos notícias de que o incêndio fora criminoso, estavam analisando as câmeras de segurança para identificar o culpado. Chamaram o ato de terrorismo.
Naquele momento estávamos tensos. Aquilo tinha tomado proporções muito maiores do que jamais pudemos imaginar. Não eram apenas caras estranhos querendo fazer uma pegadinha de mal gosto, era algo muito sério, e o pior de tudo é que eu estava envolvido.
-Mano. -Eu disse tentando não parecer nervoso-. O que eu vou fazer agora?
Barba me olhou por uns instantes.
-Você? Você nada. NÓS vamos dar um jeito nesses caras. Vamos na polícia, talvez eles nos ajudem em algo.
Me exaltei.
-Policia? Você ta locão? Eu não posso ir na polícia! E-eu, eu roubei a merda de um livro!
-Ta bom, ta bom! Calma! Vamos resolver nós dois então. Eu e você. Sem polícia.
-Melhor assim.- Esfreguei as mãos no rosto tentando aliviar a tensão e pensar lucidamente-. Mas o que nós dois contadores de uma empresa furreca podemos fazer? Estamos fu...- Lembrei que meu filho de 5 anos de idade estava no banco de trás ouvindo todos aqueles palavrões. Me senti um péssimo pai.- Estamos lascados!
Barba me deixou na porta de casa, tudo parecia estranho ali, segurando a mãozinha gelada do meu filho tudo que eu conseguia sentir era medo. Eu havia passado o dia todo correndo atrás de mistérios e me esqueci completamente que, apesar das minhas horríveis aventuras eu ainda era um pobretão que por acaso trabalharia na manhã seguinte e não tinha nenhuma babá.
Barba já estava saindo quando pedi para que esperasse um pouco e abaixasse os vidros. Precisava fazer um pedido a ele:
-Mano, tem como você me arrumar um desses seus atestados aí? Ainda to sem babá cara.
Barba fez uma expressão malandra.
-É claro que eu consigo, Brother! Peguei um de 7 dias pra mim. Te arranjo um igual, até você acertar essas paradas suas aí com os iluminatti.
Não acreditava que tinha escutado aquilo. Barba era mesmo muito doidão. Ri muito.
-Sim claro! E com os Maçons também.
Barba riu, mas depois fez uma expressão pensativa.
-Mano! Será que eles são Maçons?!
Não podia acreditar naquilo. Bati a mão na testa.
-Vai pra casa, Barba.
Ele arrancou com o carro em alta velocidade e saiu fazendo uma barulheira pelo bairro todo.
Aquele velho golzinho deve estar todo ferrado com as loucuras que o Barba apronta com ele. O que se pode fazer? O cara vive intensamente. Eu, por outro lado, não passo de um pamonha.
Destranquei a porta e logo que ela abril Felipe saiu correndo pra dentro, imaginei o quão cansado das aventuras de hoje ele deveria estar, correu pra geladeira e pegou um pedaço enorme de chocolate que estava lá esquecido. Pensei em repreende-lo por comer doces àquela hora, mas não o fiz, só desta fez não faria mal algum.
Comecei a dar uma organizada na casa, quando fui procurar o Felipe para organizar os brinquedos da sala o encontrei jogado na minha cama dormindo ainda com o chocolate lhe lambuzando as mãozinhas. O cobri e voltei aos meus afazeres domésticos.
Pensei em abandonar toda aquela loucura, aqueles homens de capuz e o episódio todo da biblioteca, não era nenhum agente secreto para ficar resolvendo mistérios, mas era um pai que precisava tomar conta de seu filho pequeno. Decidi que no dia seguinte devolveria o livro à biblioteca e diria que na correria o levei por engano e se acaso aqueles homens aparecessem novamente eu chamaria a polícia. Era o mais sensato a se fazer.
Estava perdido em meus pensamentos quando ouvi uma batida na porta, dei um pulo do susto que levei, não estava esperando ninguém, provavelmente o Barba havia esquecido algo e voltou para dizer.
Abri a porta calmamente, mas não foi o Barba que vi, na verdade era uma figura completamente diferente, uma moça loira, não mais que quarenta anos, trajando um vestido fino vermelho, parecia uma celebridade. O único pensamento que me passava pela cabeça era o que um ser tão deslumbrante fazia à minha porta no subúrbio do mundo. Quase não consegui dizer nada.
-Senhor Boulevard? -Ela perguntou com um sotaque russo-.
Balancei a cabeça como que para desfazer minha cara de bocó.
-Eu mesmo, pois não?
Ela me entregou um envelope igualmente vermelho com meu nome escrito em letra cursiva.
-Compareça neste endereço hoje ás 20:00 horas.
Não entendi porcaria nenhuma, percebi naquele momento que de uns dias para ali eu não entendia nada de porcaria nenhuma. Tentei parecer educado.
-Perdão Senhorita, do que se trata?
Ela não tinha expressão alguma.
-Posso lhe dizer que não se trata de um convite.
Fiquei atônito e com um pouco de raiva também, eu agora seria forçado a ir a lugares.
Abri a boca para protestar, mas ela não permaneceu para me escutar, virou as costas e andou até um enorme carro preto que estava parado em meu portão, sentou no banco de trás e saiu sem nem se quer olhar novamente para mim.
Pronto! Pensei. Mais essa agora! Eu já tinha decido não entrar nessa loucura.
Passei a tarde tentando ignorar aquele envelope maldito, mas eu sofria de um mal incurável, a curiosidade.
Abri o envelope e dentro dele só havia um bilhete simples escrito à mão com um endereço. Naquele momento eu entendi o que me forçaria a ir até lá. Eu mesmo.
Liguei pro Barba e pedi pra ele cuidar do Felipe naquela noite. fucei o guarda roupas em busca do meu terno de casamento, me pareceu pela aparência da moça que eram pessoas poderosas com a qual iria lidar, então precisava me misturar. Ao retirar meu velho paletó empoeirado no cabide, meu coração apertou. "Que saudades Julia, meu amor. Se ao menos você estivesse aqui".
Afastei meus pensamentos tristonhos e me trajei a rigor.Escutei alguém bater à porta, era o Barba, finalmente.
Estava com um cigarro de seda na boca.
-Que porra é essa aí,Barba?
Ele soltou a fumaça e me respondeu com a voz rouca:
-Maconha.
-Eu sei que é maconha seu animal. Eu quero dizer.. cara tem uma criança aqui, você sabe né.
- Ou, eu sei ta. -Jogou o cigarro no chão e pisou em cima-. aí, pronto já joguei fora.
-ah, sim agora ta melhor mesmo. - Estava nervoso, passei a mão pela cabeça-. Deus, eu vou deixar o meu filho com um drogado!
- Cara não surta, relaxa, vai lá encontrar a loira gostosona.
-Eu não ... olha, só não deixa ele sair de casa ta? Ele se vira.
-Ta bom.
Eu não sabia que rumo aquilo estava tomando, peguei as chaves do carro do Barba emprestado e saí sem ter a mínima ideia do que me aguardava.
Dirigi uns vinte minutos pela rodovia, o endereço que a moça me deu era de uma zona rural, não sabia ao certo qual entrada lateral tomar, então parei no acostamento e peguei o bilhete novamente. No final da descrição do endereço estava descrito "Fazenda Escorpião". Dirigi mais uns quinhentos metros e encontrei a entrada com esse nome.
Parado ali na entrada de uma longa estrada de terra eu refleti se eu realmente estava fazendo uma boa escolha, e se me fizessem algum mal, como ficaria meu filho? Ele já não tinha mais a mãe e por conta de uma besteira perderia o pai também?
Pensei em dar meia volta e acabar com aquilo, mas antes que eu pudesse tomar qualquer atitude alguém bateu no vidro da janela. Quase morri de susto, do lado de fora um homem alto, trajado de segurança, usando terno e aqueles comunicadores de ouvido, pedia para que abrisse a janela:
-Boa Noite senhor. Preciso dos seus documentos de identidade e bilhete de convocação.
Eu ainda estava me recuperando do susto, não sabia como lidar com aquilo, com as mãos tremulas e ansioso abri o porta-luvas e entreguei o que ele me pediu. Minha testa suava, eu estava realmente nervoso.
Ele deu uma olhada, falou alguma coisa no comunicador em uma língua que eu não consegui compreender e me devolveu a documentação.
-Siga em frente por mais cem metros, há uma vaga no estacionamento reservada para o senhor após o portão principal. Tenha uma boa noite.
Acenei com a cabeça para identificar que tinha entendido.
-Obrigado.
Era isso, a partir dali não tinha mais volta, se alguma coisa parecesse fugir do controle eu planejava sair de lá o mais rápido possível, dirigi mais um pouco a frente quando avistei um enorme portão branco perolado, era magnifico, digno da realeza.
Ao ultrapassar o portão havia uma vaga logo a frente, no meio de vários carrões de luxo com o meu sobrenome escrito em uma placa. Estacionei o golzinho, que parecia tímido e ofuscado em meio a tantas maquinas milionárias.
Subi uma pequena escadaria de mármore e parei frente a uma enorme porta branca. Toquei a campainha.
Segundo depois a porta se abriu, e lá estava novamente a minha frente aquela mulher deslumbrante, trajando um vestido de veludo preto, igualmente charmosa e fina.
-Por favor entre, estávamos te aguardando. Madame Nikole Ivanov, ao seu dispor.
Entrei meio desconfiado a casa mais parecia um palácio, escadarias enormes de mármore se elevavam em espiral até um segundo piso com pequenas salinhas como em um teatro.
Entramos em uma enorme sala redonda com várias cadeiras organizadas em um semicírculo, contei pelo menos umas vinte, mas sei que haviam mais. Sentados uma em cada cadeira estavam pessoas poderosas, vi alguns vereadores a até mesmo o prefeito em uma delas, o restante deveria ser empresários ou celebridades, não sabia dizer, só conseguia ver a riqueza e o poder em suas faces pomposas.
No meio deles havia apenas uma cadeira vazia, imaginei que seria a minha então tomei-a e me sentei. Ainda estava nervoso com aquela situação, minhas mãos me entregavam e eu batia os dedos no apoio ansiosamente.
Minutos após a minha chegada, Madame Ivanov, que havia se retirado, voltou a sala empurrando uma cadeira de rodas com um senhor muito idoso sentado nela. Colocou a cadeira o centro da sala, para que todos nós o víssemos. Apesar da idade avançada o senhor estava finamente trajado, e tossia em intervalos muito pequenos.
Ivanov parou ao seu lado e começou a discursar:
-Sejam bem-vindos a nossa trigésima sessão de sucessão. Como muitos de vocês já sabem, meu pai, Dom Dimitri Ivanov, está muito doente. Após a sua partida, eu, tomarei o seu lugar como suprema mestre da fraternidade brasileira.
Fiquei confuso e agitado, aquilo era o que? Algum tipo de seita? Estava perdido, mal sabia como me comportar. Ela continuou:
-No entanto, para tomar o meu lugar como governador geral da fraternidade, meu pai escolherá um de seus herdeiros. Eu já tenho o nome de cada um de seus filhos, e ele, junto aos supremos mestres de cada país fará a melhor escolha.
Minha cabeça rodava, governador geral? Nossos filhos? Eu não envolveria o Felipe nessa loucura, eu nem mesmo fazia parte daquilo tudo, não tinha a mínima ideia do porque havia sido levado até aquilo. Protestei.
-Perdão, Madame Ivanov, mas receio que meu filho não fará parte desta votação, eu nem mesmo faço parte disso.
Todos na sala voltaram suas atenções para mim. Me senti suar. A face da mulher era inexpressiva, não poderia dizer de forma alguma como ela sentiu diante da minha objeção. Só depois de alguns segundos me analisando ela exclamou:
-Não. O senhor certamente não, Senhor Boulevard. No entanto a Senhora Julia, era uma de nossas mestras. Você é o representante dela como esposo, devido a infortuna circunstância de sua ausência, nada mais.
Me senti amolecer, tontear, tamanho o meu choque. Julia? Não, não poderia ser. Como? A Julia fazia parte dessa bizarrice. Como eu nunca soube de nada? Porque ele envolveu nosso filho nisso? Eu estava com raiva, como a mulher que eu amava era membro de uma fraternidade louca e eu não sabia? Ivanov continuava a falar.
-Nesse momento faremos uma pausa de quinze minutos para a tomada de decisão dos supremos mestres. Aguardem, por favor.
Ivanov saiu da sala empurrando a cadeira de seu pai. Eu ainda sentado na cadeira, suava frio. Não conseguia processar aquilo, minhas mãos tremiam e ninguém ao meu redor parecia estar preocupado. Quinze minutos pareceram ser horas até que Nikole e o velho senhor retornaram:
-A decisão foi tomada.
Ela tinha um envelope vermelho em mãos. Eu só conseguia pensar. "Que não seja o meu filho, por favor, que não seja o meu filho".
Ela abriu o envelope e leu o cartão que estava dentro dele. Ela soltou um risinho irônico, pareceu sair involuntariamente, só então exclamou:
-Felipe de Alcântara Boulevard.
Meu mundo caiu, naquele momento, eu senti vontade de vomitar, mas não pude, estava paralisado. As pessoas ao redor sussurravam umas com as outras, incrédulas. Meu coração acelerava cada vez mais. Parecia que eu iria explodir. Escutei uma voz masculina vindo do outro lado da sala em tom alto. Era o prefeito.
-Governadora, isso é inconcebível! O garoto é uma criança!
Nikole deu com os ombros como quem diz que não há o que fazer. Pediu silencio a todos.
-Devido a esse atípico fato, declaro que o senhor Gregório será o Mentor de Felipe até que ele alcance a maior idade. Isso não indica a detenção do poder a ele, O cargo é de Felipe por direito, ele só responderá por ele até que o menino alcance a maior idade.
Os cochichos retornaram, os participantes pareciam não aceitar a decisão. Ouvi alguém gritar no meio deles.
-Isso é um absurdo!
Madame Ivanov levantou a voz.
-Absurdo ou não, é a decisão dos supremos. Esta sessão está encerrada! Há um coquetel na sala ao lado, aproveitem.
Ela saiu, soltando o ar de stress. Todos levantaram e se dirigiram para a sala indicada ainda cochichando indignados. Fui atrás de Ivanov.
-Madame Ivanov por favor espere! Nikole!
Ela se virou para mim, também não parecia muito satisfeita.
-Precisa de alguma coisa Senhor Boulevard?
Eu ainda estava muito nervoso, não sabia como começar.
-Olha, eu sei que eu não faço parte disso, a Julia nunca me disse nada sobre vocês, eu realmente não sei o que fazer.
Eu estava desesperado. Ela cerrou os olhos, parecia surpresa.
-Não? Interessante.
-Não, não, não, nada de interessante, olha você não entende, aqueles caras de capuz assustaram minha babá, eu não tenho ninguém, não sou esses ricaços aí, preciso trabalhar, não da.
Ela arregalou os olhos, pareceu assustada.
-O que você disse?
Fiquei confuso, o que eu disse que a assustou?
-Eu não sou rico?
-Não isso, idiota, os caras de capuz, o que você disse sobre os caras de capuz?
-Bom, eles ficam me observando em frente à minha casa, deixam bilhetes.
Ela pareceu ficar nervosa, passou a mão na testa tentando se recompor.
-Quatro caras de capuz, é isso?
Eu não estava entendendo, o que havia de errado.
-Sim, quatro deles, eles não são dos seus?
Ela se apoiou na parede, parecia apavorada, e eu me apavorava mais ainda vendo aquilo.
-Não, não são dos nossos. Isso é ruim, muito ruim. Já estão aqui.
Madame Ivanov me deixou sozinho na sala, saiu rápidamente batendo o salto alto no piso de mármore fazendo ecoar um som seco de trote pelo grande salão. Eu fiquei ali parado, confuso, nervoso e ávido por respostas. Levei as mãos à cabeça e dei aguns passos desnorteados pelo salão até decidir sair dali e ir para casa.
Cruzei o salão até a porta principal andando tão rápido que se alguém me observasse de longe poderia até mesmo dizer que eu estava correndo, entrei no carro e me sentei no banco do motorista sem saber ao certo ainda o que fazer, e foi ali, no silêncio e na solidão que tudo finalmente pesou.
Pensei naquelas pessoas, na votação, na minha esposa. Desferi socos desesperados contra o volante e me peguei chorando. Lembrei do meu filho, me recompus, limpei o rosto na manga do terno e girei a chave.
Não me lembro muito bem de como cheguei em casa, mas cheguei inteiro, estacionei o carro e olhei para a casa. Dela podia se ver apenas uma janela iluminada, era a luz da sala de estar. Entrei ainda amargurado, deixei as chaves na mesa da cozinha e fui até a sala. A cena que encontrei me fez dar o primeiro sorriso do dia, Barba e Felipinho estavam apagados, babando no sofá abraçados, ambos fantasiados de pirata com objetos improvisados. Aquilo aqueceu meu coração. Apesar de toda a loucura eu ainda tinha pessoas que me amavam acima de tudo.
Apaguei a luz da sala e deixei os dois dormindo lá, do jeitinho que estavam, não me atreveria a acorda-los. Entrei no quarto e me despi do meu traje de gala. Estava quase me deitando quando observei o livro que roubei da biblioteca, abandonado no criado mudo. Me peguei pensando no porquê diabos eu tinha me interessado por aquele livro tão aleatório e sem sentido.
Fui até ele e o encarei por um tempo, enquanto minha mente vagava buscando uma explicação, me lembrei da Julia, viva e linda. Amava ver a maneira como ele erguia seus cachos escuros em um coque para ler livros malucos para o nosso pequeno bebê.
Enquanto me deliciava em minhas memórias, por um instante pareci me recordar da minha esposa carregando um livro muito parecido com aquele que eu agora estava segurando, forcei a memória por alguns instantes até me dar conta de que com toda a certeza era o mesmo livro.
Folheei o livro desesperadamente tentando encontrar qualquer coisa fora do comum. depois de muito tempo e sem sucesso, esbravegei e soquei-o contra a madeira do criado mudo. O barulho que aquilo fez fi estranho, oco. Peguei a rapidamente o exemplar de volta e analisei com todo o cuidado a capa grossa que o revestia, até que percebi um relevo quase imperceptível que surgia na contra capa. Com um pedaço de clip de papel consegui desgrudar a parte em relevo da capa. Dentro do buraco, havia um fino medalhão prateado com um entalhe muito peculiar. Um circulo, uma estrela e quatro olhos sinistros. As palavras pularam da minha boca:
- Mas que merda, Julia!
Acordei energizado, tomei um banho rápido, peguei o celular e liguei para o Barba.
-Barba?
- Oi? Greg? Ta tão cedo cara, aconteceu alguma coisa?
- Eu tenho uma ideia, preciso da sua ajuda.
- Chego aí em dez minutos.
Deixei o Felipe com a Cristina, esposa do Barba, expliquei sobre o medalhão para ele. Tirei uma foto do objeto e imprimi o maior que pude. Colei na minha porta da frente, abri duas cervejas e sentamo-nos no sofá.
Barba me olhou com expectativa, algo em seus olhos indicava animação e adrenalina, características as quais eu invejava imensamente. Cansado do meu silencio ele questionou.
-E agora?
-Agora esperamos.
Dei uma golada na minha bebida e permaneci frígido. Estava decidido a obter todas as respostas ali.
O dia se desenrolou sem grandes emoções e a noite já quase caía enquanto eu e Barba permanecíamos jogados no sofá da sala, sem esperança alguma e assistindo um programa de culinária da tevê local.
Barba me dirigiu um olhar cansado e levantou para despedir-se, nesse exato momento ouvimos alguém bater à porta. Levantei de supetão e parei por um momento hesitante frente ao trinco, respirei fundo e abri.
Parado de frente para mim com uma postura invejável, completamente ereta e trajando uma farda muito bem alinhada, estava um homem de meia idade muito provavelmente militar. Sua expressão estava séria e seus duros olhos me encaravam com repreensão.
-Boa noite, Boulevard. O senhor tem a mais vaga noção da origem completamente sigilosa do símbolo que ostenta de forma tão vulgar em sua porta da frente?
O sangue me inundou os olhos, a petulância que me saltava à boca ignorava completamente a figura intimidadora daquele oficial.
-Na verdade, não tenho mesmo. Sou completamente leigo a respeito dessa coisa que vocês chamam de sigilosa e que por motivos que eu nem mesmo sei dizer acabou em minhas mãos civis. A imagem continuará aí até que essa merda toda me seja esclarecida.
Me arrependi de ter aberto a boca no pontual momento em que a fechei, mas já era tarde, tudo já havia sido dito e eu esperava qualquer que fosse a consequência agressiva que provavelmente sofreria.
Contradizendo todos os meus temores e instintos, o homem virou as costas e saiu, dirigiu-se à um carro preto e antigo que estava estacionado próximo ao meu portão. Quando pensei que havia sido deixado falando sozinho, a porta traseira do veículo se abriu, e de dentro dele surgiu o que julguei ser um homem muito robusto trajando uma roupa completamente preta e com o rosto coberto por um capuz.
Meu coração palpitou forte e a minha mente já estava a planejar um plano de fuga, eu queria correr, me esconder. A única frase que eu pude formar naquele momento e que saltaram dos meus lábios mais rápidos do que poderia pensar foi: "Fodeu! ".

Pequena Resenha Critica
O "K"(aos) Numinoso da "Literapura"de Vicente Franz Cecim no Livro que já Nasceu Clássico
"K, O Escuro da Semente"
"Viver vale/Um delírio"
Sergio Capparelli, in, De Lírios e
de Pães/(A partir de um provérbio chinês)
.......................................................................
Prólogo: E-mail ao editor:
Olá Nicodemos Sena - Editor da Editora LetraSelvagem
Saudações. Assustado acabei de dar uma passada em transe no livro do CECIM. Que lindeza de loucura! Nunca a leitura é só uma vez só ou inteira nele/dele? Nunca tinha lido nada perto de parecido. Vivendo e levando susto; se eu ler mil vezes o K, conhecerei todo o abecedário neural/trans-espiritual do cara? Benza-Deus como diria minha genitora. Onde já se viu isso? Tentei ir lendo e me desatando os nós das sandálias, mas ainda não foi fácil. Acho que perdi uns parafusos, atiçado e alumbrado... Esse CECIM existe mesmo ou é invenção da letra selvagem na Amazônia-brasilis-Andara? Mando texto anexo com erros e acertos de comentários sobre o baita livro, para vc ver o que acha(...) Perdoe as ligas e anelos e divagancias; pensa que é fácil? E que o K tenha piedade de nós pobres mortais comuns.
.................................
-... o impacto deste livro "K, O ESCURO DA SEMENTE" em mim - como desde antes na aturdida crítica especializada como um todo - e a técnica do contraponto, enquanto na abarcada (e proposital de feitio) dualidade "poesiaprosa", até o assustador jorro neural diferenciado do autor, Vicente Franz Cecim, já consagrado em outras obras espetaculares como único e raro no (seu) gênero que particularmente criou, como fora de série, de onde esplende sua "verborrágica" (aí se juntando verbo e mágica), loucura-lucidez, o já chamado estado "álmico" e o numinoso na mesma rapsódia, e, você, leitor, pego pelas palavras não saca assustadiço do que afinal se resta na leitura inesperada, se mergulha nesse "K" do literato, ou, se assim mesmo, literalmente resta-se também como um "koiso", no "kaos" leitural, ou se só e ainda "bebesorve" da almanau do autor nas escrituras em enlevo, provocadora, incomum porque especial, feito alucilâminas em "prosaverso", em que eu, lendo, também, por assim dizer "enloucresço". Livro que mexe com o leitor é livraço. Como é que pode isso, como é que pode assim? Livro bom é quando o leitor morre no final? Passei perto.
-... você vai, digamos, navega (nave cega a priori), depois, lê-se, vê-se, e capitula, se enleva também atraído, fisgado, abduzido, o que quer que seja a surpresa e o chique do chamamento ulterior. Como pode alguém (no humano), escrever isso, de-assim, desse jeito, assaz, na fuça, tresloucado, literalmente diferente e sem explicação, mas, estupendamente transpolar, multipan-polar, literalmente "literapura", dando com as palavras entrecortadas (e, entre, contadas), fragmentos/entre/vistas, numa vazão como magma entredentes/entrementes, alma limada (lixada?), tirando clarezas de sutilezas, cactos acesos de brutezas; tirando do "spiritual" (arrebatamento?) de si esses mantra em tons e tintas de um surrão interior, como se a nos "almar". Esse Cecim é único no mundo das ideias, das artes, da literatura singular que per/segue? Já antes elogiado por críticos de alto nível, já bem editado, até no exterior consagrado, já em continuação em sua sina sígnica, como uma espécie assim de um livro de Jó, de profecias (e profe-ceias) de Isaias, ou de Salmos contemporâneos e pós-modernos, a escrever sempre e tanto o mesmo livro - o LIVRO DE CECIM - continuando um tomo no outro e no outro, todos os livros um só, todos os livros ele mesmo em seu perene estágio de espírito; estado de semente de mostarda aos quatro ventos, aos sais de si, nas desaceleração de partículas do sal e de açucares de si, neutrinos narrativos, per-furando criações, entre pólens, ácaros, ícaros, troios até (mistura de joio e trigo), em perigritantes (perigos/gritos) a deslavar-se, enlevando-se, deste êxtase que fez e produz o poeta e literato sobre a arte como libertação/levitação. Cecim escreve como quem, ponhamos, se levita?
-... K, O ESCURO DA SERPENTE, segue a trama-tramóia-trauma metafísica da "asaserpente", transcreve o lumiar do encordoamento dos andamentos-continuações, pois a vida e a arte são isso: pesadelos customizados. Ah o adâmico horizonte agônico do ser/ente do devir. No dial quebrado de CECIM, o éter na mente é palavravável com atiço de imaginação? Tudo na sua obra é pura vidamorfose. O alfabeto humano não é humano? O homem é um erro, uma falha, uma falta de? Pois a arte é (precisa ser) o/esse preenchimento de vazios entre penumbras. Alvuras padecem rascunhos, e podem ser ranhuras de erratas elípticas. Os livros de CECIM não são deste mundo? Que mundo? Que desmundo? Ah a vox que clama no deserto dos bárbaros contando do ovo do sono, nessa sodomogomorra que ainda precisa de babeis para coroar o vazio da alma insepulta do Homo sapiens ao Homo demens, e do Homo degradandis ao homo interneticus...
-Considerando (especulando) o "K" da obra que aqui também supostamente pode ser de "Kaos", palavra de origem grega que ocorreu por volta do ano 800 AC com Hesíodo na Grécia antiga, e que era usada pelos gregos significando vasto abismo ou fenda; palavra que também alude ao estado de matéria sem forma e espaço infinito que existia antes do universo ordenado, suposto por visões cosmológico-religiosas, e, finalmente, o sentido mais usual de caos: de desordem, confusão, grande vazio ou grande amplitude, vazio primordial, podendo se pensar sobre que espécie de semente é essa, esse escuro que o autor burilando cria, entoa, evoca, ou que escuro é esse veios de sementes criativas do autor? Aliás, a bem dizer, Cecim não escreve, destila-se, destrincha-se, dilata-se. Quando escreve ao sair de si, entra (encontra) seu Nirvana? Ai de nós! Falando sério, CECIM descobre o inexistente, desdobra a regra formol, e, ao se assentar escriba, escrevendo vivifica a nosotros com seu tear de criação, afrouxa nós em entalhes e preciosidades de literatura esplendente de primeira grandeza lítero-cultural-criacional. Você entra no livro para ler o "romance"(?) de 384 páginas, e começa também a ler as entrelinhas e as linhagens dos desenhos gráficos, estéticos, pseudodispersos, vai entrando pelas beiradas e parágrafos abertos, e depois entra nos casulos de sua plantação de cenas, de cenários seus inventariando incêndios íntimos, e quando se vê não há como rotular, nem como nominar nada, você não se encontra mais, se perde de critérios e normas, nessas cantárias dele de criar o não-ser dizendo, o não-lugar aclareado, os sem nome, sem teias, num enlevo de um ser vertido para o nosso comum dizível, no entendível, no nominável enquanto prosa, enredo, ensaio, romance(?) em prosa poética, destrinche, prosa poética que seja em estrofes deitadas, vertentes e pinceladas de limonódoas, bijutelíricas, aqui e ali dando um susto no leitor que, também, perde-se de si, embarcando nessa canoa atiçada de K para ver e sentir, fluir, ver aflorar também frutos e raízes, e depois ainda (e por incrivel que pareça) não sacar exatamente o que é o ali e quando, arrebatado, sem ter um eixo exato do que é uma coisa e outra, porque, até mesmo na chamada Linha de TAO, o que não é passa a ser, o que já não existe se vê/lê, pois criado é nutrido, e o que se diz pode não ser exatamente quando, e o que se desdiz é ante-facho, arrebatamento, lume e correspondência com o que agrega o todo, formando a obra, em que o autor se dilacerou, plantou, orbitou, entre incensos, detalhes, silêncios, paradigmas, experimentações, pensagens (pensamentos mensagens), e deu a luz (bem isso) a esse livro-continuação, um livraço que já nasce clássico no gênero (que gênero?), livro lume e foz, enquanto assustador de tão rico e nobre, de seu tanto acervo de densidade em competência de zelo experimental (existencial) que seja na própria olaria de sua com-feitura. "K" é isso e muito mais. O que dizer ou tentar isso, depois de sair-se pelo menos alumbrado dessa arca de todas as palavras, todas as somas, todos os riscos e de/lírios de trânsito neural, de marco criacional, até assentar de novo no crível do plano existencial reles e trivial e comum dessa vidinha efêmera, desembarcando então dessa leitura/embarque?
A obra recheada de partituras lítero-poéticas de CECIM, quase um livro-ensaio "sagradoprofano" de bela e feliz e exuberante experimentação audaciosa e com altíssimo (em todos os sentidos) despojo lírico-espiritual-álmico todo próprio dele, feito epifanias de eulogias de gnosticismo laico, por assim dizer. Deus inventou as palavras, o dianho caído inventou os números, e os seres inferiores da casta telúrica deram de inventar a arte ousada para se sentirem cultuadores da criação que há no nominável sem prumo, no risível em sangria desatada, e no finito com aparência de divinus em perigrinanças nessa terra de Andara, Neverland, Pasárgada...
Matizes e iluminuras, derrama e esparramento de oleiro ornando sementes nidificadas, tramando poesia em prosa e contações, com anelos de temáticas em linguística muito bem barulhada e torneada. Tudo ornando livro, páginas e rumo sequencial num tabuleiro que parece labiríntico, e não é, e você segue o curso da trama, indo a navegar sem saber exatamente o que é margem, o que pode ser correnteza, o que tente a ser escoadouro, ou mesmo píer, mas sustentado pelo susto do porte da obra e então se deixa levar como um homem-árvore sendo nutrido, estra/vazando, muito além do simples e comum, seguindo as terras do bem-virá de Andara, como um leitor se escrevivendo e "escrevilendo" na alma de lã de vidro do autor, sem se desnortear das narrativas, ideias que arrebatam, falando, dizendo, feito um estado onírico de se entrar e sair estupefato com a musicalidade das letras do autor. Um reino de fantasias feito de palavras com/pensadas que agrega estrofes como ovelhas num rebanho historial. O fantástico e o inverossímil se apresentam. O inverso também, tudo pendurado nos cipós das implicâncias e reinações. E os paradoxos que se unem? O que pode parecer trevas é luz, o que parece luz é pântano escorregadio, e o que parece difícil é simpleza entre o lírico e o acabamento dele, numa atmosfera de lucidez/espírito/toleima/confeito lustral.
Do livro K e dele o autor CECIM, diz o literato da USP Adelto Gonçalves (In site Pravda/Rússia): "K O escuro da semente é mais um daqueles livros que o autor chama de "visíveis" e reúne na obra imaginária Viagem a Andara o livro invisível, que não escreve e só existe na alusão de um título. É o que o poeta denomina de "literatura-fantasma", em que foge a uma classificação formal, pois não se sabe se se trata de um romance escrito em prosa poética ou de um longo poema em prosa, mas sim de um gênero híbrido, que absorve todos, constituindo um diálogo entre Pai e Filho ou entre irmãos, como Iziel e Azael e Oniro e Orino. É também o seu primeiro livro em iconescritura, pois une imagens e palavras. De difícil leitura e definição, ao menos para aqueles leitores pouco afeitos à poesia menos convencional, o estilo de Cecim lembra a inquietação existencial de Samuel Beckett (1906-1989), Thomas Stearns Eliot (1888-1965), Ezra Pound (1885-1972) e Franz Kafka (1883-1924), passando ainda por Lautréamont (1846-1870), especialmente o de Os Cantos de Maldoror, e Zaratustra (660-583 a.C).
Tudo em CECIM adquire voz própria, rumo único, alma dilacerada ou se reconstituindo/criando seu mundo todo próprio, sua literatura toda única e especial, entre o ser marcado, o feérico, o inusitado, entre esvairados utensílios, criando pomos, pontes, tomos, diálogos, parágrafos, ramas e floresteiros, feito tudo em K, O Escuro da Semente, um achado, um achadouro. Com o suprassumo de sua alma, o autor escreve os sutras quânticos de uma obra que ao mesmo tempo que tem suas epístolas, tem suas respirações visionárias, sua drenagem de insurreição, sua peregrinação em sumulas, "nuvensfronteiras" se abrindo, sinfonias de letramentos jugulares. Leiam o livro, mergulhem nele, e nunca mais caiam em si, nunca mais caibam em si, nunca mais respeitem sextantes ou areias movediças. O tal do "céuterra" é dentro dos nós das cinzas de nós? A "Alma/zonia" é ele, dele, e em nele se reproduz em livros, assim como livrações mesmo, até nesse "serdespanto" em que afinal nos restamos todos com o que nos nutrimos de ler Vicente Franz Cecim.
-0-
Silas Corrêa Leite - Professor, Jornalista Comunitário e Conselheiro em Direitos Humanos. Ciberpoeta e blogueiro premiado, escritor membro da UBE-União Brasileira de Escritores, Autor entre outros de GUTE-GUTE, Barriga Experimental de Repertório, romance, Editora Autografia, RJ.
BOX:
K, O ESCURO DA SEMENTE
Vicente Franz Cecim, Editora LetraSelvagem, 2016 - Coleção Sabedoria -

LETRAS-RESENHA CRÍTICA
'Goto', Um Romance Pós-moderno Resenha de Adelto Gonçalves (*)
Itararé, pequena cidade do Estado de São Paulo na divisa com o Paraná, ganhou notoriedade à época do movimento civil-militar de 1932 em que a alta burguesia paulista, desalojada do poder em 1930, tentou, de maneira desastrada, afastar pelas armas o regime instaurado igualmente à força por Getúlio Vargas (1882-1954), fazendeiro gaúcho que soube galvanizar o ressentimento das demais unidades da Federação contra a chamada política do "café com leite".
Como se sabe, desde o advento da República, capitalistas paulistas e mineiros, praticamente, tinham o monopólio dos benefícios e benesses que a União poderia oferecer, usufruindo-os à exaustão, enquanto os demais Estados chafurdavam no subdesenvolvimento, quase todos entregues à espoliação promovida por suas oligarquias locais.
Em 1932, deu-se então o episódio da projetada batalha de Itararé, "aquela que não houve" porque as forças de um lado e de outro concluíram que não valia à pena levar adiante aquela guerra fratricida, com a capitulação das elites paulistas, que já haviam sido derrotadas em 1930, com o afastamento abrupto do presidente Washington Luiz (1869-1957). O episódio foi utilizado, de maneira jocosa, pelo jornalista, humorista e escritor Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly (1895-1971), conhecido por Apporelly, que passou a apresentar-se sob o falso título de nobreza de barão de Itararé.
Obviamente, o que houve foi uma conciliação de interesses, que permitiria a Vargas levar até 1945 um projeto de governo autoritário e populista que haveria de flertar ostensivamente com o fascismo e o nazismo, até a virada em favor dos Aliados (Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética) que se opunham aos países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Hoje, sabe-se, porém, que a história oficial escondeu que houve mortos de lado a lado em Itararé, entre os invasores gaúchos e os resistentes paulistas.
I
Mais de oitenta anos depois, a bucólica Itararé agora entra pela porta da frente da Literatura Brasileira e ganha foro comparável ao do Yoknapatawpha County de William Faulkner (1897-1962) na literatura norte-americana, e de Macondo de Gabriel García Márquez (1927-2014) e de Santa Maria de Juan Carlos Onetti (1909-1994) na literatura latino-americana. A paulista Itararé é o palco das aventuras contadas por Aristides, ou Ari, ou ainda Goto, personagem do romance Goto - o reino encantado do barqueiro noturno do rio Itararé (Joinville-SC, Editora Clube de Autores, 2014), de Silas Correa Leite (1952).
II
Obra do século XXI, em que toda a coerência formal da narrativa já foi desrespeitada, Goto surge como romance pós-moderno, ou seja, é fragmentado, desintegrado e de linguagem rebelde, assumindo-se como não-romance ou anti-romance, ao romper com as fôrmas literárias do Romantismo e do Modernismo, como diria o insuperável professor e ensaísta Massaud Moisés (1928).
Afinal, o barqueiro, em seu trabalho de levar gente de uma margem para outra do rio Itararé, contava para o que ouvia, mas falando na primeira pessoa, exatamente do mesmo modo como havia ouvido o caso. Com isso, o romance adquire também um sentido polifônico, ou seja, composto por muitas vozes que não a do autor, tal como definiu o crítico literário e filósofo da linguagem russo Mikhail Bakhtin (1895-1975), ao analisar a obra de Fiódor Dostoiévski (1821-1881). É nesse sentido que se pode dizer que Goto alcança o status de pós-moderno.
II
De fato, dono de um estilo inconfundível, Silas Correia Leite é, no dizer do poeta bielo-russo-brasileiro Oleg Almeida (1971), um dos mais originais escritores deste Brasil pós-moderno, com uma visão da realidade que se manifesta de maneira socrática: com ironia, coragem e irreverência. E isso o leitor constata com facilidade logo nas primeiras linhas deste romance permeado por "causos" contados pelo barqueiro de Itararé, como o do ancião analfabeto que assinava havia mais de 50 anos um jornalão do Rio de Janeiro apenas porque precisava de papel farto para embrulhar a carne de seu açougue.
Além dos "causos" contados em linguagem caipira, há o depoimento em que Goto, espécie de alter ego do autor, conta as agruras pelas quais passou nas mãos dos esbirros da ditadura civil-militar (1964-1985) que tanto infelicitou a Nação brasileira:
"Era o regime de exceção. Era o arbítrio. Eu mesmo senti na pele a dor crucial dessa época (....). Pendurado num pau de arara, sem água, sem luz e sem pão, eu não podia dizer muito porque nunca tinha atentado contra ninguém, minha única arma era a palavra escrita e falada, porque eu era bom de dialética e sabia ocupar meu espaço denunciando, reclamando, pedindo por eleições diretas e o fim das insanidades palaciais. Se eu soubesse muita coisa, de qualquer maneira, confesso que jamais contaria, eu não era um alcaguete e sabia suportar pressões. (Mas apanhei muito. Várias vezes. Quase morri. (...)."
III
Silas Correa Leite, educador, jornalista comunitário e conselheiro em Direitos Humanos, começou a escrever aos 16 anos no jornal O Guarani, de Itararé-SP. Migrou para São Paulo em 1970. Formado em Direito e Geografia, é especialista em Educação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, com extensão universitária em Literatura na Comunicação na Escola de Comunicações e Artes (ECA), da Universidade de São Paulo (USP). É autor também, entre outros, de Porta-lapsos, poemas (Editora All-Print-SP), Campo de trigo com corvos, contos (Editora Design-SC), obra finalista do prêmio Telecom, Portugal, 2007, e O homem que virou cerveja: crônicas hilárias de um poeta boêmio (Giz Editorial-SP), Prêmio Valdeck Almeida de Jesus, Salvador-BA, 2009.
Seu e-book O rinoceronte de Clarice, onze ficções, cada uma com três finais, um feliz, um de tragédia e um terceiro final politicamente incorreto, por ser pioneiro, foi destaque em jornais como O Estado de S.Paulo, Diário Popular, Revista Época, Revista Ao Mestre Com Carinho e Revista Kalunga e na rede televisiva. Por ser único no gênero e o primeiro livro interativo da Rede Mundial de Computadores, foi recomendado como leitura obrigatória na disciplina Linguagem Virtual no Mestrado de Ciência da Linguagem da Universidade do Sul de Santa Catarina. Foi tema de tese de doutorado na Universidade Federal de Alagoas ("Hipertextualidade, o livro depois do livro").
Silas Correa Leite recebeu os prêmios Paulo Leminski de Contos, Ignácio Loyola Brandão de Contos; Lygia Fagundes Telles para Professor Escritor, Prêmio Biblioteca Mário de Andrade (Poesia Sobre São Paulo), Prêmio Literal (Fundação Petrobrás), Prêmio Instituto Piaget (Lisboa, Portugal/Cancioneiro Infanto-Juvenil); Prêmio Elos Clube/Comunidade Lusíada Internacional; Primeiro Salão Nacional de Causos de Pescadores (USP), Prêmio Simetria Ficções e Fantástico, Portugal (Microconto), entre outros. Tem trabalhos publicados em mais de 100 antologias e até no exterior (Antologia Multilingue de Letteratura Contemporânea, Trento, Itália; e Cristhmas Anthology, Ohio, EUA). Acaba de publicar pela Editora Pragmatha, de Porto Alegre-RS, Pirilâmpadas, poesia infanto-juvenil.
______________________________
Goto - o reino encantado do barqueiro noturno do rio ItaraRé, de Silas Correa Leite. Joinville-SC: Editora Clube de Autores, 432 págs., 2014. Site: www.clubedeautores.com.br
E-mail: poesilas@terra.com.br
_______________________________
(*) Adelto Gonçalves é doutor em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP) e autor de Os vira-latas da madrugada (Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 1981; Taubaté, Letra Selvagem, 2015), Gonzaga, um poeta do Iluminismo (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999), Barcelona brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999; São Paulo, Publisher Brasil, 2002), Bocage - o perfil perdido (Lisboa, Caminho, 2003), Tomás Antônio Gonzaga (Academia Brasileira de Letras/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2012), e Direito e Justiça em Terras dáEl-Rei na São Paulo Colonial (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2015), entre outros. E-mail: marilizadelto@uol.com.br


GR 11 (2009/2012)
O Transhumante
Ou “Versus de Montanya Mayor”
Encontrava-se no Sud-express que tinha partido de Lisboa, da Gare do Oriente no meio duma tarde tolerante e quente de Junho, num primaveril sábado e embalado sob deslavado lençol, o Transhumante adormecia rapidamente, nos beliches contíguos, Hamid-o-gordo e seboso Egípcio dizia-lhe, em mau Inglês ter como destino o Cairo a partir de Paris e um estranho sujeito, muito magro de olhar desconfiado, detrás dos redondos óculos lembrava-lhe um Trotsky ou Troll diminuto e de poucas palavras embora estivesse constantemente escrevendo numa pequena sebenta sabe-se lá o quê, disse-lhe vir do Alaska. Na escuridão do compartimento apenas os focos diminutos de luz da lanterna frontal permitem descrever ao Transhumante os acompanhantes da carruagem cama, seria essa a sua luz e companheira nos momentos noturnos e negros, na sua memória pelo Pirenéu cansado, “nos versos de Montanya Mayor”. Na Primeira noite depois de se apear na suja gare, ainda de madrugada, do Sud-express, ficou em plena floresta Atlântica e viçosa, em Elizondo, num furioso bosque onde o vento não lhe deu tréguas e o fustigou, uivando como se fosse esse o último dia da sua vida, ou antes um lobo faminto rosnando e rondando durante toda a noite, soprando sobre aquele seu pequeno e frágil refúgio , bivouac azul/negro, a cor do céu e da potente tempestade que se fez sentir durante todo dia seguinte. Nesta adiantada etapa ou quartel de vida, não deveria acreditar já, nem “por’í-além” em coincidências, mas por lado contrário ainda aumentam e em muito, as expectativas pouco mundanas dele acerca dos acontecimentos que não conseguia nem queria, plácida e pacificamente explicar, o método e o conteúdo exótico dos mesmos.
O dia terminava quente e na ligeira aragem fresca que se fazia sentir no rosto e na pele dos ombros nus, um remédio que cura e que ao mesmo tempo me saudava os sentidos como numa saudação cósmica benigna e universal, tal o poder que sentia em mim vindo e direccionado da natureza, um auspicioso bem estar oriundo e inscrito no espaço envolvente e sentido em uníssono com a mente e o corpo. A caminho da serra sentia-se cheiro a pinheiro bravo e aquele perfume a flores silvestres contagiante e inseparável da pele, de uma fragância libertadora, como uma bênção extraída da natureza comunicando aos poros o aval, a permissão de viver que todos os dias necessitava tal como um afrodisíaco, para voltar a dar vida à vida e poder continuar correndo e andando pelos trilhos da montanha aberta.
Como é próprio da sua delicada e dedicada imaginação, constroi apocalipses e maremotos em chávenas de café mais ou menos morno, a falta de explicação de certos fenómenos iliba-o de os comprovar (excepto no generoso aroma do café) e não contesta, jamais contesta o seu voluntarioso espírito acerca da veracidade crua e volátil dos factos, trata de os preservar como num cadinho para, no futuro (refere sempre "o futuro”) os desencantar num outro universo paralelo em que façam mais sentido e encaixem magicamente, como se fossem peças de um grande puzzle.
Virou-se então para trás nessa manhã, sentindo-se miserável, fitou de relance e ao longe o mar e o lugar de onde partira e onde não voltaria tão breve, pela frente um esquisso de Pirineu recortado na neblina e bem lá no alto, o qual não conhecia na sua maior parte, alto e tosco rasgado por precipícios e gargantas, tentará desafia-lo e enfrentar o medo que sente um ser solitário e só, qualquer ser nessa estranha e primeva gesta medieval, canta inconsciente e mentalmente a "Chanson de Roland" esta não lhe sai da cabeça enquanto, decidido caminha em direcção ao Mediterrâneo e ao destino final, a casa e atelier de Salvador Dali em Cadaques, na fronteira de um outro mundo. Seguidamente depara-se-lhe Urvallo ,outra aldeia e, numa típica diminuta cabana de caça, Pako e família recebem-no simpáticamente , partilharam uma generosa refeição inundada ao bom vinho da região, que o reabilita da noite mal dormida e insta a percorrer os quilómetros seguintes e a estugar o passo, foram divertidas e relaxadas as horas seguintes apesar da humidade constante e o céu negro, havia-se instalado nele nele a confiança, a tão necessária confiança para conseguir correr cerca de 1.100 km no menor número de dias que lhe permitiam as penas e a inclinação ciclópica do terreno montanhoso. Aí encontra um holandês, directo na sua observação e que o considerou de louco , louco por cantar em alta voz as músicas partizans, como o "Bella Ciao", que melhor e mais bela homenagem poderia ele prestar a quem lutou pela liberdade e quem se poderia considerar são, naquela interminável dança, de arvoredos e pedregulhos, pensou ainda em Saramago , no “Memorial do Convento “, ele estava sim, ”completamente louco varrido, numa terra varrida de loucura.”. Viu então outra bela aldeia Pirenaica, Burgette onde se abasteçe para mais mais alguns km.de pistas e caminhos escuros, ingremes, encontra finalmente os primeiros peregrinos de Santiago, estes inconfundíveis, alguns de aspecto medievo; poncho, cabelos compridos, chapéus de cabedal e também emoções diferentes das dele, nessa altura ainda não partilhadas por este homem pouco dado a epifanias, pelo menos até aquele momento. Chovia de novo uma chuva monótona, cortante e constante, de mãos bem assentes e em gesto de cumprimento sobre os ombros como que o protegendo de maus espíritos, estes deixaram bem vincada nas emoções e na sua memória de transhumante, alí teria de voltar uma e outra vez, como voltara já, vidas passadas e antigas, haveria de regressar todavia no futuro.
O trilho, apesar de difícil fluía sob os seus pés e pernas e perante os seus olhos ávidos de novos horizontes, demasiado cansado, sempre rumo a mais um colo e a mais outra floresta depois de um cume árido, perigoso e pedregoso, os relâmpagos não davam descanso ao caminhante, sentia nos cabelos a electricidade circundante e o cheiro a ozone, a morte iminente sob uma faísca. Mas as tempestades têm também o seu lado belo, assim foi em Mendilaz, outra aldeia que parecia saída de um conto de fdas, sob um arco-íris de cair para o lado, nada fizera prever algo tão grandioso e belo, ainda menos perante aquelas imagem da véspera e o tsunami que, embora ele ainda não soubesse, essa noite iria cair, felizmente o “fronton”,(recinto de pelota basca) semi-coberto, evitou males maiores, conseguiu dormir seco apesar do fraco carinho que a população da aldeia lhe manifestou, mas o povo basco é assim, isolado, desagrado, desconfiado embora honrado. Enfim , Ochagavia e Isaba estavam no caminho e depois da tempestade a bonança fresca, com cheiros benignos e resinosos, acompanhou-o na respiração rápida e ofegante de caminhante feliz, os esquilos saltitavam, parecia o renascimento da primavera enquanto o Col de Somport e Candanchú se aproximavam depressa, venceu o horizonte e espanta-se que as novas vistas , sejam diferentes, ao seu ponto de vista, apesar de iguais para os demais, assim progride diariamente ,tentando ver o que está por detrás do monte, por trás dos novos e iguais horizontes, dos grandes estradões antigos e gastos, antes de começarem os caminhos verdadeiramente empinados do típico Pirinéu central, permitem-lhe estes escrever mentalmente enquanto caminha rápido, como se voasse no pensamento abstrato, o tempo demasiado calmo anuncia-lhe uma nova e sempre certa tempestade de tardes quente, sempre a hora certa, imensos esquilos fugindo, alguns veados e cavalos que quase o empurram para fora da estreita via, o céu tinge-se de negro, rugindo forte , ao som das trovoadas, “Valle do Ecco” estava escrito no mapa molhado , um vale onde nem os próprios pensamentos consegue ouvir, o eco da ancestralidade e os cascos dos cavalos que deram o nome a este rude espaço. Encontra Ascencion e Angel, tornaram-se companheiros de caminhada mas apenas por algumas horas, repartem com ele batatas cozidas mas logo ficam para trás, apesar dos angélicos nomes destes, Angel e Ascencion, não os enquadra com o local onde os encontrou, Valle do Erro (vale dos Cavalo), seria engano, estaria errado de novo, pensou que não, não como em 2007 quando se tinha perdido ali mesmo, apenas um desacertado encontro com Anjos numa floresta de druidas e magos, mais tarde logo haveria de pensar nesses estranhos acontecimentos. De novo alcança protecção, na escuridão de Isaba e pela terceira noite adormece apesar de fortes dores num pé torcido de quando caiu de uma ravina sobre um colchão de folhas podres, foi a mochila que felizmente amparou a queda, depois disso, ainda não tinha dado uma centena de passos viu (ou pensou ver) o que lhe pareceu ser “S. Miguel,” na porta de um mosteiro do século doze,como uma miragem, um aconchego para a alma apesar de não crente apesar de ter sido ele o único que tinha conseguido eventualmente ver este S.Miguel em doze séculos de caminhadas e caminhantes mas foi um sopro de esperança que sentiu na realização da difícil etapa e no na suposta finalização do percurso, coxeando muito, arrastava o corpo cansado em direcção de Zuriza e Águas Tuertas, local já bem conhecido de outras incursões, depois e porventura acabaria chegando a Candanchú, Coll du Somport, quase doze horas de marcha árdua e dura, mas pensava conseguir chegar, estava bastante animado, acordou ainda noite fechada,tinha de esticar o passo em direcção ao desfecho, iria percorrer um terreno muito mais difícil de montanha, com trilhos pouco definidos e sem mapa, já que, quando partiu de Irun, não pensava chegar tão longe, talvez, imaginava ele desistisse antes e a neve que sabia previamente existir aqui em altitude e fora de época, pendurada nos picos de Penha Forca não o deixasse progredir, agora incomodava-o, teria de atravessar com ténis de correr , uma zona de progressão mais técnica e difícil. Encontra então o derradeiro Miguel em carne osso e pele, quem sabe talvez o S. Miguel da porta da Igreja do século doze (,aquela figura dúbia que apenas a ele ,doze séculos depois do carpinteiro a talhar lhe parecia mostrar o S.Miguel estilizado na porta de madeira velha), Miguel nunca tinha pisado a Montanha tão seriamente , condutor de autocarro, resolveu uma semana antes atravessar esta rota ,assim e sem mais , nem menos… mas foi graças ao apoio mútuo que chegaram ao coll du Somport,Candanchu, Miguel continua e porventura continuará ainda caminhando, entre os caminhos dos peregrinos e outros, nos “Versus da Montanya Mayor” em busca de outros viajantes solitários ou em perigo, pensa o transhumante, ele regressará de novo em outros dias de outros Junhos , noutro tempo ( por sinal este ano de 2010 a 6 de Junho),na tentativa de chegar a Andorra ,até ao Mediterrâneo em 2011 ou 2012, e mais além….Talvez, ( porque não Istambul ?)
Jorge Santos/Transhumante
05/2010
O Silêncio do Nada
2ª etapa (Coast to Coast) Atlântico /Mediterrâneo
3 dias (Canfran/Viadós)
O dia estava morno e ventoso enquanto calcorreava as escadinhas de Alfama em Lisboa, era fim do dia, despediu-se da Phyllis, a sua companheira o do filho no Museu da água, um táxi levou-o ao aeroporto, opção que se revelaria incómoda, apesar da rapidez deste meio de transporte em relação ao autocarro habitual ou ao Sud-Express (Lisboa /Madrid costumava demorar cerca de nove ou doze horas horas dependendo da opção). Estava animado pelo sucesso do ano anterior, tinha percorrido 250 km em quatro dias e meio, ainda não tinha recuperado completamente do pé torcido (talvez nunca recuperasse), mas nada o detinha na tentativa de atravessar do Atlântico ao Mediterrâneo, desta vez começaria em Canfran, perto de Candanchú, (Coll du Somport) onde tinha finalizado em 2009, Canfranc era uma linda estação de caminho de ferro, monumento de outras épocas mas tristemente abandonada junto á fronteira com a França, esperava ainda os comboios que não mais chegariam, por estúpidos motivos políticos, eram 13:27, hora de almoçar numa pequena e antiga taberna e lançar-se montanha dentro apesar da chuva forte e da neve em quantidades recordes nas portelas e cumes, percorreria 18 km até ao anoitecer em Salent Galego, ao chegar a Fuerte Col de ladrones, uma pequena fortificação de portagem medieval, já está encharcado até aos ossos e tremendo de frio, sob a pouca roupa que tinha consigo, afinal era verão e tinha de carregar o mínimo de peso para conseguir alguma velocidade num terreno tão inclinado como era aquele com passagens pelos 2.500 metros e desníveis consideráveis, o xisto cinzento parecia fazer crescer um céu tormentoso quando chegou a Formigal, uma Dantesca estancia de ski, teve de apressar-se ao sentir os típicos sinais de resfriado provocados pela neve e gelo e o esgotamento dos cerca de 20 km feitos numa única tarde, quando chega finalmente a Salent Galego entra na primeira porta e nem negoceia o preço da noite, tinha pressa de secar e dormir, a última noitada tinha-se passado esperando transporte no terminal rodoviário de Zaragoza, dando voltas à enorme estação para conseguir manter-se acordado, sabia que todo o perímetro demorava uma hora a completar, em passos lentos e foi assim contando as horas de uma noite difícil, mas era preferível ao acordar sem nada, roubado como já tinha acontecido fazia tempo num jardim de Sevilha, tinha então dezasseis ou dezoito anos e fugido de casa na tentativa de conhecer o mundo para além da Europa, tentou passar furtivamente para Àfrica, felizmente não tinha conseguido fugir ás autoridades que o devolveram a casa dos pais.
De manhã acordou pelas 7 horas, mas sai do hotel às 8 horas em ponto, com um céu limpo espelhando-se na barragem de Sallent a caminho de Panticosa, fê-lo pelo caminho mais fácil, tinha-se informado previamente da viabilidade de outro percurso mas a neve continuava intransponível, além disso este estradão ia directo até ao balneário de Panticosa, outra aberração Pirenaica, uma estação Termal cinco estrelas inaugurada e logo abandonada, este atalho permite-lhe aumentar substancialmente a velocidade média do percurso por ser feito numa estrada e não num caminho sinuoso e difícil como a maior parte das etapas. Olha para o relógio, eram 11 horas e estava já em Panticosa, percorrera 20 km em 3 horas e esteve animado nos restantes 17 km até Bujaruelo onde chegou pelas 5 horas da tarde,a tempo da primeira refeição do dia e recuperar fôlego para os próximos 18 km até ao Parque natural de Ordesa (Cabana Suaso). Pela primeira vez encontra uma alma viva neste trilho, assusta-o o rastilhar do mato, era um corredor de longa distância que aparece repentinamente, ia na mesma direcção e mais tarde protagonizaria com ele o abandono do GR, depois de se perderem juntos em Goriz. Foi um longo dia, percorrera 56 km, já tinha anoitecido quando se aconchega frio e molhado na Cabana Suaso, cheia de centenas senão milhares de inofensivos ratos, no Parque Natural de Ordesa e Monte perdido, o pé voltou a resvalar numa pedra e foi dolorosamente que se arrastou as últimas centenas de metros e de novo sob chuva forte, a chuva constante e prosaica de todas as tardes Pirenaicas. Mas renova-se de energias no terceiro dia pela excelente paisagem de Canyons e florestas densas da zona, Goriz e Anisclo eram agora as metas e seria talvez no Refúgio de Pineta ou a aldeia de Parzan sua próxima meta, ainda não sabia ele que chegaria a Parzan sim, mas no carro de apoio do John ,o incontornável corredor de montanha que o ajuda a chegar ao final desse dia depois de se perderem e reencontrarem.
O trilho escondeu-se sob a erva muito alto, (de novo devido à meteorologia extrema do último inverno) as confortáveis marcas brancas e vermelhas desapareceram, esperando por ele mais à frente estava John, o referido colega de percurso que lhe fazia lembrar uma lebre sendo ele a tartaruga, o outro corria, e ele com algum peso às costas (além da idade que o ameaçava apesar de ser todavia Transhumante convicto) tentando deslocar-se o mais rápido que podia.
Foram horas que passaram na busca do trilho e de “Fuen Blanca”um manancial que indicaria ser por ali o trilho que desceria pela vertente, não podiam inventar, só aquele trilho os levaria ao vale e acenderia depois ao colado Anisclo, uma das subidas mais íngremes de toda a viagem.
Foi decepcionado que o Transhumante desiste do projecto pelo qual esperou um ano, saíndo do percurso, alcançá-lo de novo implicava um dia de marcha e as condições anímicas não eram as melhores nessa altura para lhe permitirem retomar o caminho. Baixa para a aldeia de Nerin onde felizmente o aguarda John e o transporte que o coloca de novo na continuação da marcha, desta vez mais à frente, na pequena aldeia de Parzan, a poucos quilómetros do túnel de Bielsa, pensa que talvez assim consiga chegar a Benasques , abandonada de vez a vontade de alcançar Andorra. O Aneto, próximo de Benasques marcava a metade do percurso Gr11, costa a costa e seria suficiente neste ano ,regressaria mais tarde onde se tinha perdido para averiguar melhor, por agora estava conformado e cansado,terminou o dia com uma derrota de portugal face a Espanha no Mundial da África do Sul de 2010 e jantando na única taberna da Localidade, servido por uma imigrante do Brasil enquanto vêm o futebol final da taça do mundo, ironias do destino.
Tem 40 km para percorrer, o pé inchado dificulta-lhe a marcha, de novo Jonh passa a correr e despedem-se:-até Benasques, Pensam encontra-se novamente no final mas não conseguiria lá chegar, ao meio da tarde e feitos apenas 20 km, desiste na cabana “refúgio de de Viadós”, consegue boleia na aldeia de Plan, haveria de voltar de novo no ano seguinte, esperava ele , e com melhores condições atmosféricas, talvez com menos neve nos cumes e menos chuva nas tardes curtas.
Recorda-se do ano anterior(2009) e do Miguel ,o Santo Miguel do convento do século XII ? ou simplesmente um condutor de autocarro, este ano tinha comparecido diante dele um Deus alado, O Mercúrio determinado e com asas nos pés ,qual seria no ano seguinte o personagem que o acompanharia, tinha curiosidade em saber e doze meses para melhorar do entorse ,talvez não fosse má ideia usar botas na próxima vez, em lugar dos usados ténis , apesar destas lhe diminuírem consideravelmente a velocidade.
Em Ainsa ,depois de Plan ,apanha uma outra boleia boleia (fazia-o recuar aos tempos em que viajava de boleia pela Europa) desta vez deixa-o na estação de autocarros na cidade de Barbastro, com destino a Saragoça , Madrid e Lisboa, soube-lhe a pouco os três dias e meio no silêncio do nada (120 km) e depois aquela interminável viagem de autocarro de 900 km, mas sabe que regressará no ano seguinte, por agora resta-lhe voltar a Burgos para finalizar de bicicleta o “caminho de Santiago” a Finisterra, 600 km de trilho e ele ainda pode pedalar,o movimento dos pedais não o incomoda demasiado,como treino tentará fazer a estrada mais longa do país - N2 com cerca de 800 km de Faro a Chaves ou ao Cantábrico,tão distante para alguns mas tão perto para ele, pensa no seu amigo Idílio,( http://bacalhaudebicicletacomtodos.blogspot.com ) a pedalar do pólo Norte ao pólo sul e como gostaria de o acompanhar ou talvez não,está tão habituado a estar só que encara como natural esse estado,esse silencio…esse nada…
Jorge santos
http://namastibetphoto.blogspot.com
Junho de 2010
Transhumante Parte 3 (Diário de um Louco)
Os primeiros orvalhos do Outono já se faziam sentir nas planícies madrugadas de Espanha e vestiam-se de ruivo nas espigas e nas vistas da janela do comboio/Hotel Lusitânia. O Transhumante despertava de uma noite mal dormida em solavancos e guinadas para mais uma etapa nos Pirenéus, depois de chegar a Madrid ainda teria de percorrer outras estações e outros comboios mais modernos e rápidos que o levariam até onde tinha terminado no ano anterior, em Ainsa, S. Joan de Plan/Biadós.
Um táxi colectivo despejou-o já noite, no fim da estrada de alcatrão que tão bem conhecera no ano anterior (2010), sabia a distância que iria percorrer a pé até ao refúgio, (cerca de vinte quilómetros) mas não se estaria aberto dada a proximidade do inverno e, para aumentar a incerteza não tinha comida para essa noite nem tinha alimentos para se lançar nos caminhos costa a costa do GR 11.
Ainda ponderava na lucidez do seu estado mental e no que o levava a fazer este disparate de atravessar os Pirenéus do Atlântico ao Mediterrâneo quando as luzes de um veículo-todo-terreno iluminam a estrada, iam na mesma direcção e tinham uma valiosa informação – O refúgio estava aberto -já tinha transporte e também onde “senar” e dormir nessa noite, começara bem esta aventura de loucos.
Acordou “com as galinhas”, mal se avistava já os caminhos ténues da montanha mas felizmente o bom tempo presenteava ainda um doce fim de Setembro que mais parecia primavera e nas pernas do Trashumante, as primeiras horas decorreram gloriosas, corria como um louco, esquecera tudo quanto deixara para trás, respirava o silêncio do nada numa terra inundada de loucura.
Recordava as manhãs longínquas de quando iniciou dois anos antes em Irun esta rota e lhe parecia estar tão distante do final, no Mediterrâneo em Cap de Creus, mas afinal já tinha feito metade, estava agora percorrendo a parte média ou central, mas também a zona mais alta da cordilheira Pirenaica, onde as tempestades poderiam ser mais perigosas e as etapas mais dolorosas com desníveis consideráveis(entre os 900 e os 2.700 metros).
Conhecia grande parte destes lagos de montanha e parques naturais paradisíacos, melhor que o resto da cordilheira, mas durante todos os anos que deambulou por aqui, nunca imaginara que pudesse passar um dia correndo de Norte a Sul ainda menos como lobo ou urso solitário, quase sem roupa para mudar, sem comida para as jornadas nem apoio logístico ou mesmo transporte próprio para fazer, depois de terminadas as jornadas, os 1.100 km que separavam a montanha, do conforto da casa e da família, da normalidade.
Era uma rematada loucura estar correndo os 800 km da rota Pirenaica não sendo um habitante local, habituado e melhor conhecedor da região, para estes bastaram sete dias, como lhe disseram ser o “record” da travessia, mesmo assim estava determinado a usar apenas 12 /13 dias, talvez poucos o conseguissem.
Na porta do refúgio de Estós, num papel escrito à pressa, dizia que o guarda voltaria próximo do meio-dia e meia hora, tentaria almoçar mais tarde, apesar do estômago já o avisar, esperava não perder o trilho ou perderia também a refeição do dia.
Quando descia o interminável valle de Estos interrogou uma família de camponeses locais que se encontravam colhendo “setas” (cogumelos), perguntou se estaria na direcção certa para Andorra e mais uma vez ficou desassossegado perante a resposta, segundo eles estaria completamente fora de rota e era uma loucura aventurar-se assim em distâncias tão absurdas e sem saber onde estava nem por onde ir, diziam eles que Gr 11 eram todos os GR’S, pois todos tinham o mesmo nome GR 11.1, GR 11.2 etc.
Revelou-se mais uma vez ser desnecessário pedir informações a quem não entendesse as razões de outros para quebrar as próprias peias mentais.
A meio da tarde um oportuno “camping” ainda aberto nesta época, junto da estrada principal que conduz a França pelo túnel de Bielsa, proporciona-lhe a tão desejada refeição com cerveja para pacificar a sede, já se faziam notar no céu as nuvens negras da trovoada que aí vinha.
Um estradão largo e monótono condu-lo durante toda a tarde a uma portela que tardava em chegar até que, pelas 17 horas encontra duas jovens moças, Ivone e Elena a porta de um refúgio não guardado, acompanham-no e ajudam-se mutuamente a superar o medo da tempestade e dos sonhos em que um urso dourado, o devora devagar até de madrugada.
Tal como noutra etapa em que Miguel, o S. Miguel “da porta do convento”, foi um considerável apoio depois de um pé torcido, aqui Ivone e Elena, tiveram também um efeito reconfortante perante uma noite feita dia com os “flashes” de tantos e tantos relâmpagos apenas com um mero segundo entre a luz e o som, nos intervalos via aparecer perfilados “hobbits“ ,”brujas” e outras personagens surreais.
O dia seguinte ainda seria mais alucinante que a noite, o ar estava límpido como sempre fica na bonança depois da alguma tempestade e a correria pelo monte abaixo embriagava-o, o vento fustigava-o no rosto transpirado e continuava a correr indiferentes às dores nos joelhos, as bolhas nos pés, ao cansaço de todos os músculos, alguns até que nem ele sonhava existirem.
A meteorologia adiantava neve para os próximos dias em cotas acima de 2.500 metros e ele tinha de ser rápido pois apenas teria o dia seguinte para chegar o mais próximo possível de Andorra.
Tentou alcançar o refúgio de Colomers, já seu conhecido mas em vão, ao chegar a “Restanca”, de novo os guardas do refúgio o tentam convencer do perigo grande que é continuar, de noite e sob a tão terrível tempestade regressada novamente durante a tarde e num caminho mal balizado nessa zona. Ele convence-se a deixa-se ficar perante uma promessa de jantar, cama seca e do primeiro banho em muitos dias.
Mais uma vez acorda com pesadelos, noite cerrada, para tentar fazer render o último dia antes do nevão, das pistas de montanha ficarem tapadas pela neve. Surpreende-se da forma física que tem aumentado desde que chegou e vontade anímica de correr por entre os caminhos tortos dentro do parque de Saint-Maurici/Encantats.
Chega a Espot ainda cedo, resolvido a não continuar mais além, o céu prometia neve mas sentia a sensação “Dulce” de dever cumprido. Andorra era já ali ao virar, no total das 3 etapas tinha percorrido 2/3 dos 840 km que separavam o Atlântico do Mediterrâneo pelo trilho do Gr 11, recomeçaria no próximo ano por Esterri D’Aneu, agora já por Barcelona/Manresa, mas de avião, a viagem de 24 horas comboio/autocarro para superar os 1.100 km entre casa e o objectivo era mais cansativa que a travessia da montanha grande.
Tinha um sonho por realizar entretanto, pedalar 13.000 km de Xi’na a Istambul por entre etapas e alucinações, desertos e visões de outros mundos mais ou menos paralelos.
http://joel-matos.blogspot.com
Jorge Santos (09/2011)
Fantasmas e javalis ou um poema de longo curso
Dormira acarinhado pela noite amena, ali próximo, a poucos quilómetros de Andorra, agora era acordado pelos grunhidos dos Javalis, o Transhumante assustou-se ainda um pouco mas não demorou muito a lembrar-se onde estava; voltara ao GR 11 para tentar terminar o que começara quatro anos antes, no ano de 2009, em Irun .
Dava agora mais valor que há anos atrás às pequenas ocorrências diárias, talvez a falta de acontecimentos o fizesse valorizar mais os sons os cheiros ou os encontros casuais com os escassos caminhantes ou montanhistas.
Actualmente encontrava-se no Vale de Madriu, muito perto de Andorra e à sua volta os javalis esforçavam-se por manter o terreno chafurdado como era seu hábito.
Demorara cerca de cinco horas desde a partida de Lisboa em avião, fez escala em Barcelona na manhã quente de sábado,15 de Setembro de 2012 e ainda fazia calor apesar de cair a tarde, estava um calor abafado e sem vento quando chegou a Andorra de Autocarro, tempo apenas de comer no primeiro bar de comida rápida, ainda tentou recomeçar onde tinha finalizado em 2011,em La Guingueta D’Aneu, mas em vão, o próximo bus apenas seria na segunda-feira, dois dias depois.
As grandes cidades não lhe despertavam muito interesse, mesmo aquela magnífica “Babel” com as torres de Gaudi.
Lembrava-se bem do vale de Madriu, isso sim, já tinha passado por aqui com um amigo o J.J. Portela há bastantes anos atrás, mas ainda se recordava d’alguns pormenores do percurso, onde tinha tirado uma ou outra fotografia, dos lugares e fontes onde bebera uma boa água, cristalina como diamante, lagoas de azul-turquesa, lembrava-se todavia das montanhas que não mudam muito, mudam-nos a nós…e muito essencialmente por de dentro.
Uns grupos de escaladores Catalões (pareciam escaladores pelo aspecto) na cabana “dels esparvers” recomendam-lhe de uma forma pouco simpática que procure outro refúgio pois aquele encontra-se lotado, a resposta foi igualmente fria e este disse-lhes que não precisava de tecto para dormir, qualquer recanto da floresta seria a sua casa nos próximos dias.
Perguntaram-lhe o que estava fazendo ao que o Transhumante respondeu que tencionava acabar o GR 11 em quinze dias; a resposta foram gargalhadas, pois que isso não era possível já que o ídolo da Catalunha e quiçá mundial e amigo pessoal destes, Kilian Jornet o havia feito em sete dias e os quinze, seria até mesmo assim impensável, até para um fantasma e os Pirenéus estavam pejados deles…de fantamas e intrujões.
Ficaram mais aliviados quando lhes disse que todos estes Quilómetros, os estava fazendo mas em suaves etapas anuais.
Era noite quando alcança finalmente o refugi Engorg’s e acende uma fogueira, cerra a porta e deixa-se adormecer pela segunda noite na montanha alta.
Mais uma manhã magnífica fá-lo lembrar que o tempo estável em montanha não pode durar muito, sabe que em breve terá borrasca e ele está demasiado exposto aos elementos e sem qualquer apoio para menosprezar a segurança.
Pernoita no enorme mosteiro do vale de Núria, chega muito tarde e cansado ao meio de muitos turistas que o miram de alto abaixo, tinham subido no trem de cremalheira desde Queralbs, estavam limpos e perfumados ao contrário dele, mas o banho merecido limpa-lhe a alma e é um novo Transhumante que se faz ao caminho na manhã seguinte por um caminho denominado “via dos engenheiros” onde o perigo espreita bem lá no fundo da falésia, tinha de não olhar para baixo.
Nesse dia um sol admirável e uma madrugada mansa, limpam-lhe a mente e o caminho até Malnu (onde viveu Kilian Jonet) alcança Puigcerdá mas não consegue chegar até planoles nesse dia, planeava dormir num camping aí existente mas de novo encontra lugar entre os seus amigos javalis no Bivoac “azul – cor-de-tempestade” mas numa benévola floresta de pinheiros e acácias recordava-se do trajecto de outros anos e das tempestades nesta serrania que podem assustar o mais arrojado dos homens e mesmo os Transhumantes não estão a salvo dos fantasmas do medo.
No dia seguinte, entre Dorria e Planoles mais um encontro, desta vez com um caminhante sobrecarregado, pergunta-lhe o Transhumante da razão de ir tão pesado; a resposta foi imprevista, disse-lhe que iria passar muitos meses na montanha fazendo o percurso inverso dele, começara em Cap-de-Creus e iria terminar não em Irun mas noutro lugar da península Ibérica , talvez Finisterra ,ou Núxia através do Caminho de Santiago francês ou mesmo Lisboa ou Faro, perguntou ao Transhumante qual a sua opinião sobre o melhor percurso, este disse-lhe que pelas Astúrias, o chamado “Camiño del Norte”, seria uma melhor opção pela a beleza da paisagem embora de inverno fosse de muito difícil progressão devido à neve e nevoeiros intensos.
Depois de Almoçar bem em Planoles num bom restaurante ( o referido camping estava fechando)ainda consegue alcançar Núria no fim de dia, corre atrás do sol que teima em esconder-se por detrás dele e projecta uma sombra de onde não consegue sair por mais que corra, e que suba naquele horizonte árido e maravilhoso, estava junto ao ponto mais alto da catalunha “o Puigmal” ,o ponto mais elevado do, possível mente mais jovem país do mundo,”A Catalónia” ou Catalunha. Para os “amigos”.
Distingue-se ao longe uma primeira grande massa escura de nuvens, como que atraídas por ele, espectros negros que o perseguem vindos de outras épocas de guerras civis, Hemigway’s e contrabandistas.
Para o trasnhumante, assim como para os fantasmas não havia fronteiras nem parerdes, a vida fluía e era como um poema de longos discursos com ele mesmo…e com os emboçados fantasmas.
Ao fim da manhã estava em Setcases com os sinais de tempestade mais próximos, mais tarde resolve sentar-se com os velhos e velhas na taberna da aldeia, conversam sobre rituais antigos e praticas de transumância há muito abandonadas mas que não esquecem pela liberdade que usufruíam na montanha.
Dizem – lhe também ser muito perigoso continuar naquelas condições, contam-lhe do ultimo inverno em que morreram de frio num mesmo local onze alpinistas no mesmo percurso que ele iria iniciar, ainda tenta durante a tarde continuar, mas regressa à cavaqueira de café a as historias da transumância até cair de cansaço numa cama de “hostal” no virar da esquina
Foi calorosa a separação, com os velhos transumantes que de manhã cedo estavam pousados no mesmo sítio no mesmo sonho e começa, já em passo de corrida o que até aí tinha feito em passo rápido, confiava mais no pé direito que tinha torcido um ano antes e muitas vezes torcia com dores terríveis mesmo enquanto corria ou andava simplesmente a pé, depressa chega a aldeia de molló.
Depois foi Beget com uma linda igreja Românica e Albanyá foi o próximo ponto de passagem com Sant Aniol d’aguja no centro de uma vegetação tropical e uma humidade de cem por cento, de perder o fõlego, mas recupera-o depressa a poucos quilómetros de Albanyá, na vertiginosa descida duma interminável estrada de cimento, é quando vê pela primeira vez o Mediterrâneo, pondera ainda se não terá chegado a hora de terminar aquele sofrimento físico, segredam-lhe de manso no ouvido para continuar mas ele inutilmente mira sobre o ombro tentando ver sombra ou espectro mas nada, apenas a floresta, agora bem mais seca e amarelada pelo inicio de Outono.
Almoçou na casa de um camponês que escrevera na porta em letras toscas “servimos bebidas e refeições”,
Regara bastante bem a “botifarra,” o feijão branco e a salsa com um bom vinho caseiro, sentia-se tonto quando passou por ele,pouco depois um casal de ciclistas (faziam o percurso contrário tentando chegar a Irun num percurso por vezes paralelo quando não o mesmo, mas mais propício para bicicletas de todo o terreno ) perguntam-lhe se estava bem , sim; respondeu :
-estava melhor que nunca e continuou sorrindo de satisfação enquanto se afastava cambaleando em direcção ao “mar-do-outro-lado”.
Era tarde de quinta-feira e o voo de regresso seria no domingo seguinte, bem cedo; havia que fazer concessões e em boa hora o pensou porque uma boleia para Lançá o deixa mais confortavelmente próximo de Cap-de-creus e do destino, do ponto de encontro com os ancestrais que o perseguiam desde Irun, desde que começou caminhando no mar-de-cima.
Compreende agora por que razão este foi o ponto de encontro escolhido, a paisagem é torcida e retorcida, esburacada até, pelos ventos e marés, criando uma súbita catarse de estilos e sentidos que não tem igual no mundo,
Lembrou-se de uma frase de Platão, “só os mortos conhecem o fim do mundo” e aqui parecia-lhe o mundo do fim do mundo e perguntou-se: -“se não estaria morto”.
Em Port-de-La-Selva conheceu um simpático casal que o acompanhou, falavam demais e interromperam as conversas que vinha fazendo consigo mesmo, ao longo do caminho todo desde Irun,
Sentia-se incomodado mas deixou correr os acontecimentos, afinal era assim que decidira viver, como Trashumante, ao sabor do ar e das torrentes do tempo, domando criaturas e paisagens. Umas mais rústicas e pacatas e outras mais céleres e aladas como aves gritantes.
Foi um individuo aliviado que chegou finalmente a Creus e a Cadaqués a povoação escolhida por Dali, Picasso, Gaudi e muitos outros para tertúlias sazonais.
Sentia pouco profundo, o apenas ter feito um trilho comprido, nada mais, apenas um comprido e inestético poema sem métrica.
Os fantasmas não compareceram ao encontro, ficaram pelos montes com medo da “tramutana” (vento norte desta latitude que afasta as tempestades vindas do Pirinéu Catalão) esperava senti-los mais próximos da pele noutro continente, em Xi’an, quando iniciasse a rota da seda em bicicleta ou talvez nas tempestades de areia do deserto do taklamakan, que costumam soterrar estradas, caminhos e viajantes oportunistas.
Provavelmente o Transhumante ficaria nos Pirenéus e regressaria de novo a Irun ou Hendaye pelo mesmo trilho mas agora a sós, não me agradava a ideia de voltar a percorrer com ele outra e outra vez o mesmo cenário os mesmos calhaus e precipícios e os mesmos sonhos extintos.
Prestou ali mesmo, no farol do cabo de Creus, homenagem aos homens que conduziam o gado dos pontos mais altos dos Pirenéus no inverno até as planícies da erva, “os Transumantes “, A transumância foi uma prática há muito finda, para dar lugar a uma mera indústria turística que flagela as encostas desta soberba serrania com um excesso de pistas de esqui e uma paisagem lunar de dar medo até a um Transhumante, como tinha orgulho em se considerar …( EU TE SAÚDO TRANSHUMANTE )
Jorge Santos
(Setembro 2012)
https://namastibet.wordpress.com
Joel Matos
Jorge Santos (Namastibet)

A sua luminosidade me invade,
O seu amor me desperta.
Sinto vibrar as cordas do Universo:
Em cada olhar de criança,
Na música,
Em cada poema.
Há 'aleluias' nas mãos que buscam
repetir os seus gestos:
Mãos que curam,
Protegem,
Libertam,
Que resistem à falsa órdem.
A sua voz ressoa nas bocas que
Dizem "não" às injustiças,
Que militam pela humanidade,
Falando por aqueles que não podem.
Bem como, nas bocas daqueles que
se comprometem com a complexidade
Das variadas verdades que existem.
─ Bem-aventurados aqueles
que plantam esperança,
Pois eles beberão
do vinho o contentamento e
comerão o pão da bonança.
─ Igualmente bem-aventurados
aqueles, cujas bocas cheias de amor,
beijam, e cujos corpos, vivificados pelo desejo,
amam como quem apascenta rebanhos.
As suas taças, de cristal e ágata,
jamais se esvaziarão!
Cristo me inquieta!
Suas palavras fazem sentido
dentro das minhas células.
Eis a minha prece:
─ Amado, eu não sou fora de ti,
Vivo e morro por ti,
Com maior volúpia e paixão
que os amantes mais febrís!
Vejo, pelos olhos do Cristo,
Erguer-se em busca de sol,
Por entre os espinheiros da descrença,
Frágeis plantas que serão,
Um dia, árvores de harmonia e de resiliência.
Alimento tudo o que quer crescer!
Vejo também os animais livres:
Os pássaros cantando felizes,
Cães, gatos bois, coelhos,
carneiros, onças, peixes, perdizes...
Tudo o que vive celebra
O fim da era de sangue e violência.
Vejo os homens, com amor,
Semeando a terra que, agradecida,
Oferta a si mesma
por meio dos elementos/alimentos
que a representam.
Não sei bem explicar como é isso,
Mas estou certa de que é o Cristo,
É ele! A Letra Bendita que
escreveu o mundo.
É ele! Comandando ritos,
Despertando no meu abissal
mitos antigos.
Estou pronta para o Juízo,
Que não é o Final, mas,
prelúdio, promessa, (re)início.
Observo a tudo isso sem medo:
Assombro e deslumbramento.
Compreendo que
Não existe morte e nem vida isolados,
Existem apenas momentos:
Em alguns morremos,
Noutros vivemos,
Tudo em fluxos (des)contínuos.
A semente de Deus está em nós,
Prenhe de eternidade,
Buscando metamorfoses
Ad infinitum...

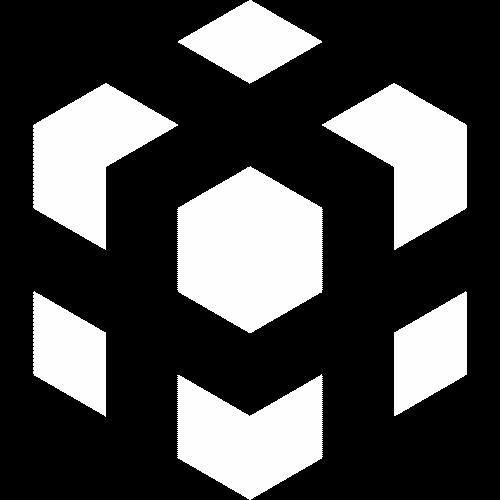
Dedicado aos professores: [Prof. Juarez [in memoriam]; Prof. Walmir; Prof. Ribinha; e Profa. Bibi - Bacabal [MA]]
Pouco passava da quarta hora quando o desventurado ponto, a reta e o plano, elementos primitivos desprovidos de qualquer diferencial entre dois quadrados ou dos quadrados perfeitos, jungidos ao caráter abstrato e geométrico das figuras planas, com seus pontos pertencentes a um mesmo plano, totalmente contidas na superfície do tampo, e as não-planas dos cilindros soltando o cone nas esferas, além dos sólidos geométricos [os corpos redondos, os prismas e as pirâmides] arquitetara um misterioso plano de multiplicação, firmara um sistema sólido de agrupamento em adição ao sistema de numeração romano. para conquistar Alfa, Beta e Gama. Uma verdadeira equação de primeiro grau sem divisão ou subtração, com quatro incógnitas entre minuendos e subtraendos, e de resto igual para um só enigma.
Com um firme propósito e a ideia fixa de medida calcular quantas vezes caberia uma quantidade de incógnitas em outra, além de calcular as possibilidades de toda a potência de base para um só enigma, tidas sem expressão numérica mesmo privadas ao acesso da sequência numérica como de outros sistemas de numeração das manobras do grupo, tendo em mãos todos os divisores de um numero natural tal como alguns dados sobre o provável máximo divisor comum [m.d.c.], as notáveis retas concorrentes a semirreta, o segmento e as linhas paralelas em coautoria com a Régua T, o transferidor e o esquelético aberto do compasso naquela de organizar dados do evento em tabela de dupla entrada sob a proteção do ângulo reto o agudo e do obtuso, entre frações e operações tentara decifrar a todo custo um meio terços de um décimo de centésimo e dos doze avos os treze avos das incógnitas aparentes, contudo, todavia, resultou o desafio em números inteiros o fracasso do valor desconhecido.
Figura proativa, embora sem qualquer critério, noção de estética, beleza ou harmonia dos retângulos áureos, muito menos de Euclides, Diofante, Mohammed ibu-Musa AL-Khowarizmi, François Viéte e outros mais, ainda assim correndo à boca pequena que este as conhecia de outras re-recalculadas algebrista e que podia com grande talento pôr em prática as suas habilidades de exímio rei do disfarce em linhas poligonais fechadas e simples com sua região interna o Polígono, pois que estes recebem de acordo com o número de lados e o número de vértices um RG do CI para o CPF especial, e assim, portanto, o abreviar do caminho através da reta tornando mais curta a distância entre dois pontos, dizível, vê-se, seria talvez a solução encontrada para equacionar as incógnitas do enigma por todos os pictogramas especulados como o número 1, 61803... Ou o number de ouro, representado pela letra "fi".
Em cada ponto continuando a porcentagem de olho nos treze por cento do resultado, outro fator igualmente interessante para o completivo de interesses além de outros gabaritos aplicando para agravar o conjunto de todos os números naturais sem o zero por N nos ímpares e pares da situação que já era pôr de mais complicada, eis que surge das entranhas dos números escondidos arredondando os números em ponto de espera o patife do polígono Dode [cágono] jogando a circunferência no ventilador do triângulo escaleno que alimentava uma paixão inflexa, quadrada e reprimida por Beta.
No vale tudo pelas rugosas gregas geométricas, quatro dias depois, pela manhã, o borra-calças do mate mágico escaleno entre horizontais e verticais barras alinhando vírgula por debaixo de vírgula inconfesso covarde sem coragem de chegar ao vetor das casas decimais angular das "divas" , cego, leigo sem ater-se a ler nem interpretar os gráficos de setores só acrescentando zeros se necessário e a anos-luz da unidade de medida, arroba, sem metro, alqueire, hectare ou qualquer medida agrária impondo uma tonelada de ultimato, sob pena de retalhar com uma arma branca os centímetros do quilate "Bráulio" do triângulo equilátero que o considerava mais do que um membro da corte com duas circunferências, um fiel grafite e companheiro de todos os dedões dos paralelepípedos, também era cubo, era aresta, era bloco retangular e pau no muro para toda obra, foi logo a todo volume de espaço ocupando por um corpo estimando de forma calculada a área ocupada pelo amigo tri ático do isóscele para que entrasse no perímetro imediatamente namorando com uma das duas outras irmãs de Beta tornando assim tudo mais fácil com a soma das medidas de todos os lados de um polígono
Litro, mililitro, decilitro? Enquanto o apótema da pirâmide totalmente sem polegada no trapézio ou qualquer medida de capacidade para lutar no conjunto vazio de cada recipiente, o nosso herói isósceles coitado além de seriamente ameaçado na incolumidade física do submúltiplo "Bráulio", temente por algo muito pior recorrendo pela proteção dos triângulos retângulo, losango e ocutângulo logo teve uma grande decepção ao descobrir que ambos os irmãos undecágano e o decágono tempos estavam de tocaia à espreita de "ficarem" na balança da bissetriz de um ângulo, prima-irmã do ângulo obtuso e do reto e agudo.
Lá fora, nos jardins, reinavam ocultos entre os senos e cosem-nos os ângulos complementares de 90 graus, os suplementares de 180 e os replementares de 360, o primeiro mais fechado, rabugento e sisudo, o segundo mais aberto feito em sorriso e o terceiro às escâncaras, mais aberto do que para quedas encarnado, uma tríade de elementos dos segmentos colineares e congruentes de um mundo matematicamente semeado de figuras, superfícies e geômetras, hipotenusas, catetos e Pitágoras, números cálculos, caos e algarismos romanos, agregados foram flagrados mui calmos, todos verdadeiros traíras, comprometidos numa outra empreitada para o polígono obtusângulo, posto que de tão sujos há mais de uma semana foram pulverizados, empurrados para fora do círculo oval pelo ângulo oposto ao vértice do contrário, e quão o ângulo consecutivo do redondamente ângulo adjacente enganado. Sem a menor prova de imaginação? Os infies disseram que se tratava de simples coincidência.
Na raiz quadrada de tudo, por sorte algo pior só não aconteceu porque Dona Geometria apareceu histrionicamente com a Diva Álgebra, e desde logo colocando ordem na casa acabou com a festa das figuras planas pelo metal polido e o narcisistas na superfície das águas, assim, portanto, contra a algazarra geral, decretou medidas de rigor aritmético e mandou somar tudo pela quantidade de todos, encontrando a média aritmética determinou coercitivas geométricas de cumprimento imediato em: comprimento; superfície; tempo; massa; capacidade; e volume, sem espetáculo passou a trena, sentou a pua, mediu com o paquímetro, e logo também pôs todos no esquadro. Pelo santo nome da Álgebra e da Dona Geometria.
Por último, finalmente, como castigo "merecido" ordenou sumariamente a todos ali presentes que fossem em ato solene aprender uma boa tabuada ajoelhados em grãos de milho, além das mãos na circunferência polida da palma tória, tudo sob a direção inflexa da dona progressão Aritmética. Detalhe? Sem qualquer "noves fora"! Ou regra de três?
Ainda bem que não foi com a dona geometria não-euclidiana que parte da negação do postulado das paralelas do geômetra grego Euclides.
Ufa! Que desafio!
Do poeta árabe do século VI. Cassida é o nome do poema: “Se os meus amigos me fugirem, muito infeliz serei, pois de mim fugirão todos os tesouros”.
A amizade que o verso exalta não existe só entre os seres dotados de vida e sentimento!
A Amizade apresenta-se, também, até nos números! “ ... Presos pelos laços da amizade matemática? ... elementos ligados pela estima? A soma de ... os números 220 e 248 são “amigos”, isto é, cada um deles parece existir para servir, alegrar, defender e honrar o outro! ”
“A matemática é, enfim, uma das verdades eternas e, como tal, produz a elevação do espírito – a mesma elevação que sentimos ao contemplar os grandes espetáculos da Natureza, através dos quais sentimos a presença de Deus, eterno e Onipotente! [O Homem que calculava] Malba Tahan – Editora Record”
Assim, movido – aqui com muita espiritualidade matemática, digamos, pela brincadeira e humor matematicamente falando com que trato as figuras e os elementos inseridos no texto, mormente pelo espírito da amizade fraterna que presto minhas homenagens e sinceros agradecimentos aos meus queridos amigos e mestres da matemática: ao professor Juarez [in memoriam] há quem muito trabalho dei nos tempos da tabuada; ao professor Walmir, ao professor Ribinha ambos pela álgebra e aritmética, e finalmente a professora Bibi pela dedicada geometria, valorosos matemáticos de Bacabal [MA], Colégio Nossa Senhora dos Anjos. Eis aqui então as quatro incógnitas e o enigma revelado.

Pequena Resenha Critica
O "K"(aos) Numinoso da "Literapura"de Vicente Franz Cecim no Livro que já Nasceu Clássico
"K, O Escuro da Semente"
"Viver vale/Um delírio"
Sergio Capparelli, in, De Lírios e
de Pães/(A partir de um provérbio chinês)
.......................................................................
Prólogo: E-mail ao editor:
Olá Nicodemos Sena - Editor da Editora LetraSelvagem
Saudações. Assustado acabei de dar uma passada em transe no livro do CECIM. Que lindeza de loucura! Nunca a leitura é só uma vez só ou inteira nele/dele? Nunca tinha lido nada perto de parecido. Vivendo e levando susto; se eu ler mil vezes o K, conhecerei todo o abecedário neural/trans-espiritual do cara? Benza-Deus como diria minha genitora. Onde já se viu isso? Tentei ir lendo e me desatando os nós das sandálias, mas ainda não foi fácil. Acho que perdi uns parafusos, atiçado e alumbrado... Esse CECIM existe mesmo ou é invenção da letra selvagem na Amazônia-brasilis-Andara? Mando texto anexo com erros e acertos de comentários sobre o baita livro, para vc ver o que acha(...) Perdoe as ligas e anelos e divagancias; pensa que é fácil? E que o K tenha piedade de nós pobres mortais comuns.
.................................
-... o impacto deste livro "K, O ESCURO DA SEMENTE" em mim - como desde antes na aturdida crítica especializada como um todo - e a técnica do contraponto, enquanto na abarcada (e proposital de feitio) dualidade "poesiaprosa", até o assustador jorro neural diferenciado do autor, Vicente Franz Cecim, já consagrado em outras obras espetaculares como único e raro no (seu) gênero que particularmente criou, como fora de série, de onde esplende sua "verborrágica" (aí se juntando verbo e mágica), loucura-lucidez, o já chamado estado "álmico" e o numinoso na mesma rapsódia, e, você, leitor, pego pelas palavras não saca assustadiço do que afinal se resta na leitura inesperada, se mergulha nesse "K" do literato, ou, se assim mesmo, literalmente resta-se também como um "koiso", no "kaos" leitural, ou se só e ainda "bebesorve" da almanau do autor nas escrituras em enlevo, provocadora, incomum porque especial, feito alucilâminas em "prosaverso", em que eu, lendo, também, por assim dizer "enloucresço". Livro que mexe com o leitor é livraço. Como é que pode isso, como é que pode assim? Livro bom é quando o leitor morre no final? Passei perto.
-... você vai, digamos, navega (nave cega a priori), depois, lê-se, vê-se, e capitula, se enleva também atraído, fisgado, abduzido, o que quer que seja a surpresa e o chique do chamamento ulterior. Como pode alguém (no humano), escrever isso, de-assim, desse jeito, assaz, na fuça, tresloucado, literalmente diferente e sem explicação, mas, estupendamente transpolar, multipan-polar, literalmente "literapura", dando com as palavras entrecortadas (e, entre, contadas), fragmentos/entre/vistas, numa vazão como magma entredentes/entrementes, alma limada (lixada?), tirando clarezas de sutilezas, cactos acesos de brutezas; tirando do "spiritual" (arrebatamento?) de si esses mantra em tons e tintas de um surrão interior, como se a nos "almar". Esse Cecim é único no mundo das ideias, das artes, da literatura singular que per/segue? Já antes elogiado por críticos de alto nível, já bem editado, até no exterior consagrado, já em continuação em sua sina sígnica, como uma espécie assim de um livro de Jó, de profecias (e profe-ceias) de Isaias, ou de Salmos contemporâneos e pós-modernos, a escrever sempre e tanto o mesmo livro - o LIVRO DE CECIM - continuando um tomo no outro e no outro, todos os livros um só, todos os livros ele mesmo em seu perene estágio de espírito; estado de semente de mostarda aos quatro ventos, aos sais de si, nas desaceleração de partículas do sal e de açucares de si, neutrinos narrativos, per-furando criações, entre pólens, ácaros, ícaros, troios até (mistura de joio e trigo), em perigritantes (perigos/gritos) a deslavar-se, enlevando-se, deste êxtase que fez e produz o poeta e literato sobre a arte como libertação/levitação. Cecim escreve como quem, ponhamos, se levita?
-... K, O ESCURO DA SERPENTE, segue a trama-tramóia-trauma metafísica da "asaserpente", transcreve o lumiar do encordoamento dos andamentos-continuações, pois a vida e a arte são isso: pesadelos customizados. Ah o adâmico horizonte agônico do ser/ente do devir. No dial quebrado de CECIM, o éter na mente é palavravável com atiço de imaginação? Tudo na sua obra é pura vidamorfose. O alfabeto humano não é humano? O homem é um erro, uma falha, uma falta de? Pois a arte é (precisa ser) o/esse preenchimento de vazios entre penumbras. Alvuras padecem rascunhos, e podem ser ranhuras de erratas elípticas. Os livros de CECIM não são deste mundo? Que mundo? Que desmundo? Ah a vox que clama no deserto dos bárbaros contando do ovo do sono, nessa sodomogomorra que ainda precisa de babeis para coroar o vazio da alma insepulta do Homo sapiens ao Homo demens, e do Homo degradandis ao homo interneticus...
-Considerando (especulando) o "K" da obra que aqui também supostamente pode ser de "Kaos", palavra de origem grega que ocorreu por volta do ano 800 AC com Hesíodo na Grécia antiga, e que era usada pelos gregos significando vasto abismo ou fenda; palavra que também alude ao estado de matéria sem forma e espaço infinito que existia antes do universo ordenado, suposto por visões cosmológico-religiosas, e, finalmente, o sentido mais usual de caos: de desordem, confusão, grande vazio ou grande amplitude, vazio primordial, podendo se pensar sobre que espécie de semente é essa, esse escuro que o autor burilando cria, entoa, evoca, ou que escuro é esse veios de sementes criativas do autor? Aliás, a bem dizer, Cecim não escreve, destila-se, destrincha-se, dilata-se. Quando escreve ao sair de si, entra (encontra) seu Nirvana? Ai de nós! Falando sério, CECIM descobre o inexistente, desdobra a regra formol, e, ao se assentar escriba, escrevendo vivifica a nosotros com seu tear de criação, afrouxa nós em entalhes e preciosidades de literatura esplendente de primeira grandeza lítero-cultural-criacional. Você entra no livro para ler o "romance"(?) de 384 páginas, e começa também a ler as entrelinhas e as linhagens dos desenhos gráficos, estéticos, pseudodispersos, vai entrando pelas beiradas e parágrafos abertos, e depois entra nos casulos de sua plantação de cenas, de cenários seus inventariando incêndios íntimos, e quando se vê não há como rotular, nem como nominar nada, você não se encontra mais, se perde de critérios e normas, nessas cantárias dele de criar o não-ser dizendo, o não-lugar aclareado, os sem nome, sem teias, num enlevo de um ser vertido para o nosso comum dizível, no entendível, no nominável enquanto prosa, enredo, ensaio, romance(?) em prosa poética, destrinche, prosa poética que seja em estrofes deitadas, vertentes e pinceladas de limonódoas, bijutelíricas, aqui e ali dando um susto no leitor que, também, perde-se de si, embarcando nessa canoa atiçada de K para ver e sentir, fluir, ver aflorar também frutos e raízes, e depois ainda (e por incrivel que pareça) não sacar exatamente o que é o ali e quando, arrebatado, sem ter um eixo exato do que é uma coisa e outra, porque, até mesmo na chamada Linha de TAO, o que não é passa a ser, o que já não existe se vê/lê, pois criado é nutrido, e o que se diz pode não ser exatamente quando, e o que se desdiz é ante-facho, arrebatamento, lume e correspondência com o que agrega o todo, formando a obra, em que o autor se dilacerou, plantou, orbitou, entre incensos, detalhes, silêncios, paradigmas, experimentações, pensagens (pensamentos mensagens), e deu a luz (bem isso) a esse livro-continuação, um livraço que já nasce clássico no gênero (que gênero?), livro lume e foz, enquanto assustador de tão rico e nobre, de seu tanto acervo de densidade em competência de zelo experimental (existencial) que seja na própria olaria de sua com-feitura. "K" é isso e muito mais. O que dizer ou tentar isso, depois de sair-se pelo menos alumbrado dessa arca de todas as palavras, todas as somas, todos os riscos e de/lírios de trânsito neural, de marco criacional, até assentar de novo no crível do plano existencial reles e trivial e comum dessa vidinha efêmera, desembarcando então dessa leitura/embarque?
A obra recheada de partituras lítero-poéticas de CECIM, quase um livro-ensaio "sagradoprofano" de bela e feliz e exuberante experimentação audaciosa e com altíssimo (em todos os sentidos) despojo lírico-espiritual-álmico todo próprio dele, feito epifanias de eulogias de gnosticismo laico, por assim dizer. Deus inventou as palavras, o dianho caído inventou os números, e os seres inferiores da casta telúrica deram de inventar a arte ousada para se sentirem cultuadores da criação que há no nominável sem prumo, no risível em sangria desatada, e no finito com aparência de divinus em perigrinanças nessa terra de Andara, Neverland, Pasárgada...
Matizes e iluminuras, derrama e esparramento de oleiro ornando sementes nidificadas, tramando poesia em prosa e contações, com anelos de temáticas em linguística muito bem barulhada e torneada. Tudo ornando livro, páginas e rumo sequencial num tabuleiro que parece labiríntico, e não é, e você segue o curso da trama, indo a navegar sem saber exatamente o que é margem, o que pode ser correnteza, o que tente a ser escoadouro, ou mesmo píer, mas sustentado pelo susto do porte da obra e então se deixa levar como um homem-árvore sendo nutrido, estra/vazando, muito além do simples e comum, seguindo as terras do bem-virá de Andara, como um leitor se escrevivendo e "escrevilendo" na alma de lã de vidro do autor, sem se desnortear das narrativas, ideias que arrebatam, falando, dizendo, feito um estado onírico de se entrar e sair estupefato com a musicalidade das letras do autor. Um reino de fantasias feito de palavras com/pensadas que agrega estrofes como ovelhas num rebanho historial. O fantástico e o inverossímil se apresentam. O inverso também, tudo pendurado nos cipós das implicâncias e reinações. E os paradoxos que se unem? O que pode parecer trevas é luz, o que parece luz é pântano escorregadio, e o que parece difícil é simpleza entre o lírico e o acabamento dele, numa atmosfera de lucidez/espírito/toleima/confeito lustral.
Do livro K e dele o autor CECIM, diz o literato da USP Adelto Gonçalves (In site Pravda/Rússia): "K O escuro da semente é mais um daqueles livros que o autor chama de "visíveis" e reúne na obra imaginária Viagem a Andara o livro invisível, que não escreve e só existe na alusão de um título. É o que o poeta denomina de "literatura-fantasma", em que foge a uma classificação formal, pois não se sabe se se trata de um romance escrito em prosa poética ou de um longo poema em prosa, mas sim de um gênero híbrido, que absorve todos, constituindo um diálogo entre Pai e Filho ou entre irmãos, como Iziel e Azael e Oniro e Orino. É também o seu primeiro livro em iconescritura, pois une imagens e palavras. De difícil leitura e definição, ao menos para aqueles leitores pouco afeitos à poesia menos convencional, o estilo de Cecim lembra a inquietação existencial de Samuel Beckett (1906-1989), Thomas Stearns Eliot (1888-1965), Ezra Pound (1885-1972) e Franz Kafka (1883-1924), passando ainda por Lautréamont (1846-1870), especialmente o de Os Cantos de Maldoror, e Zaratustra (660-583 a.C).
Tudo em CECIM adquire voz própria, rumo único, alma dilacerada ou se reconstituindo/criando seu mundo todo próprio, sua literatura toda única e especial, entre o ser marcado, o feérico, o inusitado, entre esvairados utensílios, criando pomos, pontes, tomos, diálogos, parágrafos, ramas e floresteiros, feito tudo em K, O Escuro da Semente, um achado, um achadouro. Com o suprassumo de sua alma, o autor escreve os sutras quânticos de uma obra que ao mesmo tempo que tem suas epístolas, tem suas respirações visionárias, sua drenagem de insurreição, sua peregrinação em sumulas, "nuvensfronteiras" se abrindo, sinfonias de letramentos jugulares. Leiam o livro, mergulhem nele, e nunca mais caiam em si, nunca mais caibam em si, nunca mais respeitem sextantes ou areias movediças. O tal do "céuterra" é dentro dos nós das cinzas de nós? A "Alma/zonia" é ele, dele, e em nele se reproduz em livros, assim como livrações mesmo, até nesse "serdespanto" em que afinal nos restamos todos com o que nos nutrimos de ler Vicente Franz Cecim.
-0-
Silas Corrêa Leite - Professor, Jornalista Comunitário e Conselheiro em Direitos Humanos. Ciberpoeta e blogueiro premiado, escritor membro da UBE-União Brasileira de Escritores, Autor entre outros de GUTE-GUTE, Barriga Experimental de Repertório, romance, Editora Autografia, RJ.
BOX:
K, O ESCURO DA SEMENTE
Vicente Franz Cecim, Editora LetraSelvagem, 2016 - Coleção Sabedoria -
 Escritas.org
Escritas.org